- Author, Letícia Mori
- Role, Da BBC News Brasil em São Paulo
- Twitter, @_leticiamori
A crise de saúde no território yanomami é um retrato do tamanho do desafio que o movimento indígena tem ao assumir o Ministério dos Povos Originários: lidar com violências resultantes de séculos de desumanização, diz a ativista Daiara Tukano, do povo Yepá Mahsã (conhecido como Tukano), mestre e pesquisadora em direitos humanos e uma das principais artistas indígenas da atualidade.
“É um momento muito especial, mas ao mesmo tempo é muito desafiador para o próprio movimento indígena assumir esses lugares (no Executivo) porque os movimentos sociais estão ali para questionar o Estado, para demandar políticas públicas”, reflete ela.
“É um processo muito duro de construção desses direitos civis, da compreensão de que os povos originários também são humanos e portanto também temos direitos a serem respeitados.”
Ela afirma que a forma como os indígenas sempre foram — e continuam sendo — representados na arte é parte central desse processo de desumanização que resulta em tragédias.
“O racismo é alimentado dentro de casa, na escola, nas mídias o tempo inteiro”, diz a artista, que foi destaque na 34ª Bienal de São Paulo, foi tema de mostras na Pinacoteca, no Masp e no Museu Nacional da República e agora passou a ser representada comercialmente pela galeria Millan, em São Paulo, onde inaugura neste sábado a mostra Amõ Numiã.
“Se esse racismo, essa violência continuam acontecendo no território, se essas pessoas são assassinadas, é porque a arte no livro de história, na escolinha, no museu, te diz que índio bom é índio morto ou ajoelhado diante de uma cruz”, diz Daiara em entrevista à BBC News Brasil.
A artista hoje mora em Brasília, mas nasceu em São Paulo quando sua família — do povo Yepá Mahsã, da região do alto Rio Negro, na tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Venezuela — estava na cidade para a mobilização indígena para a Assembleia Constituinte de 1987-1988.
Hospedada na capital paulista para criar obras exclusivas para sua mostra, Daiara conversou com a BBC News Brasil, entre outras coisas, sobre as narrativas femininas na cultura Tukano, o uso de ayahuasca por não indígenas, a crise yanomami e o papel dos museus no processo de colonização e genocídio dos povos das Américas.
Leia abaixo trechos selecionados da entrevista.
Crédito, Levi Fanan/Fundação Bienal de São Paulo
A obra Kahtiri Éõrõ – Espelho da Vida foi exibida na 34ª Bienal de São Paulo
BBC News Brasil – A gente tem visto mais exposições de artistas indígenas em mostras e museus que historicamente mostraram povos originários na visão do branco europeu ou a arte indígena em museus etnográficos. E agora você está sendo representada por uma galeria comercial. Como é essa relação?
Daiara Tukano – A arte tem uma importância política, ela constrói narrativas. A maneira como os povos indígenas foram representados antes mesmo de serem conhecidos… como aqueles seres dos quais não se reconhece humanidade durante tantos séculos. Você vê aquelas gravuras de 1500 mostrando indígenas como se fossem monstros demoníacos. A construção da imagem desse povo originário no imaginário serve para justificar os processos coloniais inclusive dentro da própria Europa. Serve para reforçar essas dinâmicas de violência e de poder. Esta construção está em todos os museus. Até porque o museu também nasce do processo colonial — nasce desses gabinetes de curiosidades, que é o lugar onde se colocam os troféus de guerra dos povos que foram subjugados. Essa representação faz parte do processo de genocídio contra os povos das Américas, que foram literalmente dizimados.
Então os museus são espaços a serem retomados. A gente usa muito essa palavra “retomar”. Agora todos os espaços são nossos também e a gente tem que ter muita coragem para entrar neles, porque não foram feitos para nós. Eles são cheios de armadilhas para fazer você entrar nessa onda de achar que a nossa arte é menor. Foram construídos para nos negar.
Essa imagem de que índio bom no Brasil é morto ou ajoelhado na frente da cruz já deu. Agora a gente está em pé e ninguém vai ficar tratando a gente desse jeito. A gente tem que escancarar as portas do museu, porque são espaços extremamente coloniais. A gente tem entrado nesses espaços para questionar e jogar na cara da galera, é um movimento de constrangimento. Não só no sentido de falar “olha, nossa arte tem valor”, mas de evidenciar que existe uma dinâmica de poder colonial dentro desses espaços e que isso não é mais aceito.
Foi muito esforço e muito diálogo para poder chegar nesse espaço, e chegar na galeria faz parte disso. É mostrar que nós continuamos aqui, nós somos a prova viva que essa colonização não é plena, não é completa.
Ainda tem mais de 300 culturas indígenas no Brasil, são quase 200 línguas vivas e cada cultura, cada povo, cada língua é um universo tão completo, tão complexo, tão antigo e tão legítimo como qualquer outro.
Crédito, Caio Flávio Reis Nogueira/Divulgação
Daiara Tukano é autora do maior mural urbano do mundo feito por um artista indígena, em Belo Horizonte
BBC News Brasil – Você falou das armadilhas e recentemente teve um episódio no Theatro Municipal de São Paulo em que você não conseguiu fazer o que queria. Como foi isso?
Tukano – Em 2022 a gente teve os 100 anos da Semana de Arte Moderna, que marca o modernismo no Brasil e que é um momento muito importante dentro das artes brasileiras porque é a construção da visão de um Brasil moderno sobre si mesmo. Meu trabalho, do Jaider (Esbell importante artista makuxi morto em 2021), a gente bateu muito nos modernistas, Mário de Andrade, Tarsila do Amaral — essa galera que era uma elite branca e urbana que se apropriou da figura do índio, que pegou aquilo tudo como uma espécie de fetiche exotizante.
As artes indígenas sempre foram muito apresentadas usando como referência os parâmetros do modernismo. Mas nada do que eu faço está baseado em está baseado na Tarsila do Amaral, nos Andrade. Nosso trabalho parte da nossa narrativa, de nosso povo, de nossa história, de nosso pensamento. Não parte a partir da narrativa do branco. Então tem essa questão e outras questões que o povo está começando a entender.
Eu fui convidada para participar de uma exposição que marcou a Semana de Arte Moderna no Theatro Municipal de São Paulo.
Eu cheguei naquele salão dourado, que é obsceno, porque esse ouro vem da terra indígena, esse ouro marca a história do genocídio nas Américas e na África. Até hoje a gente tem 80 mil garimpeiros na terra yanomami e outros milhares na terra munduruku, no Pará. A gente tem populações inteiras que foram devastadas pela febre do ouro, essa doença do ouro, que é a doença do branco.
Lá tinha esse quadro de um pintor neoclássico que foi pintor oficial do Estado e fez aquela cena de teatro grego, ruínas gregas, uns atores grego, um burro entediado e umas pessoas assistindo… Me convidaram para fazer uma releitura dessa tela — que tem dez metros de largura e que ocupa o teto todo. Eu falei para a curadora: se você quer que eu faça uma releitura de uma tela que tá num salão dourado, eu quero pelo menos fazer uma do mesmo tamanho. Mas o orçamento ficou muito alto, porque a sala é toda tombada, não pode encostar em nada, teria que criar uma estrutura.
Eu falei, ok, então me dá o chão, me dá uns espelhos, eu desenho nos espelhos. Mas o chão também não poderia, porque é um tapete dos irmãos Campana etc etc.
Aí eu fui lá na papelaria Kalunga, comprei um rolo de papel Kraft, estendi aquele rolo e comecei a fazer uma carta em formato de cobra. Na montagem eu pedi para colocar a carta na escadaria. Eu li e o pessoal ficou emocionado, porque era uma fala que contestava todos esses espaços de poder.
Eu fiz usando o material mais barato, mais frágil e menos valorizado naquele salão dourado. Tinha muitas obras que queriam ser celebradas e a única que não estava correndo atrás dessa glória era eu com meu papel craft e meu canetão vermelho. A cobra depois ficou pendurada em volta das outras obras e ela é tão frágil que o pessoal foi caminhando por cima e foi rasgando. O pessoal do museu tentava juntar os pedaços, mas não lia e ficava trocando as palavras de lugar. O pessoal ficava olhando para aquele dourado do salão e nem presta atenção no que está no chão — é uma uma leitura de como nós andamos num mundo mesmo. A gente não olha o que está no chão e o que está realmente globalizado hoje é o lixo.
Crédito, Levi Fanan/Fundação Bienal de São Paulo
Um das obras da série Dabacuri no Céu, exibida na 34ª Bienal de São Paulo
BBC News Brasil – Você citou os yanomami. A crise de saúde dos yanomami é uma situação que tem sido denunciada há muito tempo, mas ganhou maior repercussão com a atenção dada pelo novo governo. O que essa diferença de tratamento mostra?
Tukano – A situação é dramática desde o momento do contato. Agora estamos em um momento de virada histórica em que finalmente o Estado brasileiro não poderá mais ser omisso, pois existe um órgão do Poder Executivo que é o Ministério dos Povos Originários, não mais somente a Funai.
Até 1979 nós éramos considerados totalmente incapazes. Na Constituinte teve uma participação indígena muito expressiva. Teve a figura do Mário Juruna como o primeiro deputado indígena, teve o (cacique) Raoni, teve o Ailton (Krenak) que defendeu essa pauta ao longo dos anos 1970.
A Constituição então garantiu o direito à nossa cultura e ao nosso território, porque os dois são interdependentes. A cultura só existe por conta do território e o território só se mantém também por conta da cultura. O Estado assumiu o compromisso de demarcar os territórios, mas isso nunca foi feito. A maior parte dos territórios demarcados está na Amazônia, mas existe uma população indígena enorme no Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste que ficam de fora e até hoje sofrem esbulho.
E a disputa por terra gera uma série de violências e inegáveis e violentíssimas, terríveis. A situação de muitos povos é praticamente uma situação de guerra. Por exemplo, a situação dos Guarani Kaiowá em Mato Grosso do Sul: é quase a Faixa de Gaza do Brasil. Você tem populações enormes à beira da estrada e levando é bala cotidianamente. Há crianças e idosos, todo mundo sendo violentado constantemente.
Com a criação do Ministério dos Povos Originários, essa situação ganha uma visibilidade maior, chega mais à população. Porque tem uma ministra que dá visibilidade.
Tem outra dimensão o Estado admitir que existe, sim, um estado de calamidade pública de extrema violação dos direitos humanos que acontece secularmente no Brasil e pelo qual somos todos responsáveis.
BBC News Brasil – O que você sentiu com a mudança de governo?
Tukano – Eu fico feliz, mas ao mesmo tempo entendo que é um grande desafio porque o desmonte não é apenas de quatro anos. É um processo muito duro de construção desses direitos civis, da compreensão de que os povos originários também são humanos e portanto também temos direitos a serem respeitados e que devem ser sujeitos de políticas públicas. É muito bom a gente ter um órgão no Executivo para executar essas políticas, que têm que ser direcionadas pelo sujeitos delas que são os próprios indígenas.
É um momento muito especial, mas ao mesmo tempo é muito desafiador para o próprio movimento indígena assumir esses lugares. Porque os movimentos sociais estão ali para questionar o Estado, para demandar políticas públicas. E a partir do momento que os movimentos sociais ascendem a esse lugar de participar do governo, pode haver confusões.
Crédito, Ricardo Stuckert/Presidência da República
Em visita ao território yanomami, o presidente Lula disse que a situação é ‘desumana’
BBC News Brasil – Diante desse cenário tão grave, tem muita gente que acha que a discussão sobre arte, sobre a representação dos indígenas na cultura e sobre apropriação cultural é menos importante.
Tukano – Reconhecer a cultura, ter respeito pelas expressões culturais do mundo também nos leva a respeitar os corpos dessas pessoas e os territórios dessas pessoas — as coisas são profundamente ligadas.
Na Rádio Yandê (rádio indígena criada em 2013), a gente falou várias vezes o quão problemático e racista era o “dia do índio” na escola e também a figura do “índio” no carnaval e na televisão naqueles programas de comédia no final de semana. Falamos dos estereótipos em cima dos corpos indígenas, especialmente o da sexualização da mulher indígena, que é sempre sujeita ao abuso ou ao estupro. E isso desde a construção das primeiras alegorias românticas, da Iracema, da Moema.
O racismo é alimentado dentro de casa, na escola, nas mídias o tempo inteiro. A gente não debate política no vazio. Se esse racismo, essa violência continuam acontecendo no território, se essas pessoas são assassinadas, é porque a arte no livro de história, na escolinha do museu, te diz que índio bom é índio morto ou ajoelhado diante de uma cruz. Ainda hoje tem um monte de gente matando índio, um monte de gente achando que vai evangelizar a índio, tem missionários entrando em terra indígenas.
Essa discussão sobre a apropriação cultural é muito importante porque ela nos ajuda na desconstrução dessas narrativas e dessas práticas colonialistas que nós temos introjetadas, que faz parte de uma violência estrutural.
Se a gente não combater o racismo cultural, a gente não vai conseguir de fato combater essa violência física.
BBC News Brasil – E o que você pensa de sabedorias indígenas sendo usadas por não índios, como por exemplo o uso da ayahuasca, que é tão importante para o seu povo e diversos outros?
Tukano – Para nós, a ayahuasca é uma medicina sagrada. Tenho um amigo que explica assim: é uma medicina fitoterapêutica, um chá feito de duas plantas que você ferve durante horas e horas e faz um chá grosso. Esse chá tem DMT, que é uma substância que já tem no nosso organismo. A gente tem dois grandes impulsos de DMT na vida: quando ela começa e quando acaba. No resto do tempo tem um bloqueador. E o que esse chá faz é tirar um pouquinho desse bloqueio. É uma coisa totalmente natural, que não é alheia ao nosso corpo, que não gera toxina, que não vicia. Ela facilita o acesso às memórias de cada um, ajuda lidar com os traumas.
E essa medicina teve contato com os não indígenas dentro do panorama do ciclo da borracha, um dos momentos que marcou o maior extermínio indígena na Amazônia, não apenas no Brasil, mas na Colômbia, no Equador, no Peru, na Venezuela. Com mão de obra escrava, gente alimentada só com farinha e água, morrendo de malária.
Para a nossa cultura, quando você recebe alguém você recebe numa festa, você recebe com todas as honras. E a ayahuasca é nossa medicina mais sagrada. Então você imagina esses brancos católicos, com roupinhas brancas, chegando naquela festa cheia de gente nua, vendo o corpo dos homens e mulheres e ainda tomando um negócio que faz defecar, vomitar… Tem um disco que foi gravado pelos missionários católicos no Rio Negro das músicas de meu povo tucano que eles chamaram de “inferno verde”. Porque imagina esse pessoal saindo das guerras mundiais e indo para um lugar que eles achavam totalmente absurdo e tendo mirações. E padre quando tem visões, veem o que? O demônio. Então a cerimônia mais sagrada do meu povo se tornou a cerimônia do diabo para eles.
Então existiu um homicídio cultural na nossa região muito forte. São pouquíssimas famílias que mantiveram esse conhecimento.
E no Acre foi quando surgiu o Santo Daime, quando o mestre Irineu, que era retirante, preto, nordestino e chegou lá morrendo de fome. Aí o Irineu conhece lá os os ashaninka, toma a ayahuasca e começa a ter as visões e surge a igreja do Santo Daime, que também foi muito perseguida no início dos anos 1920. Mas foi um processo de cristianização dessa espiritualidade, que tem uma base indígena, mas que é cristianizada para se comunicar com o branco. E depois teve nos anos 1960 a revolução psicodélica, com o pessoal voltando da Guerra do Vietnã, um monte de gente fugindo desses traumas de guerra, e o movimento hippie… Eles começam a provar esses alucinógenos.
Hoje a ayahuasca é uma medicina que foi globalizada – da mesma forma e com os mesmos riscos que outras medicinas que também sofreram por esse tipo de esbulho. A primeira medicina roubada foi o tabaco – que é consumido de diversas formas, mas nunca deve ser tragado, porque faz mal. E como fizeram para consumir? Tragando. Aconteceu o mesmo com a coca, que é uma super sagrada para o meu povo e para as culturas andinas e foi transformada em um veneno que gera uma série de ciclos de violência (a cocaína).
A medicina é para curar, para se você não sabe usar bem, ela pode matar. Se você não usa com o devido estudo, com o devido respeito e com cuidado, se você não tiver uma ética médica, você pode matar também.
Então o risco é acontecer isso com a ayahuasca se entrar nessa dinâmica acelerada de mercado. Quando a gente fala de apropriação cultural, é isso: não é unicamente um roubo, é uma descontextualização. Quando você coloca aquilo no contexto de mercado, de faturamento, o risco (do mau uso) é muito grande.
 Hoje Pernambuco Notícias a toda hora!
Hoje Pernambuco Notícias a toda hora!
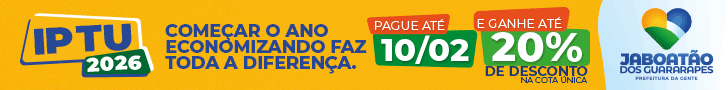




Você precisa fazer login para comentar.