Crédito, CBS
- Author, Mariana Sanches
- Role, Da BBC News Brasil em Washington D.C.
-
“Eu não sabia que ela era negra até alguns anos atrás, quando ela se tornou negra e agora ela quer ser reconhecida como negra. Então, não sei. Ela é indiana ou negra?”, questionou o candidato republicano à Presidência, Donald Trump, em uma entrevista recente na qual comentava a raça de sua oponente, a democrata Kamala Harris.
Esta foi uma das várias manifestações de Trump sobre a identidade de Kamala, atual vice-presidente do país, cujo pai é negro e jamaicano e a mãe, indiana.
“Ela não é negra. É o que eu ouvi, que ela é indiana”, disse a cantora Janet Jackson ao jornal britânico The Guardian, em setembro, ao mencionar a democrata. Na mesma conversa, ela admitiu que poderia estar mal informada, mas “me contaram que descobriram que o pai dela era branco”.
Jackson talvez estivesse se referindo a alguma das postagens virais nas redes sociais com falsas conclusões sobre a certidão de nascimento de Kamala. No documento, de 1964, a mãe da presidenciável, uma imigrante indiana, se autoclassifica como “caucasiana” — modo como os indianos se identificavam nos EUA nos anos 1960. No atual senso comum, porém, o termo tem sido usado como sinônimo de branco. “Ela é uma mulher branca!!!”, concluiu uma das comentaristas de internet que espalhava uma interpretação incorreta do documento de Kamala.
Kamala Harris se auto-identifica como negra e de origem indiana há décadas. Segundo o Instituto Nacional de Saúde dos EUA, uma pessoa pode ser negra sem ser afro-americana. “Um afro-americano (‘Afro-american’, em inglês) é uma pessoa cujas origens estão em qualquer um dos grupos raciais negros da África”, diz o site do Instituto Nacional dos EUA.
Já o termo Negro (‘Black’) “é mais amplo e inclusivo” do que o afro-americano. “Alguém pode nascer na Jamaica, viver nos EUA e se identificar como negro, mas não afro-americano”. Há também quem entenda o termo afro-americano como uma referência aos descendentes de escravizados nos EUA (leia mais abaixo).
Kamala afirma que Trump recorre a questionamentos à identidade e cor da pele da democrata para atacá-la e aprofundar divisões raciais entre os próprios americanos. Veículos de imprensa dos EUA como, a revista New Yorker, qualificam tais comentários do republicano como “racistas”.
Crédito, Reuters
Já aliados de Trump, como o candidato a vice e senador JD Vance, não apenas sustentam suas declarações como acusam Kamala de oportunismo racial/eleitoral.
“Ela falseia quem ela é a depender da audiência em frente à ela — e então essa é quem ela é e quem ela sempre foi”, disse Vance, notando que Kamala fala em “Black English” em detrimento de um dialeto mais formal quando a plateia é majoritariamente negra.
Num pleito que pode ser definido por uma margem de apenas dezenas de milhares de votos, ganhar a preferência de certos grupos demográficos fará a diferença. E os eleitores negros são historicamente uma das reservas mais importantes de votos.
Há duas semanas, a Iniciativa de Opinião Pública da Howard University ouviu 963 prováveis eleitores negros nos sete principais Estados-pêndulo do país (Arizona, Geórgia, Michigan, Nevada, Carolina do Norte, Pensilvânia e Wisconsin), que devem definir o novo ocupante da Casa Branca.
A pesquisa mostrou que 82% dizem que votarão em Kamala, enquanto 12% preferem o ex-presidente Donald Trump. Outros 5% estão indecisos e 1% planeja escolher outro candidato.
Pode parecer — e é — uma liderança confortável para a democrata. Mas, em 2020, em um levantamento comparável, o antecessor de Kamala e atual presidente Joe Biden aparecia com 7 pontos percentuais a mais do que ela entre os negros. Já uma pesquisa do New York Times e Siena College divulgada no último dia 12 sugere que a distância entre a preferência de eleitores negros por Biden em 2020 e por Kamala agora pode ser ainda maior, de 10 pontos percentuais.
Analistas concordam que para manter a possibilidade de vencer nesses Estados, Kamala precisa conquistar os votos deste grupo que ainda lhe faltam – e por isso mesmo Barack Obama acaba de ser mandado à Pensilvânia para exortar o eleitorado negro a escolhê-la. “Meu entendimento, com base nos relatórios que recebo de campanhas e comunidades, é que ainda não vimos os mesmos tipos de energia e participação em todos os setores de nossos bairros e comunidades como vimos quando eu estava concorrendo”, disse Obama à audiência negra, para na sequência repreendê-la.
“De um lado, vocês têm alguém que cresceu como vocês, os conhecem, foi à faculdade com vocês”, em referência à Kamala Harris, enquanto de outro lado, com Donald Trump, ainda nas palavras de Obama, “há alguém que tem demonstrado consistentemente desrespeito, não apenas pelas comunidades, mas por vocês como pessoa. E ainda assim, estão considerando ficar de fora?”
Mas a discussão supera — e muito — apenas a mera matemática dos votos. Para alguns americanos (brancos e não brancos), é motivo de comemoração ter Kamala como potencialmente a primeira mulher negra a assumir a Presidência dos EUA, enquanto há mesmo entre os movimentos afro-americanos quem questione o real significado disso.
Em um cenário eleitoral marcado por tensões raciais – a exemplo da falsa alegação de Trump de que migrantes haitianos comem cachorros e gatos de estimação dos americanos — a disputa sobre a identidade de uma das presidenciáveis é também uma discussão sobre representação, preconceito e composição da sociedade.
Crédito, EPA-EFE/REX/Shutterstock
A novidade multirracial
Há uma intensa movimentação no tecido social americano: a identidade de Kamala Harris é, de certa forma, uma novidade para o país. Como outros 33,8 milhões de americanos (10% da população dos EUA), Kamala se considera uma pessoa multirracial ou miscigenada.
Foi apenas nos anos 2000 que o Censo americano passou a permitir que a população se identificasse com mais de uma raça. De lá para cá, este é o grupo populacional que mais cresce no país.
Em comparação, no Brasil, o termo mais próximo ao multirracial do Censo americano é o pardo, aquele que se identifica como uma mistura de duas ou mais cores de pele, ou raças — incluindo branca, preta e indígena – na definição do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) .
São mais de 92 milhões de brasileiros, ou 45% da população que se identificam como pardos, o que os torna o maior grupo dentre a população brasileira, segundo dados do Censo de 2022.
Não é fortuita a diferença entre a atual composição populacional de Brasil e Estados Unidos, os dois maiores países das Américas, compostos por migrantes, indígenas e negros escravizados.
Enquanto no Brasil a miscigenação foi incentivada como uma política de Estado entre o fim do séculos 19 e o início do 20, nos EUA o que se viu foi justamente o contrário. Diferentes Estados e mesmo municípios do sul do país passaram a adotar o que ficou conhecido como leis Jim Crow, uma forma pejorativa de se referir a pessoas negras no século 19.
Tais regras determinavam a segregação total entre brancos e não-brancos. Neste último grupo estavam todos que tivessem alguma ascendência negra, ainda que fosse apenas por “uma gota de sangue”, termo que batizou a regra.
Os dois grupos raciais estavam proibidos de ocupar os mesmos espaços públicos, fossem escolas, igrejas, hospitais, restaurantes, repartições públicas, ônibus e trens. Na prática, vivia-se sob um regime de apartheid.
Invariavelmente, as instalações acessíveis aos brancos eram superiores às reservadas aos demais. Em certos Estados, negros ficavam proibidos de morar nos mesmos bairros que brancos e eram impedidos de votar (até 1965) e casamentos interraciais também eram considerados ilegais até 1967.
“Foi apenas na década de 1960, ou seja, já durante a vida de Kamala Harris e Donald Trump, que o apartheid americano instaurado legal e politicamente começou a ser desmantelado. Somos pessoas que nasceram no apartheid e isso deixa uma herança imediata. Quando pensamos em raça e racismo, não estamos falando apenas sobre o legado da escravatura (abolida em 1863). Estamos falando sobre o legado de Jim Crow e isso não é algo remoto, de um passado muito distante, para a maioria dos americanos”, afirmou à BBC News Brasil a historiadora Martha Jones, professora da Johns Hopkins University e especialista em temas de raça e escravidão nos EUA.
Para que o sistema de segregação funcionasse plenamente, o conceito de raça tinha que ser fixo e estritamente aplicado. E a miscigenação tinha que ser impedida — e ter um alto custo para quem ainda assim a praticasse.
“Não estamos falando apenas de raça e racismo em termos sociológicos, econômicos ou culturais. Estamos falando de um sistema de leis e políticas que se baseava na visão de que existia uma pessoa branca, uma negra, uma ameríndia e uma asiática e que direitos e privilégios eram arbitrados por lei a partir desse prisma”, diz Jones.
Crédito, Getty Images
É neste contexto — e em meio ao movimento das lutas pelos direitos civis — que Kamala Harris nasce, em 1964, em Oakland, na Califórnia. Ela foi criada de modo a espelhar essa multiplicidade identitária.
“Eu cresci frequentando uma Igreja Batista negra e um templo Hindu”, contou Kamala Harris ao jornal Los Angeles Times em 2015, durante sua campanha a uma vaga para o Senado americano. “Minha mãe indiana tinha consciência de que estava criando duas meninas negras (Kamala e a irmã, Maya)”, relata Kamala, cujo nome significa Lótus em sânscrito, em seu livro The Truths We Hold.
Em diversas ocasiões, porém, ela destacou que a consciência de sua negritude “não veio em prejuízo da minha identidade indiana”.
Entre suas memórias de infância estão viagens à Índia e fins de semana na casa do pai, um economista professor da Universidade Stanford, em Palo Alto, no Vale do Silício.
“Os filhos dos vizinhos não eram autorizados a brincar com a gente porque éramos negras”, recordou Kamala, sobre essas visitas.
Nos anos 1970, sua turma na escola primária foi apenas a segunda a ter alunos racialmente misturados — graças a uma decisão da Suprema Corte que anos antes derrubou a segregação escolar racial.
Crédito, EPA-EFE
Tanto o pai, o economista jamaicano Donald Harris, quanto a mãe, a bióloga indiana Shyamala Gopalan, levavam Kamala e Maya às manifestações pelos direitos civis que culminaram na queda do regime de separação racial no país. Anos mais tarde, Kamala atribuiria sua decisão de estudar direito a três gigantes deste mesmo movimento: Thurgood Marshall, Charles Hamilton Houston e Constance Baker Motley.
O curso superior foi feito na maior universidade negra do país, a Howard University, em Washington DC, capital dos EUA. Lá, ela se tornou também presidente da Associação dos Estudantes Negros de Direito. E compôs a irmandade de mulheres universitárias afro-americanas Alpha Kappa Alpha.
Já senadora, atuou como integrante da Comissão Negra e da Comissão Asiático Americana — o que, aliás, nem sempre é possível. Uma das antigas regras congressuais ainda em vigor nos EUA impede, por exemplo, que membros da Comissão Hispânica também participem da Comissão Negra, o que obriga parlamentares latinos e negros a escolher em que aspecto de sua identidade militarão, ou então a lutar por uma exceção à regra.
Kamala sempre teve uma postura reservada sobre sua identidade racial e as situações que viveu por causa dela na sociedade americana. “Não me sinto obrigada a cantar longas baladas sobre minhas experiências com a injustiça”.
Em 2015, questionada sobre a questão racial, ela dizia se recusar a, em seus termos, “ser colocada nesta ou naquela caixinha”.
Para Martha Jones, o fato de que parte da população — e do Congresso — ainda tenha dificuldade em assimilar a ideia de identidades miscigenadas pode ser explicada justamente pelo peso histórico do recente apartheid na formação da consciência política americana.
“Não deveria ser algo excepcional a menos que você concorde com a ideia de que raças deveriam ser puras porque funcionam como um delimitador de direitos, privilégios e poder. E se usaremos raça para arbitrar as coisas, as pessoas que são chamadas de mistas são um advento preocupante porque não cabem muito bem nas caixas, na perspectiva do apartheid”, diz Jones.
Roger House, professor emérito de História Americana do Emerson College, também vê ecos de apartheid e da ideologia que o instaurou no uso político feito por Trump e seus aliados da questão identitária de Kamala.
“Para compreender o questionamento de Donald Trump sobre a origem racial de Harris, é importante compreender os fundamentos da supremacia branca do movimento MAGA (Make America Great Again). É uma forma de minar a sua credibilidade como pessoa de cor e como americana de pais imigrantes. As duas questões (raça e migração) estão interligadas na política do Trumpismo”, afirmou House à BBC News Brasil.
Grupos extremistas e/ ou supremacistas brancos como Proud Boys e a Ku Klux Klan já endossaram publicamente a candidatura de Trump.
E embora oficialmente Trump tenha rejeitado o apoio de nacionalistas brancos, neonazistas, supremacistas brancos e outros grupos de ódio, em 2022, logo após se lançar presidenciável, Trump jantou em seu resort com Nick Fuentes, um conhecido líder supremacista branco.
Negra, mas não afro-americana?
Crédito, Getty Images
House afirma ainda que “os ataques de Trump” foram facilitados pelo modo “fluido” como Kamala tem tratado sua identidade, algo revelador de outro mal-estar social. Em que pese as condições de Kamala como mulher de origem negra e indiana, não é um resultado óbvio que a comunidade afro-americana se sinta representada por ela.
“A herança racial de Kamala Harris é uma faca de dois gumes para os negros americanos”, afirma Roger House, do Emerson College.
“Sim, ela é uma mulher negra, mas de origem imigrante tanto do lado paterno quanto materno. Como tal, alguns diriam que lhe falta a autêntica experiência negra americana e, portanto, a identidade. A base dessa identidade é uma memória coletiva de herança partilhada e uma forte crença num destino comum. Portanto, não a vejo como uma representante orgânica do “grupo étnico” negro americano”, conclui.
Assim como Barack Obama, o primeiro presidente negro dos EUA, cujo pai era queniano, Kamala não descende de negros que tenham sido escravizados nos EUA.
Sua linha de ascendência do lado jamaicano é um tanto quanto incerta. Segundo seu pai, Donald Harris, eles seriam parentes de um irlandês dono de escravizados que se estabeleceu na Jamaica.
“Minhas raízes remontam, à minha avó paterna, Srta. Chrishy (nascida Christiana Brown, descendente de Hamilton Brown, considerado como proprietário de plantações e de escravizados e fundador da [cidade jamaicana] Brown’s Town)”, escreveu Donald Harris em um artigo para o jornal Jamaica Globe, em 2018.
Mas serviços de checagem, como o PolitiFact, encontraram registros de ascendência da família Harris na Jamaica relacionadas a uma mulher qualificada como “labourer” tanto na certidão de nascimento como na de óbito.
“Labourer” era o termo usado na Jamaica para designar aqueles que haviam sido emancipados da condição de escravidão ou seus descendentes.
Quando o pai de Kamala chegou aos EUA vindo da Jamaica, em 1961, ele era parte de uma pequena minoria. Havia apenas 125 mil negros imigrantes àquela altura em todo o país, dentre 20,5 milhões de negros na população americana como um todo (11%), descendentes das centenas de milhares de homens e mulheres traficados para os Estados Unidos e lá escravizados no período colonial.
O cenário atual é bem diferente. Se no início dos anos 1960, 1 em cada 164 negros nos EUA era estrangeiro, em 2019, 1 em cada 10 negros no país era estrangeiro, segundo o Instituto de Pesquisa Pew Research.
São quase 5 milhões de pessoas, das quais mais da metade desembarcou em território americano depois dos anos 2000.
A chegada dos migrantes trouxe características novas à comunidade negra, mas também deixou evidente certas tensões. Parte dos grupos negros americanos que advogam por medidas de reparo pelo histórico de escravatura do país defendem que tais compensações sejam concedidas exclusivamente para pessoas negras que possam provar serem descendentes de homens e mulheres escravizados nos Estados Unidos, e não para toda e qualquer pessoa negra que viva no país.
Existe entre estudiosos e militantes negros a percepção de que a vida na sociedade americana é mais difícil para o grupo que descende de escravizados nos EUA do que para os demais negros.
Algo análogo à questão do colorismo, conceito usado para denunciar que a mistura entre grupos étnico-raciais (no passado, frequentemente fruto da violência sexual de colonos brancos contra negras escravizadas) não criou uma convivência harmoniosa entre os diferentes, mas uma hierarquização social, com negros de pele clara normalmente tendo mais facilidades ou sendo menos alvos de preconceito/racismo do que os de pele mais escura.
“O fato de os dois políticos negros mais proeminentes do Partido Democrata terem pele clara e não terem a identidade negra americana tradicional revela as restrições de raça, cor e status nesta sociedade”, diz House.
Ele vê em Obama uma tentativa bem-sucedida de se integrar aos negros de Chicago, onde construiu sua carreira política. Já Kamala, na visão de House, foi alçada ao poder “pelos brancos do partido Democrata”, e não por uma militância racial específica.
Por essa perspectiva, há um certo ceticismo de estudiosos e militantes negros sobre o real significado da chegada destas figuras a postos de poder. Se Kamala fosse uma descendente de negros escravizados nos EUA, com uma trajetória também típica de alguém deste grupo, ela estaria hoje neste mesmo lugar?, questionam.
Por fim, House relembra as tensões inerentes à miscigenação na comunidade negra desde os tempos da escravatura — experiência que aliás se repetiu no Brasil.
“Posso dizer que a história de mistura racial na comunidade negra é uma experiência complicada e perigosa. Durante a escravidão, cerca de 10% dos escravizados eram filhos de senhores de escravos nascidos da violência sexual ou da manipulação de mulheres indefesas. Muitos destes filhos foram doutrinados a se perceber como superiores aos demais pretos por terem sangue branco correndo nas veias. Alguns foram usados por donos de plantações como espiões ou capatazes. O legado dessa dolorosa e confusa experiência assombra as relações sociais entre os negros até hoje.”
Fonte: BBC
 Hoje Pernambuco Notícias a toda hora!
Hoje Pernambuco Notícias a toda hora!
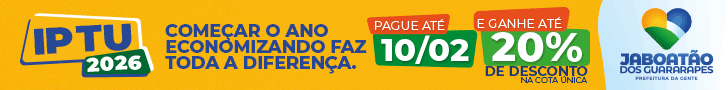




Você precisa fazer login para comentar.