- Daniel Salomão Roque
- De São Paulo para a BBC News Brasil
Crédito, Cristian Acuña
Chinelo encontrado durante a reforma do Museu Paulista. Cerca de 1.250 artefatos apareceram durante as obras
O objeto é feito de borracha, e seus contornos carcomidos lembram o pé esquerdo de um ser humano. Da espuma que forma a base, saltam tiras resistentes, adornadas em relevo com pequenos traços geométricos. Um dia, elas estiveram dispostas mais ou menos como a letra V do alfabeto ocidental. Hoje, encontram-se partidas.
Nas laterais e na forquilha, o artefato apresenta uma mesma coloração incerta, algo entre o azul e o verde-escuro. Ele tem uma face amarela e outra cinzenta. Antes do desgaste, do desbotamento e da exposição contínua à sujeira, suas cores talvez fossem diferentes.
Os especialistas garantem: estamos diante de um chinelo de dedo.
O modelo remete às Havaianas, fabricadas desde 1962 pela Alpargatas. Para o design da mercadoria, a empresa buscou inspiração nas antigas zōri, sandálias que acompanham os quimonos e outras vestimentas tradicionais japonesas. Os primeiros anúncios publicitários, veiculados já naquele ano, prometiam “beleza, conforto e resistência” para famílias de classe média, reunidas à beira de piscinas ou em frente a televisores modernos.
A publicidade, contudo, não impediu os pobres de aderirem ao produto. Seu uso rapidamente se estenderia à vida pública e ao trabalho braçal, por vezes envolvendo imitações de preço inferior e procedência desconhecida — como este pé, sobre o qual se debruça uma equipe técnica multidisciplinar.
A sola gasta, com um prego enferrujado dando sustentação à extremidade de uma das tiras, é um marcador socioeconômico. Embora a vida útil do produto já tivesse chegado ao fim, seu dono driblava a aquisição de um novo par.
Crédito, Concrejato
O chinelo foi encontrado no torreão central do pavimento D, uma espécie de passagem improvisada pelo forro do edifício
E foi assim, com o chinelo remendado, que ele se dirigiu ao Museu Paulista da Universidade de São Paulo (USP), popularmente conhecido como Museu do Ipiranga, devido à sua localização no bairro homônimo da zona sul. Não vinha a passeio: era um operário, e efetuaria alguns reparos nas acomodações internas da instituição. Ao término do expediente, voltou para casa descalço.
Seu chinelo, porém, acaba de ser localizado. Estava no pavimento D, entre as vigas do torreão central – uma espécie de passagem improvisada pelo forro do edifício, atualmente em reforma. Ninguém sabe ao certo quanto tempo permaneceu ali.
Memórias enterradas
Desde o início das obras, há três anos, cerca de 1.250 artefatos foram encontrados no museu e seus arredores. Quase sempre, os objetos surgem debaixo da terra, enquanto árvores e pisos são removidos para a instalação de encanamentos ou fiações elétricas. O chinelo foi uma exceção, tal como as garrafas, o cálice e o cachimbo descobertos num vão entre dois andares.
“Até onde sabemos, esses contrapisos nunca haviam sido retirados”, afirma Renato Kipnis, diretor da Scientia Consultoria Científica, empresa responsável pelo monitoramento arqueológico das obras. “São artefatos que remontam à construção do museu, no final do século 19. Naquela época, acho que os chinelos de borracha ainda não eram produzidos, né?”
Crédito, Helio Nobre
No restauro do museu, o monitoramento arqueológico tem ocorrido ao mesmo tempo que as obras
Kipnis obedece a uma série de normas legais. O decreto-lei nº 25, promulgado por Getúlio Vargas em 1937, lança definições sobre o patrimônio histórico brasileiro e estabelece critérios para seu tombamento. Já o artigo 225 da Constituição Federal, de 1988, exige que obras potencialmente causadoras de “significativa degradação do meio ambiente” tenham seus impactos avaliados em estudos prévios.
Mais recentemente, a instrução normativa nº 1, publicada em 2015 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), regulamentou a atuação de arqueólogos em áreas de licenciamento ambiental.
Projetos maiores, como a usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, onde Kipnis e sua equipe trabalharam por dez anos, são executados somente após a emissão dos diagnósticos. No Museu Paulista, estudos e obras ocorrem de forma simultânea. Construções urbanas, segundo o arqueólogo, dificultam e encarecem a realização de pesquisas prévias.
“Nosso cotidiano é este”, explica à BBC News Brasil. “Chegar pela manhã, ficar até o final da tarde e acompanhar a abertura dos pisos. Do asfalto, do concreto e da terra podem sair bens culturais. Quando isso acontece, a obra é paralisada, e a gente toma as devidas providências”.
Geralmente, o material é submetido a análises e incorporado ao acervo de alguma entidade — no caso, o próprio Museu Paulista. Todo o processo é marcado por indagações.
Crédito, Museu Paulista da USP
Homens posam diante do edifício, ainda em construção. O museu foi inaugurado em 1895, e inicialmente se voltava para as ciências naturais
“Até mesmo os funcionários da reforma se questionam sobre a real necessidade desse trabalho”, afirma Kipnis. Ele cita as perguntas mais comuns diante de objetos como o resgatado no pavimento D: “Por que estamos fazendo isso? Por que temos que coletar todas essas coisas?”
O museu decidiu transformar a dúvida em postagem de rede social. Numa quarta-feira, 13 de abril, publicou duas fotos do artefato emborrachado, acrescidas de um texto que se encerrava nos seguintes termos: “Qual deve ser o destino dessa peça? O chinelo deve ir para o lixo ou para a reserva técnica? Se a decisão fosse sua, o que você faria?”. Em troca, recebeu centenas de comentários no Facebook e no Instagram.
“A repercussão tem sido curiosa e engraçada”, relata Kipnis. “Dá para bolar um curso na universidade e passar o semestre inteiro discutindo o que as pessoas escrevem.”
Um seguidor alegou: “Havaianas consertadas com prego é parte da cultura brasileira. Tem que ir para a reserva técnica”. Outro defendeu: “Certeza que merece uma exposição. Existe riqueza narrativa nesses objetos de uso cotidiano”. Alguém opinou: “O chinelo é um registro histórico, revela que a construção tem sangue da classe trabalhadora”. E também havia quem brincasse: “Exponham ao lado de um vira-lata caramelo”.
Mas, pouco a pouco, as respostas se tornavam hostis.
“Estão forçando uma importância ridícula onde não há.”
Crédito, Helio Nobre
O quadro Independência ou Morte, fixado numa parede do Salão Nobre, retrata em tons hiperbólicos os gestos de Dom Pedro I
“Isso não tem relevância alguma… a não ser para a esquerda mimizenta e drogada.”
“Peguem o lixo do banheiro e coloquem em exposição. Estaria de acordo com vários palpites que eu li.”
“Essa postagem é patética. Mostra um museu que já não entende a sua função cultural pública”.
Amâncio Jorge de Oliveira, vice-diretor da instituição, encara o debate como fruto de uma disputa simbólica.
“Acho legítimo que se defendam certos valores. O que não acho legítimo é que esses valores não sejam tensionados, que não se estabeleçam novas perspectivas para a complexidade das nossas relações sociais. E o que nós queremos é justamente isso, abrir um diálogo mais interessante sobre a sociedade brasileira e suas múltiplas facetas.”
Além da Independência
O Museu Paulista foi inaugurado no dia 7 de setembro de 1895 e é vinculado à USP desde 1963. Inicialmente, voltava-se para o estudo das ciências naturais, com ênfase na zoologia. Entretanto, Independência ou Morte, a pintura de Pedro Américo (1843-1905) que recria em tons hiperbólicos a cisão entre Brasil e Portugal, está ali desde o princípio, fixada numa parede do Salão Nobre.
Crédito, Museu Paulista da USP
A escadaria do museu, em foto dos anos 1930
Trata-se de uma gigantesca tela a óleo, medindo 4,15 metros de altura e 7,6 metros de largura. No canto inferior esquerdo, um caipira, frente a um carro de bois, observa com incredulidade a figura de Dom Pedro 1º (1798-1834). O imperador, montado a cavalo e cercado por uma comitiva de dez homens, levanta uma espada no centro do quadro. Em trajes de gala, o suposto herói da pátria se volta para uma multidão de soldados eufóricos, retratados no lado direito, às margens do riacho Ipiranga.
A partir dessa imagem, se organizaria toda a decoração interna do edifício. Um tapete vermelho foi estendido através do saguão principal, subindo pelas escadarias e alcançando uma estátua de Dom Pedro, ladeada por bandeirantes. Corriam os anos 1920, e o Brasil festejava o centenário da Independência. Desde então, esses homens de mármore e bronze permanecem em guarda, sob uma miríade de retratos circulares que nos observam com semblantes pouco amigáveis. São fantasmas que se integram de forma ambígua à paisagem urbana.
Os moradores da Zona Sul habituaram-se a correr pelo Parque da Independência, que circunda o museu, e transformaram o quarteirão num polo de memórias afetivas. Para crianças de cidades vizinhas ou bairros mais afastados, que chegavam ao Ipiranga de ônibus, trazidas por excursões escolares, o edifício nunca foi mais do que um mausoléu de vultos históricos. Em todo o país, sua arquitetura eclética, com abóbadas e colunatas, gera fascínio e mal-entendidos.
Crédito, Reprodução – Sheila Farah
Cartão-postal destaca o museu na paisagem da zona sul paulista
“Lutamos até hoje contra a crença de que Dom Pedro morou ali dentro”, afirma a curadora Vânia Carneiro de Carvalho, referindo-se a uma das muitas lendas que cercam o lugar. Ela atua no Museu Paulista desde 1990, momento em que a instituição vivenciava uma nova guinada metodológica — as pesquisas sobre cultura material.
“Nós estudamos os meios pelos quais os homens se apropriam da materialidade para se constituírem enquanto indivíduos”, explica. “Afinal, não somos seres abstratos. Temos um corpo, nosso corpo interage com o meio-ambiente, e o meio-ambiente é formado por coisas. A investigação desse fenômeno nos estimula a sair de uma área celebrativa, dando protagonismo a novos sujeitos históricos”.
O cidadão comum, negligenciado pelos governos e frequentemente apartado da escrita, assume papel de destaque nesses estudos. Para pesquisadores que se debruçam sobre semelhantes temas, a busca por documentos não textuais adquire um caráter de urgência.
“Isso teve um impacto direto na aquisição de coleções. Nossa reserva técnica foi mudando de cara”, relata a curadora. “Era algo muito claro para quem lia nossos artigos e acompanhava nossa produção acadêmica. Mas o grande público não percebeu”.
Brinquedos, vestuários, gravuras, louças, retratos fotográficos e utensílios caseiros seriam lentamente incorporados ao acervo da instituição. Os artefatos, comprados com verbas da bilheteria, nem sempre podiam ser expostos. O museu vinha respirando por aparelhos, sob o peso de uma crise financeira que corroía sua estrutura física. Em agosto de 2013, foi interditado às pressas – o laudo emitido na época apontava para um risco iminente de desabamento.
A reabertura ocorrerá no próximo 7 de setembro. Com a finalização das obras, a um custo de R$ 211 milhões, espera-se que o edifício receba pelo menos 900 mil visitantes ao ano.
Um desfile em frente ao museu, no dia 7 de setembro de 1912. O imaginário ufanista da Independência ainda hoje assombra o local
“Realizamos diversas escutas no preparo das novas exposições”, afirma Carvalho. “Grupos mais conservadores se revoltaram contra a inclusão de determinados itens, exatamente como tem acontecido com esse chinelo na internet. Para eles, é inaceitável que o museu não esteja fixado na celebração da Independência.”
Uma das mostras, intitulada Casas e Coisas, examina o processo de transformação do espaço doméstico ao longo do tempo. “Haverá uma sala inteira só para ferramentas de cozinha”, antecipa a curadora. “A pessoa que se irrita com um chinelo é a mesma que despreza um batedor de claras ou um pilão de socar milho. Mas isso vai estar ali, no mesmo piso que o Pedro Américo”.
Outra exposição, Mundos do Trabalho, aborda o desenvolvimento dos ofícios rurais e urbanos no decorrer dos séculos, partindo de vestígios deixados por negros, indígenas, imigrantes, homens livres e escravizados: “Nossa ideia é mostrar que as atividades manuais, tão desdenhadas por determinados segmentos, exigem competências e saberes específicos, que os trabalhadores dominam muito bem. Aliás, teremos galerias inteiras tomadas por chinelinhos de trabalhadores”, diz.
A história ao alcance dos pés
Os calçados, entretanto, já marcam presença em acervos museológicos do mundo inteiro.
Crédito, Chris Evans / Wikimedia Commons
Sapatos utilizados por Judy Garland no filme ‘O Mágico de Oz’, atualmente expostos no Museu de História Americana, em Washington
É o caso do Museu de Belas Artes de Caen, na França, que mantém em sua reserva técnica as supostas sapatilhas com as quais a rainha Maria Antonieta (1755-1793) teria sido guilhotinada. Em Washington, nos EUA, o Museu Nacional de História Americana exibe a seus visitantes os sapatinhos vermelhos que revestiram os pés da atriz Judy Garland (1922-1969) durante as filmagens do clássico O Mágico de Oz, de 1939. Em Marikina, nas Filipinas, um pequeno museu especializado em sapatos abriga 758 dos mais de 3 mil pares que a ex-primeira dama, Imelda Marcos, adquiriu com dinheiro público enquanto seu marido, Ferdinando Marcos (1917-1989), governava o país.
Associados a figuras ilustres, tais objetos são expostos como fragmentos biográficos, testemunhos históricos, símbolos de eras passadas. Mas de que maneira utilizá-los na reconstituição de trajetórias anônimas? Segundo os especialistas, nenhum procedimento é absoluto.
Kipnis sublinha que a arqueologia se baseia na distinção entre fenômenos únicos e recorrentes: “Se a gente visse um monte de chinelo enterrado, todos desse mesmo modelo, teria sido um evento interessante, com um significado específico, mas talvez não fosse necessário guardar cada um deles”, explica. “Quando encontramos apenas um ou dois exemplares, o cenário é outro. Mudam-se os significados e os critérios de preservação”.
Carvalho, por sua vez, sustenta que artefatos não devem ser vistos como fins em si mesmos, mas como pontos de partida para debates mais amplos: “Tudo depende das perguntas que fazemos ao objeto”, diz. “A partir delas, alcançamos um outro patamar de análise, que consiste em integrar esse chinelinho a um sistema maior de documentos, em busca de interpretações mais consistentes”.
Assim, a curiosidade pelo seu design talvez determine um restauro, aproximando-o do estado original de fábrica. Já um interesse por questões trabalhistas possivelmente resulte na manutenção das avarias e na formulação de novas perguntas: Havia mais algum artefato no pavimento D? Que tipo de indivíduos o museu contratava para suas obras? Por que os empregados circulavam de chinelo pelo torreão central?
Crédito, Wikimedia Commons
Heitor Villa-Lobos, em retrato de 1922. O maestro foi vaiado por calçar um chinelo na Semana de Arte Moderna
“Imagine uma perícia físico-química nos vestígios de suor e pele que por acaso estejam impregnados na superfície desse objeto”, exemplifica a curadora. “Em conjunto, os dados poderiam revelar muito sobre a rotina dos trabalhadores, sua alimentação, a forma como tinham seus corpos submetidos a acidentes”.
Kipnis destaca um outro fator: as circunstâncias em que tais artefatos surgem diante dos nossos olhos. Ele menciona certo episódio, ocorrido há cem anos, quando Heitor Villa-Lobos (1887-1959), às voltas com um calo inflamado, enfrentou vaias ao apresentar-se de chinelo durante a Semana de Arte Moderna de 1922. Na ocasião, o público tomou por afronta estética as necessidades fisiológicas do maestro e as dores que sentia no pé. Debates sobre eurocentrismo, cultura popular e identidade brasileira estavam na ordem do dia.
“O chinelo do Villa-Lobos esteve inserido num contexto muito simbólico, embora não fosse materialmente tão relevante”, argumenta. “Guardadas as devidas proporções, é o que ocorre agora. E é por isso que ambos os chinelos são dignos de preservação”.
O veredito cabe a um pequeno grupo de cientistas. Kipnis, no entanto, defende que discussões sobre patrimônio histórico ocorram de forma mais abrangente e participativa, ainda que esbarrem no senso comum: “As pessoas estão sempre pensando em glamour, pirâmides astecas, túmulos de faraós. Mas nosso trabalho também é feito de coisas cotidianas, e todas elas são importantes”.
Instruir o grande público, segundo o arqueólogo, é obrigação de todos os colegas. “Precisamos desfazer o estereótipo do Indiana Jones”, declara ele, em alusão ao personagem interpretado por Harrison Ford na franquia cinematográfica de Steven Spielberg. “E chinelos são muito úteis nessa tarefa”.
Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!
 Hoje Pernambuco Notícias a toda hora!
Hoje Pernambuco Notícias a toda hora!
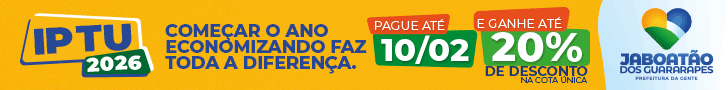




Você precisa fazer login para comentar.