- Alejandro Millán Valencia
- BBC News Mundo
Crédito, Getty Images
Freddy Rincón com o ex-presidente da FIFA Joseph Blatter: jogador sofreu acidente de carro em 11 de abril
Os gritos. Minha primeira lembrança de Freddy Rincón é talvez a mesma que marcou a memória de muita gente: alguém gritando.
Gritando abraçado aos amigos. Gritando no meio do escritório. Gritando no banheiro. Gritando na rua em frente a uma loja de eletrodomésticos. Gritando sem limites por toda a casa.
Não importa o lugar, se pensarmos em Freddy – é assim que o chamamos, como se fosse nosso melhor amigo -, lembramos de termos gritado por ele e graças a ele.
Na madrugada desta quinta-feira (14/4), a equipe médica do hospital Imbanaco, em Cali, na Colômbia, anunciou que o jogador colombiano havia morrido após passar dias agonizando após um acidente de carro em 11 de abril.
E novamente nos lembramos daquele grito. De felicidade. Porque quando você grita com a alma, a memória fica guardada no seu coração.
Eu estava sozinho. Morava em Cali, a cidade onde Freddy construiria parte de sua lenda jogando pelo América de Cali.
Era uma terça-feira. Meus pais e minha irmã saíram de casa para cumprir seus deveres: trabalho e escola. Eu tinha ficado em casa porque, milagrosamente, a escola em que eu estudava havia adiantado as férias em uma semana.
Não me lembro do sentimento de desespero antes do jogo começar, mas certamente era algo assim, porque naquele dia a Colômbia jogava contra a Alemanha pela classificação para a segunda rodada da Copa do Mundo da Itália de 90.
Vale a pena contextualizar alguns fatos: em seus dois jogos anteriores, a Alemanha (que na época era a Alemanha Ocidental e era vice-campeã do mundo) havia esmagado seus rivais do grupo. Primeiro a Iugoslávia, por 4 a 1, e depois os Emirados Árabes Unidos, 5 a 1.
Já a Colômbia, apesar de ter jogado muito bem, tinha vencido os Emirados Árabes por 2 a 0 e havia sido derrotada por 1 a 0 pelos iugoslavos. Por isso, para se classificar para a próxima rodada, precisava de pelo menos um empate com a Alemanha.
Não tenho muitas lembranças do jogo. Teve um chapéu de René Higuita em Rudi Voeller, o grande atacante do Werder Bremen e do Olympique de Marseille. Não elogiei a audácia do nosso goleiro porque na época o considerei absurdamente imprudente em um momento tão importante para o país.
Porque foi isso: naqueles anos sombrios de violência das drogas e do conflito no campo entre guerrilhas, exército e paramilitares, na Colômbia os únicos raios de luz eram os que nos traziam os atletas.
É por isso que não era só a seleção que estava jogando naquele dia, o país inteiro estava jogando.
Os ‘cinco centavos’ que faltavam
A sensação geral era de que naquela terça-feira, no magnífico estádio San Siro em Milão, cenário do drama, estávamos jogando para ganhar tudo, todos. Não só para empatar.
Minha memória mais detalhada se resume aos últimos sete minutos de jogo. Aos 43 minutos, Voeller do nada escapou da zona defensiva colombiana e passou a bola a Pierre Littbarski, uma lenda do Colônia FC que disputava sua terceira Copa do Mundo.
Gol da Alemanha. A dois minutos do fim do jogo.
Se existe outra memória coletiva na Colômbia, é isso: o fundo do poço. O sentimento de injustiça. A raiva de repetir a mesma velha história: sempre nos faltam cinco centavos para completar o peso.
Crédito, Getty Images
Carlos Valderrama no jogo contra os alemães na Copa da Itália de 90
Quando a bola voltou a se movimentar no centro do campo, lembro-me também das palavras do locutor de TV William Vinasco, citando uma frase de Eleonora Roosevelt: “Quem perde dinheiro, perde muito; quem perde um amigo, perde mais; mas quem perde a esperança, perde tudo. Vamos Colômbia, você consegue!”
Lembro-me de ouvir essa frase e pensar que realmente havia perdido a esperança. Lembro-me de pensar em desligar a TV. Eu tinha 11 anos, e uma raiva infantil me invadiu por causa da injustiça. A sensação de que nos venceram sem merecer – que viveria dezenas de vezes mais ao longo da minha vida – se instalou pela primeira vez e fincou uma bandeira.
E não sabia o que fazer com tanta raiva. Porque, de novo, não era o time, era o país.
‘Batata quente’
Eu estava processando isso tudo quando Leonel Álvarez recupera uma bola. O tempo regulamentar já havia se esgotado e estávamos aos 48 minutos, o que significava que o árbitro poderia encerrar o jogo a qualquer momento.
Álvarez dá a bola a Luis Alfonso Fajardo, que se chamava El Bendito, que, por sua vez, passa a Carlos Valderrama, mundialmente famoso por seu apelido El Pibe e seus cachos dourados.
El Pibe pega a bola e por um microssegundo perde o controle dela. Mas a recupera e a entrega a Rincón. Rincón a devolve a Bendito – parece uma bola de bilhar tocando as bordas da mesa.
Novamente para Pibe, que, sem olhar, faz o passe para uma dimensão desconhecida – onde havia apenas Freddy. Flutuando. Em entrevista à revista Bocas, o próprio Rincón definiria aquela bola como “uma batata quente” que Valderrama lhe havia mandado.
E foi literalmente uma “batata quente”: Freddy e o país inteiro estavam atrás dela.
Aqui os segundos são confusos, porque a próxima coisa de que me lembro é a bola caminhando lentamente em direção ao gol e de sentir a explosão.
Crédito, Getty Images
Freddy Rincón durante o Mundial da Itália de 90
Euforia. O movimento desenfreado do corpo. Vendo os punhos de Freddy perfurando o ar com tanta força na televisão que parecia que ele tinha esgotado as energias.
Mas me lembro principalmente de gritar. Pelos corredores da casa, pelos cômodos vazios, pela janela com os vizinhos. Gritando meus primeiros palavrões, gritando meu amor pela Colômbia, também pela primeira vez. Gritar sem saber exatamente o que estava sentindo.
Gritar até ficar sem ar. Respirar. E gritar novamente.
Mas aquilo era muito mais: nesse grito desapareceu a raiva contida, o desespero acumulado, a injustiça repetida.
Talvez não nos lembremos tanto do gol em si, mas de tudo o que sentimos. Da eletricidade sem precedentes produzida ao ver aquela bola encostando na rede. Que pela primeira vez não nos faltaram cinco centavos para completar um peso.
Crédito, Getty Images
Freddy Rincón foi uma lenda do futebol colombiano
E não havia como retribuir Freddy por isso.
Alguns dias depois, o Camarões de Roger Milla nos eliminaria nas oitavas de final, mas havíamos criado uma memória coletiva tão poderosa que talvez a eliminação não tenha sido o mesmo golpe que costuma ser.
Saímos tristes, mas felizes pelos momentos vividos.
Freddy, é claro, nos daria muitas outras alegrias como aquela. Não à toa foi batizado de “Colosso de Buenaventura”, em homenagem à cidade onde nasceu. Seria o primeiro jogador colombiano a vestir a mítica camisa do Real Madrid, onde não seria tratado com muita cortesia.
Também seria o capitão do Corinthians que ergueria o troféu do primeiro Mundial de Clubes no ano 2000.
E seria, sobretudo, uma peça fundamental de outra memória compartilhada entre todas as pessoas que se dizem colombianas. Isso foi três anos depois da Copa de 90, em 5 de setembro de 1993.
Naquela noite, marcamos cinco gols sobre os argentinos. Freddy marcou o primeiro e o terceiro, uma vitória que desencadeou uma série de comemorações violentas que terminaria com mais de 90 mortes – como se, ao contrário da Copa da Itália, tivéssemos sido intoxicados pela nossa raiva em vez da alegria.
Por isso, logo que soubemos do acidente, começamos a compartilhar as lembranças daquele primeiro momento, porque todos sabíamos perfeitamente o que estávamos fazendo naquela manhã de 19 de junho de 1990: uns abriram a cabeça pulando durante a comemoração, outros se perderam dos pais no meio do shopping depois de saírem correndo. Alguns abraçaram estranhos.
E todos gritamos, porque aquele era um gol que ia ficar conosco para sempre em um “Rincón” (um canto) da alma.
Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!
 Hoje Pernambuco Notícias a toda hora!
Hoje Pernambuco Notícias a toda hora!
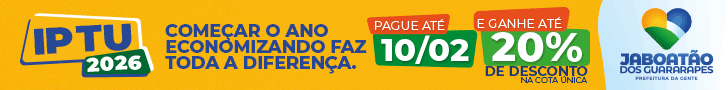




Você precisa fazer login para comentar.