Crédito, Arquivo pessoal
Iván Benitez é um dos 33 detidos em uma sauna gay na Venezuela
- Author, Valentina Oropeza Colmenares
- Role, BBC News Mundo
- Twitter, @orovalenti
Enquanto tomava uma bebida no salão do Club Avalon, Iván Valera Benitez ouviu um alerta: “Comando da Polícia Nacional Bolivariana. Mãos para cima, fique parado!”
O venezuelano de 30 anos esteve no domingo, dia 23 de julho, no Club Avalon, uma sauna gay localizada na cidade de Valencia, no norte da Venezuela.
Ivan pensou que era algum tipo de brincadeira.
Aquele era um clube privado com saunas e salas de massagem, um restaurante e uma sala para fumantes. A entrada era cobrada e o catálogo de serviços podia ser consultado nas redes sociais.
Ele se sentia seguro no Club Avalon. Lá, eles não o provocavam sobre suas preferências sexuais ou o chamavam de “ela”, como em ambientes com desconhecidos onde faziam piadas sobre ele.
Os policiais uniformizados pediram aos funcionários e clientes que os acompanhassem à sede da polícia “como testemunhas”. Todos seguiram a instrução, embora não entendessem do que eram testemunhas.
Iván e outros 32 homens ficaram detidos por três dias e foram apresentados ao Ministério Público venezuelano sem entender o motivo.
A polícia vazou imagens nas quais os detidos são vistos em pé ao lado de uma mesa que mostrava como “provas” os seus documentos de identificação, celulares, preservativos e lubrificantes.
A imprensa local informou que se tratava de uma “orgia clandestina”, na qual teria sido encontrado “material pornográfico”. No entanto, os advogados de defesa esclareceram que não há nenhuma evidência disso nos registros policiais.
A denúncia pelos crimes de atentado ao pudor, formação de quadrilha e poluição sonora causou indignação na comunidade LGBT venezuelana, que denuncia a criminalização de seus integrantes pelas autoridades.
Os slogans “Libertem os 33” e “Justiça para os 33” viralizaram nas redes sociais. Ativistas e familiares dos detidos protestaram na Justiça, no Ministério Público e na sede da polícia ligada à operação.
O procurador-geral venezuelano, Tarek William Saab, disse que o Ministério Público vai pedir o arquivamento do caso e uma investigação dos policiais que participaram da operação, depois que as investigações mostraram que o clube não reunia as condições de saúde necessárias para ser aberto ao público.
A BBC News Mundo, serviço em espanhol da BBC, tentou contato telefônico e foi até a sede da Polícia Nacional Bolivariana em Valencia, onde estavam os detidos, para solicitar um posicionamento sobre o caso, mas não obteve resposta.
Neste depoimento, contado em primeira pessoa, Iván reconstrói o que viveu com o grupo durante a detenção.
Uma abordagem de rotina
Eles nunca nos diziam o que estava acontecendo.
A polícia dizia que era uma verificação de rotina e pedia as nossas identidades para verificar se tínhamos antecedentes criminais ou se éramos procurados (pelos tribunais).
Depois nos disseram que a revista seria no Comando da Polícia Nacional Bolivariana e que deveríamos ir como testemunhas. Nós fomos em nossos próprios carros de boa fé.
Chegamos à sede por volta das 18h. É aí que tudo de ruim começa.
Ao revisarem as identidades, percebem que ninguém é requisitado ou possui ficha criminal. O policial diz: “Eles estão limpos. Não há nada aqui”.
Mas eles nos levam ao gabinete do chefe do comando e nos revistam, pegam nossos telefones e ficamos incomunicáveis.
Fiquei preocupado, mas pensei: “Esse procedimento está mal feito em todos os pontos de vista. Isso não vai a lugar nenhum.”
‘É você?’
Crédito, Getty Images
Polícia Nacional Bolivariana é um dos braços repressivos do governo venezuelano
Quando pegaram nossos telefones, cada um foi obrigado a fornecer as senhas.
Um policial pegava o telefone de alguém, desbloqueava e começava a revisar suas fotos, seus vídeos, sua vida privada. E ele dizia: “É você? É isso que você faz?”.
Isso foi feito com várias pessoas. Não aconteceu comigo porque não levei o celular naquele dia, pois estava descarregado.
Quando levaram nossos pertences, um policial passou com uma lista e nos disse: “Vocês vão me dizer seu nome e vão me dar todo o dinheiro que tiverem para a gente anotar, para não perder.”
Eles disseram que era a única maneira de garantir que o dinheiro não sumiria. Até aquele momento, sustentavam que não estávamos detidos.
Hoje, não sabemos onde está (o dinheiro). Ele não está no Ministério Público. Esse dinheiro deveria constar no registro policial, mas sumiu.
Eles também pediram para entregarmos as camisinhas porque aquilo era uma prova.
Isso ocorreu na sede do Comando da Polícia Nacional Bolivariana, em Los Guayos.
Depois disso, eles nos mandaram descer para tirar uma foto. É aí que começa a preocupação mais forte porque uma imagem é feita para registrar alguma coisa. Já entendemos que estávamos sendo fichados.
Tiraram uma foto nossa na frente da mesa com as “provas”, que na época eram camisinhas, lubrificantes, celulares, RGs e uma garrafinha de popper [droga inalável], que nunca foi usada, que nunca entendemos de onde saiu.
‘Espera aí, marica’
Depois nos levam para outro cômodo, que era como uma sala de reuniões. Mandaram a gente sentar e ficar em silêncio.
Aí eu me descontrolei. Queria muito ir ao banheiro.
Um policial foi bastante enfático: “Se você quiser, se arrisque, não vou te levar ao banheiro. Quem manda você fazer aquela coisa suja que você estava fazendo? Espera aí, marica. Ou faça nas calças.”
Ele usou essas palavras.
Aí ele resolve, a pedido de outro funcionário, me levar ao banheiro e me diz: “Tudo bem, mas você tem que fazer na minha frente. Você não pode fechar a porta.”
Falei que ia ser incômodo porque me sentia mal, mas que ia ter que fazer. Ele sabia que estava violando meu direito.
E ele me disse: “Você não tem nada a pedir, pelo que estava fazendo.” Até aquele momento eu não entendia o que tinha feito.
Crédito, Getty Images
A prisão dos 33 desencadeou uma indignação da comunidade LGBT na Venezuela
Fui obrigado a usar o sanitário com a porta aberta enquanto o policial me olhava.
Várias vezes nos disseram: “Se estiver insatisfeito com alguma coisa, é só falar”. E, para quem fez isso, eles respondiam: “Cala a boca”. Era estranha aquela dinâmica de falar e não falar ao mesmo tempo.
Muitas outras coisas passavam nas nossas cabeças. “Como vou contar à minha família?”, perguntávamos.
Alguns de nós podemos ter nossas vidas sexuais abertamente e expressar nossa orientação ou preferência. Mas muitos dos meus colegas não. Em alguns casos, as famílias ficaram sabendo de tudo por causa desse constrangimento.
Eu apenas pensava: “Por que vou contar para minha irmã se isso é estúpido? Por que vou incomodá-la?
“Já nos conhecem de todas as formas”
Surgiu uma segunda foto que tiramos em grupos de seis e viralizou. Fizemos uma reclamação pública sobre o primeiro portal que divulgou aquela foto porque nossa identidade não foi respeitada, nossos rostos não foram borrados.
Nessa segunda foto, havia dois cidadãos a menos. A informação oficial para nós é que eles se sentiram mal, foram levados ao serviço médico e não voltaram a aparecer.
Descobrimos que nos tornamos virais quando um dos funcionários mostrou um vídeo no TikTok e disse: “Já conhecem vocês em todos os lugares”.
O pior é que estava viralizando como uma notícia diferente da realidade, o que tornava a situação mórbida.
Já era um tema homofóbico e moralista. Estávamos sendo submetidos ao ridículo em público e ninguém se importava com o que estava acontecendo conosco.
Um colega disse que preferia se matar. Então todos procuramos ajudá-lo, para que ele entendesse que não estávamos fazendo nada de errado.
Em nenhum momento o boletim de ocorrência menciona que estávamos reunidos para uma orgia. Se assim for, isso não é crime e menos ainda se é consensual.
Mas em nenhum momento isso aconteceu. No boletim de ocorrência, consta que estávamos todos vestidos e se ouvia barulho de conversa.
A essa altura, eu não sabia mais se minha irmã estava me apoiando ou se ela estava acreditando em tudo isso.
Depois, entraram outros fatores. O fator pessoa, o fator dignidade, o fator religião. Havia companheiros de outras religiões nas quais qualquer ato homossexual é inaceitável.
Teve gente que desmaiou, gente que chorou inconsolavelmente, gente que se aborreceu.
No meu caso, eu estava sem esperança. “Como eu saio disso? Como explicar algo que não tem explicação? Ser viral por algo que não estava acontecendo.
Eles nos diziam: “Estão em apuros. Vocês sabem o que eles estavam fazendo, tudo está vindo tudo a tona”. Mas também não nos contaram o que estava acontecendo.
Perguntamos e não obtivemos resposta. Nunca demos depoimento.
Nunca ficou claro o que eles estavam fazendo.
Uma mensagem de texto
Crédito, Getty Images
Ativistas da comunidade LGBT exigiram que os 33 fossem soltos sem acusações
Por volta da 1 da manhã, eles nos permitiram uma ligação.
Liguei para minha irmã e, como ela não atendeu, perguntei (ao policial) se podia mandar mensagem de texto para ela e ele disse que sim.
Na mensagem, eu disse a ela: “Não se preocupe, estou aqui. Não há nada aqui. Eu não estava fazendo nada de errado.” Eu disse a ela onde estava localizado, que era um procedimento de rotina que não entendíamos, mas que resolveria amanhã.
Eles nos disseram que passaríamos a noite lá e que deveríamos nos acalmar porque possivelmente no dia seguinte não íamos resolver nada porque aquela segunda-feira era feriado.
Naquela noite, não dormi sentado naquela cadeira.
“Eu realmente quero ser visto assim?”
No dia seguinte, nos levaram para o exame médico-legal.
O procedimento normal deveria ser pedir a um médico que verifique se você está fisicamente apto, para garantir que não houve abuso físico durante a detenção.
Mas os médicos nos fizeram duas perguntas e pronto. Esse foi o exame médico que eles fizeram.
Aquele momento foi triste porque nos trataram como bandidos numa patrulha com muitos policiais e já havia parentes e militantes do lado de fora do comando da Polícia Nacional.
Aos olhos do público, já éramos criminosos.
Crédito, Getty Images
O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, disse que o caso será arquivado
Minha irmã não estava lá naquele momento. Consegui ver dois conhecidos e foi chocante. Não sabia se aquele apoio me confortava ou me debilitava, me tornava mais suscetível.
“Eu realmente quero ser visto assim?”, eu me perguntei. Eu não sabia mais o que se passava na minha cabeça.
“Estamos ajudando”
Voltamos àquela sala de reuniões disfarçada de cela.
Teve colegas que começaram a passar mal, tiveram taquicardia.
Foram momentos sombrios.
Os policiais nos disseram: “Estamos ajudando, queremos que fiquem bem”. Aquela violação do seu direito disfarçada de bondade.
Foi estranho sentir essa necessidade de estar bem com os funcionários para que eles nos tratem bem, quando, na verdade, isso é um direito.
A certa altura, senti que eles eram bons, que eram meus amigos e que estavam fazendo todo o possível para que eu ficasse tranquilo.
Acho que meus colegas também sentiram isso.
Passamos mais uma noite lá. Até então, não tínhamos permissão para tomar banho ou escovar os dentes. Tínhamos permissão para ir ao banheiro urinar e tentar o mínimo possível fazer outras coisas. Éramos supervisionados por funcionários.
Sempre dividimos comida. Se alguém trazia uma arepa (comida típica venezuelana), eles cortavam e comíamos entre os 33. Mas não tinha fome.
Ainda tenho dificuldade com o apetite.
“Chegaram os da orgia”
Crédito, Getty Images
A Polícia Nacional Bolivariana também se dedica a tarefas de controle da ordem pública
No dia seguinte, terça-feira, fomos ao Palácio da Justiça ao meio-dia.
Como não tínhamos celulares, perguntamos ao funcionário que horas eram, pois não sabíamos.
A audiência era às 3 ou 4 da tarde.
Havia ativistas e parentes do lado de fora do Palácio da Justiça. Foi um pouco assustador porque os funcionários olhavam para nós como se dissessem: “Chegaram as pessoas da orgia que vão ser julgadas”. Era como os policiais nos faziam ser vistos.
É tão estranho ter que ficar envergonhado por algo que você nem está fazendo. Também não deveria ser vergonha porque todo mundo faz o que quer com suas vidas.
Mas chega uma hora que te falam tanto, que você pensa: “Talvez eu estivesse fazendo algo errado.”
“Olhem os 33”
Entramos no Palácio da Justiça e a realidade era caótica.
Primeiro, eles nos revistaram, depois deram a cada um de nós um número para rastrear e nos colocaram em fila nas celas.
Pedimos que não nos separassem porque estávamos com medo.
Eles já haviam nos dito: “Lá vão ficar com criminosos comuns. Lá nós, policiais, não cuidamos deles. Lá eles ficam por ordem do Palácio da Justiça”.
Eles nos colocaram em uma cela, que imagino ter três por três metros. Colocaram os 33 lá.
Havia espaço para alguns sentarem e administramos quanto tempo eles ficariam sentados.
Havia uma latrina que transbordava de urina. Havia muita ferrugem. O cheiro era insuportável.
Entre a polícia e os parentes que estavam do lado de fora, procuraram máscaras para nós. Não sabíamos se era melhor colocar a máscara porque quase não respirávamos.
Crédito, Getty Images
Os protestos pela detenção dos 33 duraram vários dias
Os outros prisioneiros jogavam coisas em nós enquanto mostravam seus membros.
“Abaixem a cabeça, não olhem para nós”, diziam eles. Mas pensei: “Por que tenho que abaixar a cabeça?”
“Olhem para os 33”, eles nos disseram.
Eles me fizeram sentir muita vergonha por ser gay. Fico triste e dolorido em admitir isso.
Eu me senti envergonhado por encarar minha família.
Parece mentira, mas às vezes dentro de um mesmo grupo homossexual temos a homofobia internalizada. Somos heteronormativos.
“Mas é isso, não fiz nada de errado”, dizia a mim mesmo. Hoje estou entendendo.
Tive ataques de ansiedade, insônia, talvez estresse pós-traumático. Mas entendi que não preciso ter vergonha.
Entrei em tantas prisões na Venezuela. Esse era o meu trabalho como defensor de direitos humanos. Que irônico ser uma pessoa privada de liberdade.
Passei quase dez anos trabalhando no Ministério dos Serviços Penitenciários, na Diretoria de Direitos Humanos e Relações Internacionais.
Percebo que sou um prisioneiro quando me dizem: “Faça fila aqui, mãos para trás, cabeça baixa, vamos sair, entra na viatura”.
O juiz decidiu adiar a audiência e fomos mandados de volta para nossas celas.
Então eles nos levaram de volta ao Comando da Polícia Nacional Bolivariana e os familiares e ativistas fizeram um grande rebuliço lá fora.
Era noite de terça-feira (25 de julho).
Eles nos transferiram em um comboio usado por pessoas da ordem pública quando há manifestações. Estávamos com muitos policiais.
Houve o primeiro encontro com os parentes, mas minha irmã não estava. Eu vi três grandes amigos e desmaiei.
Toda a força que eu tinha desapareceu quando vi as pessoas que me amam. Eu senti como se estivesse os decepcionando.
E eu duvidei. “O que vai acontecer com minha irmã? Será que vai acreditar em mim? Ou está acreditando no que as redes sociais dizem? O que está passando pela cabeça dela?”, eu me perguntava. Nós não tínhamos conversado.
Somos muito próximos, ela é minha melhor amiga.
Quando chegamos à delegacia, ela foi a primeira a chegar.
Acenei para ela e ela me disse: “Eu te amo. Está bem?”. Concordei com a cabeça e ela me disse: “Calma, vamos sair dessa”.
“Eu te amo, eu te amo e me desculpe”, eu disse a ela.
Naquela noite de terça-feira, a situação mudou um pouco. Eu estava mais rebelde. Quando conversei com minha irmã, me senti impotente.
Crédito, Getty Images
Advogados e ativistas questionam a validade jurídica da prisão e acusações contra o 33
Um dos funcionários me disse: “Ivan, o que há de errado com você? Você tem mantido a calma, por que está olhando assim? Nunca te vi assim”. E eu disse a ele: “Eu também nunca tinha me visto assim. Eu realmente quero que uma bomba caia sobre nós, que todos nós morramos aqui. Isso é desesperador.”
“Não há justiça aqui”, eu disse a ele. “Você não sabe como é fácil para você, de uniforme, estragar a vida de alguém.”
“Vamos deixar sua irmã entrar”, eles me disseram. E eles deixaram minha irmã falar comigo para me acalmar.
Rapidamente, tentei explicar a ela: “Não é assim como dizem.” Então, ela me disse: “Não se preocupe, o que há de errado com você? Eu sou sua irmã. Não preciso acreditar em nada do que dizem. Eu sei quem você é. Não se preocupe. Eu te amo”.
E ela tirou as meias e as deu para mim porque ela não tinha mais meias. Eu tive que usá-las numa das vezes que fui ao banheiro.
Grato por um banho
Eles nos deixaram tomar banho por volta das 2 da manhã.
Ficamos felizes em nos lavar no pátio, com uma mangueira ao ar livre, supervisionados por funcionários.
Um advogado comprou 33 sabonetes, um para cada um de nós. Não trocamos de roupa porque tínhamos que ir à audiência no dia seguinte, quarta-feira.
Aquele banho baixou meus níveis de estresse, me senti um pouco mais limpo. Achei que os policiais foram bons em deixar que eu ficasse limpo.
Eu senti gratidão.
Naquela noite, consegui dormir um pouco mais. Tive pesadelos com fugas e brigas entre nós.
Se agora estou na rua e vejo um carro da polícia, verifico meus bolsos para ter certeza de que tenho minha identidade. Estou com um pouco de medo.
No dia seguinte, partimos sem tomar café da manhã. A audiência foi marcada para as 11 da manhã.
Fomos os primeiros detidos a chegar ao Palácio da Justiça e levaram-nos para as celas.
Dividiram-nos em dois grupos e colocaram-nos em duas celas, uma com 17 e outra com 16. E começa aquela longa espera, por volta das 9 da manhã até às 4h30 ou 5 da tarde.
Meus companheiros estavam na mesma cela do dia anterior, mas meu grupo pegou a da frente. Ele era mais baixa, menor. Tivemos que sentar no chão.
Tentamos fazer piadas para passar as horas. Sentimos que, se passasse uma hora, eles iriam nos acusar de outro crime.
Os privados de liberdade queriam nos silenciar. Então dissemos: “Somos mais. Vamos deixar que nos calem?”.
E começamos a cantar músicas muito icônicas para a comunidade heterossexual. Cantamos “A quién le importa?”, de Thalía. “Todos me Miran”, de Gloria Trevi. E fechamos essas músicas com o hino nacional.
Havia silêncio em todas as celas, apenas nos ouvíamos cantando o hino nacional.
“O juiz nunca falou conosco”.
Aí chegamos na plateia calados, com respeito, com um cheiro muito ruim eu diria, com a mesma roupa de todos aqueles dias. Protegidos por nossos defensores, públicos e privados, que fizeram um trabalho impecável.
Os promotores eram novos, não os mesmos que apareceram na noite anterior.
O juiz nunca falou conosco. Foi uma audiência introdutória, mas parecia um julgamento.
Ela era muito lenta e nunca olhavam para nós. Lá, descobrimos que eles estavam nos acusando de atentado ao pudor, conspiração e poluição sonora.
Tínhamos 12 defensores: quatro públicos e oito privados. Todos pediram a anulação do processo e que fôssemos liberados integralmente e sem restrições.
O último defensor intitulou seu discurso como “A esperança perdida”. E isso me marcou.
Havíamos perdido a esperança no Estado de Direito.
Aquele defensor foi tão enfático que a juíza saiu e voltou, dando pouca importância ao que ele dizia.
Fizemos uma pausa e, quando voltamos, ele disse que estava rejeitando todos os pedidos da defesa.
Ele emitiu um mandado de prisão para três pessoas e as outras 30 foram deixadas para comparecer em juízo a cada 30 dias durante seis meses.
Depois de tudo isso, sinto-me zombado e preocupado. Toda vez que falo, vou soltando a experiência. Mas também me sujeita a uma exposição que eu não queria.
Não quero que nada pior me aconteça por mostrar minha cara e tornar visíveis os vícios desse sistema.
Fonte: BBC
 Hoje Pernambuco Notícias a toda hora!
Hoje Pernambuco Notícias a toda hora!
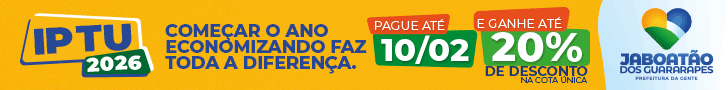




Você precisa fazer login para comentar.