- Andrea Diaz Cardona
- Da BBC News Mundo
Crédito, Arquivo Pessoal
Carolina Roatta foi diagnosticada aos 32 anos
A passagem do tempo costuma ser evidente em nosso corpo quando aparecem rugas e cabelos grisalhos, também quando os músculos vão definhando e os dentes escurecem. O que acontece com nosso cérebro, por outro lado, geralmente é menos perceptível.
A jornalista colombiana Carolina Roatta enfrenta um problema diferente: uma doença rara que afeta seu cérebro, envelhecendo-o, mesmo que seu corpo seja jovem.
Ela conta que estava em uma fase ótima da vida quando a doença começou a se manifestar.
“Eu tinha 32 anos e me sentia a rainha do mundo. Era novembro de 2012. Eu tinha terminado minha tese de mestrado e estava novamente solteira. Eu estava ensinando em uma universidade e tinha acabado de conseguir meu emprego dos sonhos como jornalista”, diz Carolina.
“No dia em que fui assinar o contrato de trabalho, cheguei tão segura de mim que consegui controlar o tremor que tinha nas mãos há algum tempo. Essa assinatura foi a última coisa que consegui escrever.”
Crédito, CRMR Wilson Paris
Uma ‘coroa de cobre’ nos olhos é um dos sintomas da doença
O diagnóstico
Carolina conta que os tremores começaram a ficar cada vez mais fortes, primeiro nas mãos e nos braços e depois na cabeça e nas pernas.
“Mudei minha rotina. Parei de usar blusas de botão e sapatos de amarrar, passei a usar jeans skinny e até contratei uma assistente para escrever para mim. Também comecei um diário em áudio para registrar tudo o que acontecia comigo”, diz ela. “Resisti o melhor que pude, mas depois de seis meses a situação tornou-se insustentável.”
Carolina passou por várias consultas médicas que duraram 15 minutos.
“No sistema de saúde colombiano, é preciso passar por um clínico geral para que ele possa solicitar exames ou encaminhar o paciente para um especialista. Fui atendida por um neurologista de primeira viagem que me diagnosticou erroneamente com tremor essencial e me receitou medicação para essa condição. Aquele remédio me relaxou, mas não tirou o tremor.”
Depois de consultar diversos médicos, psicólogos e neurologistas, foi um médico de medicina alternativa que pediu um exame de imagens do seu cérebro.
“Meu pai e minha mãe me acompanharam à ressonância magnética. No dia seguinte, enquanto aguardávamos os resultados, o técnico ligou perguntando se eu manuseava produtos químicos no meu trabalho. As imagens mostraram que meu cérebro estava intoxicado.”
Sua família então ajudou Carolina a conseguir uma consulta particular com um neurologista renomado.
“Não foi barato, mas pela primeira vez senti que alguém entendia o que estava acontecendo.”
“A consulta durou três horas, o médico fez vários exames clínicos: eu tinha que tocar a ponta do nariz com o dedo indicador, desenhar uma espiral, fazer fantoches com as mãos, ficar em apenas um pé. Em todos tinha dificuldades e acabei suando como se tivesse corrido uma maratona”, conta a jornalista.
Graças à consulta e outros exames, o neurologista confirmou que Carolina tem a doença de Wilson, uma doença hereditária.
“É uma esquisitice genética com o nome do neurologista que a descobriu, Samuel Alexander Kinnear Wilson. Ela impede que meu corpo seja capaz de processar ou digerir cobre.”
O cobre é um elemento que nos ajuda a ter nervos e ossos saudáveis, também contribui para o colágeno e a melanina na pele. O corpo humano não o produz, mas o adquire através de muitos alimentos, como lentilhas, amêndoas, chocolate, abacate, lagosta, entre outros.
O corpo decompõe esses alimentos, o fígado processa o cobre que usamos e o organismo elimina o que não precisa, geralmente pela urina.
“O problema é que quem sofre de Wilson, tem um fígado incapaz de processar e eliminar o cobre. O metal então se acumula no corpo, em quantidades que o tornam tóxico”, explica ela. “Normalmente, o fígado é o mais afetado, seguido pelo cérebro, olhos e rins.”
Carolina conta que seu caso é “ainda mais estranho”.
“Apesar de 32 anos acumulando cobre, meu fígado estava saudável. Meu cérebro, por outro lado, envelheceu duas vezes mais. O neurologista disse que parecia o de um homem de 70 anos”, conta ela.
Carolina também tinha um “anel” de cor cobre ao redor das íris dos olhos, outro sinal típico da doença.
Crédito, Arquivo Pessoal
O tremor nas mãos de Carolina se tornou insuportável
Doença crônica
Para tratar a doença, a jornalista precisa tomar um remédio para o resto da vida.
“O remédio “descasca” o cobre que se acumula nos órgãos e depois o elimina pelo sangue e pela urina”, conta ela.
O médico explicou que ela levaria um tempo até melhorar, sem especificar se seriam meses ou anos. Também deu o conselho de que ela não pesquisasse sobre a doença na Internet para não se assustar e especificou que os sintomas iriam piorar subitamente durante o início do tratamento.
“Passei a acreditar que seria breve e que em pouco tempo retomaria minhas atividades. A realidade é que no meu dia-a-dia eu parecia uma espécie de ‘bebê’. Passei de uma mulher super autônoma para depender dos outros em todos os aspectos da minha vida.”
Carolina diz que percebeu que perderia a autonomia logo após o diagnóstico, quando sua mãe teve que ajudá-la a escovar os dentes porque ela não conseguia.
“Lembro-me perfeitamente de meus olhos se encherem de lágrimas quando abri a boca e ela cuidadosamente começou a limpar com a escova. Chorei porque senti que não tinha mais dignidade”, conta.
“Era assim que eu me sentia toda vez que precisava da ajuda dela: ela me limpava quando eu urinava, tomava banho, me ajudava a trocar o absorvente quando estava menstruada, me vestia.”
Depois de quase um ano, Carolina atingiu o limite de deficiências médicas permitidas. Não apresentou melhora e conseguiu se aposentar por invalidez.
“A princípio me pareceu atraente: ter 32 anos, um salário vitalício e poder dedicar tempo aos meus hobbies. Mas tinha outro lado: ser tão jovem e se sentir inútil, descartada para o mundo do trabalho, rebaixada e condenada a ganhar um salário mínimo na Colômbia”, diz ela.
O valor da aposentadoria fazia com que ela continuasse a depender dos outros financeiramente.
Crédito, Carolina Roatta
Carolina hoje vive na França, onde tem acesso ao tratamento adequado
O privilégio
“Eu estava longe de imaginar que Roatta, meu sobrenome, me salvaria. Minha família paterna é francesa e graças a essa herança, recebi dupla nacionalidade, pude estudar em uma escola bilíngue e falo o idioma”, conta Carolina.
“É por isso que a França começou a soar como uma opção quando entendemos que na Colômbia não havia nada que pudéssemos fazer a não ser esperar e ficar dependente, sem muita esperança”, conta ela.
Uma de suas irmãs já morava na França e, pesquisando, encontrou um centro de referência para a doença de Wilson que fica em Paris.
“Meus pais, minha irmã mais nova e eu decidimos emigrar para se juntar a ela. Foi uma decisão difícil, mas necessária”, conta Carolina.
O local, CRMR Wilson, tem uma equipe de especialistas que deu à jornalista todas as respostas. Como Wilson é uma doença genética, eles conseguiram diagnosticar também as duas irmãs de Carolina antes do aparecimento do sintomas.
“Nós três temos consultas de acompanhamento, incluindo exames, a cada seis meses. Também temos acesso privilegiado a medicamentos e recebo ajuda financeira para compensar minha deficiência”, conta ela.
Desde que chegou ao país, no final de 2014, Carolina vem tentando criar uma nova vida para si, e conseguiu alguns progressos.
“Agora tremo muito menos, o anel em volta dos olhos desapareceu e voltei a ser totalmente autônoma”, comemora.
“Foram oito anos no processo de aceitação da minha diferença: doente, estranha, meio colombiana, desempregada e agora com 40 anos. Díficil. Tentei vários projetos de trabalho, mas nenhum progresso. Tentei vários relacionamentos e a vida como casal, mas também não deram certo.”
Carolina diz que ainda está “em modo de construção”. Está fazendo um novo mestrado (já que nunca conseguiu defender sua dissertação na Colômbia), tem um novo amor, trocou o projeto de ter filhos pelo de ter gatos e se mudou para uma cidade perto do mar.
“Paris é muito difícil de viver quando você está vulnerável”, explica ela, que entende o quão privilegiada é a sua trajetória em comparação com outras pessoas que sofrem da doença e dependem da saúde pública.
“O desfecho da minha história é uma raridade. Ter diagnóstico, tratamento e acompanhamento está longe de ser a norma para quem está em países da América Latina. Na Colômbia tive sorte: a doença de Wilson aparece na lista de doenças raras do Ministério da Proteção Social, graças aos esforços da Federação Colombiana de Doenças Raras (Fecoer)”, conta ela.
Um dos medicamentos é também coberto pelo sistema público de saúde na Colômbia.
“O problema, neste caso, é que as pessoas sejam diagnosticadas a tempo, por isso é difícil obter estatísticas sobre o número de casos, embora desde 2020 tenha havido progressos graças a uma equipe da Universidade de Antioquia”, diz ela.
Crédito, Carolina Roatta
Carolina Roatta diz que hoje conseguiu recuperar a autonomia
A doença de Wilson no Brasil
O protocolo estabelece que 4 tipos de fármacos que podem ser usados no tratamento da doença devem estar disponíveis aos pacientes pela rede pública. O uso deve ser indicado pelo médico levando em conta os riscos e benefícios do tratamento.
Embora exames como ressonância magnética e tomografia costumem ter grande filas para realização pelo SUS, o diagnóstico também pode ser feito com exames clínicos (feitos pelo próprio médico) e laboratoriais (como exames de sangue e urina).
Caso a pessoa esteja incapacitada para o trabalho por causa da doença, ela pode ter direito ao afastamento previdenciário ou até mesmo aposentadoria, a depender do caso. É preciso pedir o benefício e aguardar a resposta do INSS.
Ativismo
Carolina diz que, se ela não tivesse como consultar um especialista que conhecesse a doença, é muito provável que ela já tivesse morrido sua minha família ainda estivesse procurando respostas.
“Eu tenho consciência do meu privilégio e tenho o meu lado ativista, então desde que cheguei na França eu me ofereci como voluntária na associação de pacientes de Wilson e agora sou o presidente”, conta Carolina, que diz que é a rede de apoio que a mantém em movimento.
É no projeto que ela pode continuar comunicando, criando vínculos, ajudando, capacitando pacientes e suas famílias.
“Também milito para que em outras partes do mundo, inclusive na América Latina, seja possível o diagnóstico rápido, o acesso ao tratamento e o acompanhamento de qualidade”, diz ela.
Por um tempo, Carolina também gerenciou um grupo no Facebook para se conectar com pacientes que falam espanhol.
“Houve muita interação, inclusive várias pessoas entraram em contato comigo na minha conta pessoal, uma de Cuba, uma associação da Costa Rica, outra paciente do Chile, uma da Argentina, duas da Colômbia” conta ela.
Segundo a jornalista, todas as histórias eram de dificuldade no acesso a medicamentos ou de uma longa espera por um transplante de fígado – a solução extrema nos piores casos de Wilson.
“Três desses pacientes morreram enquanto estávamos em contato”, conta Carolina. “A experiência que mais me marcou foi uma mulher do Peru. Seu marido teve a doença e faleceu no início da pandemia. Por vários meses eles não tiveram acesso à droga e ele morreu enquanto esperava por um transplante.”
“Acompanhei-a via messenger por três dias enquanto o marido morria, com a tristeza de saber que os finais felizes dos pacientes com Wilson são mais raros do que a própria doença.”
Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!
 Hoje Pernambuco Notícias a toda hora!
Hoje Pernambuco Notícias a toda hora!
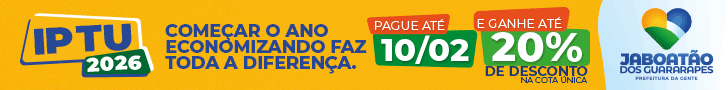




Você precisa fazer login para comentar.