- Luis Barrucho – @luisbarrucho
- Da BBC News Brasil em Londres
Crédito, EPA
Manifestantes protestam contra morte de Mahsa Amini em Istambul, Turquia
“República Islâmica do Irã e direitos humanos são como água e óleo, não se misturam”, assegura Parnaz Imani, iraniana que vive em Manaus, no Amazonas, há quase 40 anos.
Segundo ela, os protestos que varrem seu país natal desde meados de setembro foram apenas o “estopim” de décadas de repressão das autoridades contra uma população que reivindica maior liberdade.
As manifestações no Irã tiveram início há cerca de um mês, após a morte de Mahsa Amini, uma mulher de 22 anos presa pela polícia da moralidade na capital Teerã em 13 de setembro por supostamente violar as regras rígidas do Irã que exigem que as mulheres cubram os cabelos com um hijab (tipo de véu islâmico).
Imani tem 52 anos e diz que ela mesma vítima de perseguição religiosa, motivo pelo qual decidiu deixar o Irã ainda adolescente, acompanhada da irmã mais velha e do cunhado.
“Não sou muçulmana e professo a fé bahá’í (religião monoteísta que enfatiza a união espiritual de toda a humanidade). Sempre fomos perseguidos, mas depois da Revolução Islâmica, essa perseguição foi institucionalizada”, diz ela por telefone à BBC News Brasil em alusão ao regime dos aiatolás, no poder desde 1979.
“Os bahá’ís passaram a ser perseguidos, presos e mortos. Tomaram nossa casa e nossos bens. Éramos tratados como seres inferiores. Não tínhamos os mesmos direitos. Não podíamos estudar, por exemplo, e minha mãe perdeu a aposentadoria. Vivíamos escondidos. Se ficássemos lá, não teríamos futuro”, conta.
Em agosto deste ano, especialistas da ONU pediram às autoridades iranianas que parem “com a perseguição e o assédio às minorias religiosas” e que deixem de usar a religião como pretexto para “restringir o exercício dos direitos fundamentais”.
“Estamos profundamente preocupados com as crescentes prisões arbitrárias e, em algumas ocasiões, desaparecimentos forçados de membros da fé Bahá’í e a destruição ou confisco de suas propriedades, o que traz todos os sinais de uma política de perseguição sistemática”, disseram.
Eles afirmaram que os atos “não são isolados”, mas fazem parte “de uma política mais ampla para atingir qualquer crença ou prática religiosa dissidente, incluindo cristãos convertidos, dervixes gonabadi e ateus”.
Segundo o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH), a “comunidade bahá’í está entre as minorias religiosas mais severamente perseguidas no Irã”, com um aumento acentuado nas prisões neste ano.
Em busca de um futuro melhor
Imani fala rápido e em português fluente com pouco sotaque. Foi em busca de um futuro melhor que ela chegou à capital amazonense em 1986, após um breve período como refugiada no Paquistão.
“Deixamos o Irã sem nada, só com a roupa do corpo e uma mala com nossos pertences”, lembra.
Imani, sua irmã e o cunhado foram ajudados pela Organização das Nações Unidas (ONU), e a opção por Manaus se deu pelos laços com a comunidade bahá’í, já estabelecida na cidade e envolvida na agricultura. O Brasil passou então a ser sua nova casa e de outras 200 famílias iranianas bahá’ís.
“A adaptação não foi tão difícil. Eu não sabia falar uma palavra sequer em português. Não tenho facilidade para outros idiomas, mas eu era adolescente e tinha aquela energia típica da idade, então, foi uma aventura para mim. Os brasileiros e iranianos têm muito em comum, somos muito hospitaleiros e alegres”, diz.
“Apesar disso, quando você está no seu país, você conhece como tudo funciona. Aqui no Brasil, eu não sabia nada. Por exemplo, sempre tive uma habilidade mais técnica, mas não sabia sobre a escola técnica profissionalizante. E acho que isso acabou impactando o meu futuro profissional.”
Crédito, Arquivo pessoal
Parnaz e o filho Samyr, em sua formatura
No Brasil, Imani estudou Química, Processamento de Dados, formou-se em Administração, casou, teve um filho — agora com 28 anos e formado — e se divorciou. Ela trabalha como funcionária pública.
Mas, apesar de contabilizar mais tempo de vida no Brasil do que em seu país natal, não poupa críticas ao autoritarismo do governo iraniano, em que religião e política se misturam.
“No Irã, as pessoas não têm liberdade para fazer suas próprias escolhas. Defendo uma sociedade em que as pessoas sejam livres para fazer o que querem — e sejam, portanto, responsáveis por essas ações. Mas isso não é o que acontece por lá”, opina.
“Além disso, desde a Revolução Islâmica, o desejo do governo é que a mulher case e fique em casa. A grande maioria das mulheres tem nível universitário, mas poucas conseguem entrar no mercado de trabalho. Você não pode decidir qual roupa quer usar. E qualquer movimentação para romper com as tradições é punida com veemência”, conta.
Crédito, Arquivo pessoal
Iraniana Parnaz Imani vive no Brasil desde 1986
Foi o que aconteceu com Mahsa Amini, que foi presa pela polícia da moralidade em Teerã. Houve relatos de que os policiais bateram na cabeça dela com um cassetete. A polícia disse que ela sofreu um ataque cardíaco.
Para sustentar esse argumento, as autoridades divulgaram imagens de Amini desmaiando em uma delegacia de polícia, mas a gravação — junto com imagens dela em coma — enfureceu os iranianos.
Os primeiros protestos ocorreram após o funeral de Amini na cidade ocidental de Saqqez, quando mulheres arrancaram, em um ato de solidariedade, os lenços que usam para cobrir suas cabeças.
Crédito, Arquivo pessoal
Parnaz Imani quando criança no Irã em seu primeiro dia de aula, dois anos antes da Revolução Islâmica
Crédito, Arquivo pessoal
Parnaz Imani (segunda da esq. para a dir.) adolescente com suas amigas
Desde então, os protestos aumentaram, com demandas de mais liberdades à derrubada do Estado, e se espalharam ao redor do mundo, com muitas mulheres cortando o cabelo e queimando o véu para demonstrar apoio.
No Irã, as mulheres não podem mostrar seu cabelo (são obrigadas a usar o véu islâmico), cantar e dançar em público, andar de bicicleta, assistir a um jogo de futebol, viajar sem o consentimento de seus maridos ou usar maquiagem e esmalte nas escolas.
“Foi o estopim. Não se trata mais de um protesto de mulheres para mulheres. Os iranianos estão insatisfeitos com a falta de liberdade e querem mudança”, opina.
Desde que emigrou para o Brasil ainda adolescente, Imani já voltou ao Irã algumas vezes. Em uma delas, conta ter vivido na pele a repressão do regime, em suas palavras, “autoritário” — e que muitos iranianos que participam dos protestos vêm sofrendo atualmente.
“Viajei ao Irã com minha irmã e meu sobrinho, que é brasileiro. Estávamos em Teerã e nos vimos em meio a um protesto estudantil. Não sabíamos do que se tratava e nem estávamos ali para aderir à manifestação. Mesmo assim, fomos agredidos pela Guarda Revolucionária.”
Crédito, Arquivo pessoal
Parnaz Imani (de rosa, à direita) e sua irmã em visita ao Irã
“Havia policiais dos dois lados da rua e uma espécie de ‘corredor polonês’. Meu sobrinho, que nunca tinha passado por situação semelhante, ficou sem entender nada. Batiam em nossas coxas e em nossas pernas com cassetetes. Estávamos ali na hora errada”.
“A questão da democracia no Irã nunca foi muito liberal, no sentido de poder discordar do governo e dizer o que pensam. Mas, após a Revolução, nos foi tirada a liberdade de poder viver e ter sonhos”.
“Ou seja, poder ter no horizonte algum futuro promissor. Infelizmente, no Irã de agora, esse tipo de pensamento não é mais possível. Principalmente, para os bahá’í. Os bahá’í sobrevivem”.
“A vida de todos fica comprometida. Você vive sem perspectivas”.
E ela conclui a entrevista em tom emocionado.
Conta que, após tantos anos vivendo em território brasileiro, já se acostumou à vida do Brasil, com exceção do “verão amazônico” (“Dentro de casa, às vezes, a temperatura chega a 37ºC”), mas sente muita falta “da convivência familiar”.
“A convivência é do que mais sinto falta. Uma parte do conhecimento e de sabedoria da vida, você aprende não nos livros, mas na convivência. Então, muita coisa que vivo, penso, analiso e reflito, aprendi com meus pais. E meus pais aprenderam com os pais deles. Ou com seus tios ou avós. E tudo isso é transmitido pela convivência. E fico muito triste de saber que meu filho não teve esse privilégio. Porque é algo que não tem volta.”
 Hoje Pernambuco Notícias a toda hora!
Hoje Pernambuco Notícias a toda hora!
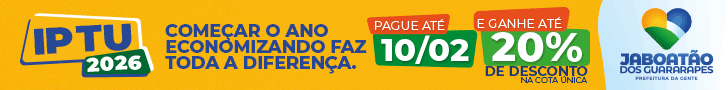




Você precisa fazer login para comentar.