- Daniel Salomão Roque
- De São Paulo para a BBC News Brasil
Crédito, Arquivo Público do Estado de São Paulo
Uniformizados, os detentos quebram pedras numa estrada. O discurso de regeneração pelo trabalho justificava todas as medidas tomadas pela direção do presídio
São Paulo, 20 de junho de 1952. Às 8h30 daquela sexta-feira, um grupo de presos assumia o controle do Instituto Correcional da Ilha Anchieta, no litoral norte do Estado. A penitenciária, localizada num terreno íngreme, a 700 metros do continente, contava então com um expediente reduzido.
Graças aos festejos de São João, apenas 17 funcionários civis e 28 militares prestavam serviço no dia — em datas comuns, esse número dobrava. Portugal de Souza Pacheco, o chefe de disciplina, permanecia na ilha, assando leitões para uma confraternização familiar. Depois disso, ele talvez se dedicasse a seus afazeres mais cotidianos — espancamentos e sessões de tortura.
Ninguém foi capaz de barrar os 453 detentos que ali cumpriam pena. Os encarcerados libertaram companheiros, saquearam cofres, destruíram edificações, queimaram prontuários e fugiram em canoas. Às 13h, 129 presos já haviam alcançado as praias no município de Ubatuba, a 220 quilômetros da capital paulista — 108 seriam recapturados, quinze morreriam e seis desapareceram. Nove guardas foram executados — um deles, Bento Moreira, em circunstâncias desconhecidas.
No dia 3 de setembro de 1955, a penitenciária encerrou suas atividades. Uma semana depois, o filme Mãos Sangrentas, dirigido pelo argentino Carlos Hugo Christensen, representaria o Brasil no Festival de Veneza. Trata-se de uma coprodução internacional, livremente inspirada no caso: o galã mexicano Arturo de Córdova interpreta um dos fugitivos, e Tônia Carrero, uma prostituta apaixonada por ele. O longa-metragem circulou, com relativo sucesso, pela Europa Ocidental, América Latina e Estados Unidos.
“A imprensa francesa e a americana haviam repercutido todo o processo de captura dos presos”, afirma Dirceu Franco Ferreira, doutorando em História Econômica pela Universidade de São Paulo (USP) e autor de Rebelião e Reforma Prisional em São Paulo (Editora Revan).
“Tanto na França como nos Estados Unidos, o assunto estava na ordem do dia. Foi um período de grandes sublevações nos presídios daqueles países, e talvez por isso a cobertura jornalística tenha assumido um caráter anedótico, com muitas fantasias sobre homens que se embrenhavam nas serras e atravessavam o mar”.
No Brasil, as manchetes vinham carregadas de superlativos. Segundo a revista O Cruzeiro, aquela havia sido a “maior evasão do mundo”. Os fugitivos, de acordo com o Diário da Noite, eram “os mais perigosos elementos do crime e da delinquência de São Paulo”.
Para José Guilherme Viegas, correspondente do jornal A Noite, o motim excedia “a tudo que se pode imaginar em matéria de violência e selvageria”, ofuscando “com sua brutalidade a tudo o que já foi descrito nos romances de aventura e nas produções cinematográficas”.
Crédito, Biblioteca Nacional
As primeiras notícias sobre o motim chegaram ao público no dia 21 de junho de 1952. Mas os números divulgados nem sempre correspondiam à realidade
Hoje, uma análise do episódio passa por critérios diversos. “Em termos de óbitos, os números parecem até tímidos, quando nos recordamos de massacres posteriores”, avalia Ferreira. “Por outro lado, aquela fuga era algo sem precedentes, e só pode ser comparada a experiências mais contemporâneas. Além disso, a rebelião teve um impacto fundamental na história do sistema carcerário paulista, pois acelerou projetos ambiciosos que já estavam em pauta há bastante tempo.”
Classes perigosas
O mais significativo desses projetos, esboçado em 1928, foi entregue apenas três décadas depois: a Casa de Detenção do Carandiru, aberta em 11 de setembro de 1956, em um terreno próximo à Penitenciária do Estado. No dia 2 de outubro de 1992, às vésperas das eleições municipais, 111 presos seriam chacinados no pavilhão 9 — essa é considerada a pior tragédia já ocorrida num presídio brasileiro.
As fotografias do massacre, com suas vítimas nuas e corredores lavados de sangue, ocupam no imaginário nacional um espaço antes preenchido pelos registros da Anchieta. Complementadas por imagens em preto e branco, as narrativas dos anos 1950 estabeleciam um contraste entre a exuberante geografia local e a psique supostamente bárbara dos encarcerados.
Assim, o locutor de Mãos Sangrentas, já na abertura do filme, anunciava às plateias o que elas veriam ao longo dos minutos seguintes: “Uma ilha de paz e beleza. Paisagem cheia de poesia. Praias luminosas. Uma ilha de sonho. Ninguém poderia imaginar as feras que ela oculta. Nem tigres, nem leões. Feras humanas. Homens transformados em feras pelo destino e pela sociedade. Nossa história é apenas o relato de um fato real.”
Crédito, Internet Movie Database
Cartaz mexicano do filme Mãos Sangrentas, livremente inspirado no caso. Arturo de Córdova interpreta um dos fugitivos, e Tônia Carrero, uma prostituta apaixonada por ele
Semelhante perspectiva tinha raízes no século 19: “A Ilha Anchieta nasce como um espaço de regeneração dos vícios urbanos”, explica Ferreira. “A princípio, seu objetivo era isolar os vagabundos, alcoólatras e degenerados, para que se ocupassem ao ar livre”.
O Código Criminal de 1830, sancionado pouco antes da abdicação de Dom Pedro 1º, já previa em seu artigo 311 a pena de “prisão com trabalho logo que houverem casas de correção nos lugares em que os réus estiverem cumprindo as sentenças”.
O Código Penal de 1890, promulgado no início da República, ampliaria essa premissa, estipulando, para “vadios” e “capoeiras”, até três anos de reclusão em “colônias penais que se fundarem em ilhas marítimas, ou nas fronteiras do território nacional, podendo para esse fim ser aproveitados os presídios militares existentes”.
São Paulo atravessava então um período de grandes mudanças — suas indústrias se expandiam, assim como suas lavouras cafeeiras e contingente populacional: em 1890, a capital contava com 70 mil habitantes; em 1920, eles seriam 580 mil.
A estrutura urbana, porém, não absorveu um crescimento tão acelerado. Frente ao desemprego, à pobreza e à criminalidade, os governantes reivindicavam a criação de institutos para disciplinar as chamadas “classes perigosas”. A Penitenciária do Estado, que inauguraria o Complexo do Carandiru, atraiu para si boa parte das verbas — seu projeto arquitetônico abrangia refeitórios e alojamentos para 1,2 mil indivíduos.
Mas, antes que o prédio iniciasse suas atividades, empreendimentos menos onerosos saíram do papel — entre eles, a Colônia Correcional da Ilha dos Porcos, uma das primeiras instituições carcerárias a serem fundadas no município de Ubatuba, em 14 de fevereiro de 1907. Dali a quatro décadas, seus pavilhões seriam ampliados, e a cadeia ganharia o nome pelo qual se tornou mais conhecida — Instituto Correcional da Ilha Anchieta. Suas celas, agora, confinavam não apenas supostos vagabundos, mas também indivíduos à espera de um julgamento, ou condenados a penas mais longas.
“É um processo bem típico de países que se forjam na colonização”, observa Ferreira. “Essa experiência dilapida territórios e encara os trabalhadores como uma grande massa a ser desgastada ao limite. Sempre que possível, as classes populares serão excluídas do convívio social e trancafiadas num recinto especialmente concebido para matá-las. Quando o povo sobrevive, é só uma questão de sorte.”
Segurança máxima?
Crédito, Arquivo Público do Estado de São Paulo
O presídio da Ilha Anchieta, em foto dos anos 1940
Nos anos 1940, o sistema penitenciário paulista encontrava-se à beira do colapso, em meio a uma atividade policial cada vez mais intensa. Para driblar a superlotação, o governo estadual abriu xadrezes provisórios em cidades do interior, detendo cerca de 50 mil pessoas ao ano.
“As carceragens das delegacias já não suportavam mais”, afirma Ferreira. “Eram galpões improvisados e precários, verdadeiros depósitos humanos. Se você gasta muito dinheiro na polícia, sem um investimento equivalente nas prisões, o que acontece? Você degenera o sistema prisional, e as rebeliões estouram.”
A transferência para a Ilha Anchieta tornou-se, assim, uma punição comum a detentos envolvidos em brigas, fugas e motins: “Eles ficavam pelo menos quinze dias trancados nas solitárias, para depois enfrentar castigos físicos e o que havia de pior nos trabalhos forçados”, explica o historiador. “Criou-se toda uma aura, como se aquilo representasse um presídio de segurança máxima, mas isso nunca correspondeu à realidade. Como prova, temos as quase 130 pessoas que escaparam de lá”.
Em inquéritos conduzidos pelo Departamento Estadual de Ordem Política e Social (Deops) e pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), os presos relatariam às autoridades as causas da fuga em massa: uma rotina de fome, negligência médica e, sobretudo, espancamentos.
Em uma visita às instalações locais, os deputados paulistas enojaram-se com o aspecto da cozinha e o mau cheiro das celas. Constataram, igualmente, que a enfermaria não dispunha nem sequer de antibióticos, e que todo o discurso em prol da labuta se resumia a uma falácia: “A laborterapia, como a compreende a moderna ciência penal-penitenciária, não existe na ilha”, sentenciaram em relatório. “Cortar lenha no mato, para acender velho e rudimentar fogão, não é trabalho que recupere ou regenere criminosos”.
O prisioneiro Eurico Silva Filho, vulgo Capitão Carnera Negro, comparava o diretor do instituto, Fausto Sadi Ferreira, a um “chefe de campo de concentração”. Alcino Cândido Gomes, vulgo Mocoroa, queixava-se de dores nas costas e sangue nas fezes — sequelas de uma surra que lhe custara dois meses de internação. José Ballinger, vulgo Alemão, alegou não ter “relações de amizade com outros detentos, por medo de ser identificado como sem vergonha ou pederasta” — afinal, seus colegas Gerico e China Show haviam “sido espancados por isso”.
Jorge Floriano, o China Show, tinha olhos puxados, trabalhava como funileiro e cumpria sete anos de cadeia por furto. No inquérito do Deops, refere-se a si mesmo como “uma das maiores vítimas desse regime” — pelo menos um funcionário, o almoxarife José Teixeira Pinto, testemunhara sessões de tortura nas quais o detento, com feridas abertas, era obrigado a tomar banho de mar.
O delegado Benedito Nunes Dias, em seu livro O Motim da Ilha – Episódios Policiais (Editora Soma), narra uma suposta origem para a alcunha do presidiário: “Ele próprio gostava de demonstrar resistência física e fortaleza de ânimo ao ser punido disciplinarmente. Praticava faltas para ser castigado e, quando isso acontecia, o ‘china’ dava show, daí o apelido China Show”.
A obra também aponta Floriano como “segundo homem do movimento” — o primeiro seria João Pereira Lima.
Pereira Lima nascera em 1921, no município paulista de Serra Negra. Em 1938, alistou-se como voluntário na Força Pública, de onde teria sido expulso por má conduta. Condenado pelo homicídio de Teodomiro Freitas, sargento do Exército que se embriagava num prostíbulo da capital, empreendeu uma série de fugas até conquistar a liberdade, em maio de 1946.
Pouco depois, foi contratado como escriturário numa agência do banco Bradesco — ali, preenchia formulários, orientava clientes e exercia funções de controle administrativo. Seu registro profissional, anexado no inquérito da Alesp, aponta que ele tinha formação primária, era casado com uma professora, vivia no bairro de Santana e pedira demissão em 1947.
No ano seguinte, foi indiciado por dois assaltos e conduzido ao presídio da Avenida Tiradentes, no Centro da cidade. Em 23 de maio de 1948, junto a outros detentos da instituição, liderou um motim que culminaria num longo tiroteio. Embora não tenha deixado mortos, o enfrentamento com as tropas de choque durou quatro horas, sendo descrito pelo Correio Paulistano como “um dos mais graves acontecimentos dos últimos tempos”.
Ao Deops, Pereira Lima alegaria ter oito passagens pela Ilha Anchieta — a última, três meses antes da rebelião.
“Infelizmente, somos obrigados a fazer isso”
Às 7h daquela sexta-feira, 20 de junho de 1952, 117 presos se dirigiam ao Morro do Papagaio, um local utilizado para o corte e armazenamento de lenha na ilha. Três praças militares e dois guardas civis, alheios aos planos dos encarcerados, os escoltariam durante o trajeto de noventa minutos. Mas, naquela manhã, os homens não estavam dispostos a trabalhar.
Às 8h30, o quinteto foi dominado. Geraldo Braga, um dos guardas, levou golpes de machado na cabeça; os demais funcionários, imobilizados com cipó, teriam seus armamentos subtraídos. Hilário Rosa, único soldado a oferecer resistência, foi morto a tiros, o que contrariava uma ordem prévia, de se evitar ruídos — a menos de um quilômetro, localizava-se o quartel da Força Pública, e a invasão fracassaria caso as autoridades ouvissem qualquer disparo.
Crédito, Biblioteca Nacional
Jorge Floriano, o China Show, declarava-se ‘uma das maiores vítimas’ do regime instaurado na Ilha Anchieta. O detento foi submetido a inúmeras sessões de tortura
Gerico e Pereira Lima logo atravessaram a porta do edifício. Enquanto o pânico se instaurava entre militares, os presos iam saqueando a reserva de armas. China Show deu início a um tiroteio, e outros quatro soldados morreram. Os rebeldes, por fim, se dividiram.
Um grupo marchou até a casa do diretor, abrindo fogo contra as paredes do imóvel. Do lado de fora, Pereira Lima anunciava uma proposta, imediatamente aceita: ele garantia a integridade física de todos os moradores da ilha, sobretudo mulheres e crianças, contanto que Sadi Ferreira deixasse sua residência.
Não muito longe, Gerico coordenava o ataque ao presídio. Alguns funcionários haviam fugido; outros, escondiam-se nos armários e banheiros dos pavilhões. Sem maiores dificuldades, os revoltosos quebravam cadeados, libertando dezenas de detentos.
Arrastado pelas massas em direção ao pátio, o carcereiro Oswaldo Santos, vulgo Fairbanks, morreu depois de um linchamento. Segundo testemunhas ouvidas pelo Deops, seus agressores gritavam:
“Mata essa peste.”
“Vou matar esse desgraçado para não sofrer mais.”
“Não vou lhe matar, que não sou covarde. Vou fazer só o que você fez para mim.”
Amedrontado na cozinha de casa, Portugal de Souza Pacheco já não assava leitões. Às 9h30, o chefe de disciplina se uniu aos quatro filhos para rezar. Sua esposa, Odete, também estava lá, e narraria aos investigadores a morte do marido.
Ao pisar no quintal, Pacheco deu de cara com Gerico, descrito como um sujeito “preto e forte, de nariz chato, com chapéu de palha na cabeça, armado de mosquetão”. As janelas da residência foram quebradas, e um preso, conhecido pela alcunha de Durinho, perguntou a Odete se ela possuía armamentos.
A viúva, exibindo ao detento uma Bíblia, teria dito que ali “havia apenas a arma de Cristo”. Durinho, segundo o Deops, respondeu: “A paz esteja convosco. Feche bem a porta e fique quietinha, pois a senhora nada tem a temer. Infelizmente, somos obrigados a fazer isso”.
Crédito, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
Amarrado à carroceria de um caminhão, o corpo de um fugitivo é exposto a dezenas de curiosos.
Quando os disparos enfim ressoaram, nuvens de fumaça cobriam o céu. Eram 10h30, e o fogo havia tomado os corredores do prédio administrativo. Logo em frente, Benedito Filadelfo, vulgo Sacudo, e William Saud, vulgo Patolinha, desentenderam-se com Melquíades Alves de Oliveira, sargento por eles acusado de “esculachar os presos”. O militar foi morto a tiros de espingarda e golpes de sabre.
No armazém, os detentos se enfiavam em vestimentas roubadas, para despistar a população assim que chegassem ao continente. Dali a alguns momentos, pilhariam o barracão de pesca, retirando as canoas, lanchas e jangadas com os quais se lançariam ao mar.
“O massacre poderia ter sido bem pior”, acredita Ferreira. “Se os presos fossem mesmo tão bárbaros, chacinariam várias famílias que moravam ali na Ilha Anchieta. Mas, pelo que mapeei, essas mortes ocorreram todas por vingança, restringindo-se a um grupo de funcionários envolvidos em castigos corporais. Antes, eles chicoteavam o China Show, e, agora, o China Show corria atrás deles com uma Winchester.”
Democracia e barbárie
As notícias não tardaram a chegar ao gabinete de Elpídio Reali, então secretário de segurança do Estado de São Paulo. No dia 21, para os trabalhos de recaptura, ele mobilizou o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, as polícias Civil e Militar, além dos habitantes de municípios litorâneos que se dispusessem a pegar em armas contra os detentos.
“Houve um esforço desproporcional”, afirma Ferreira. “Os caras deslocaram até submarino de guerra para reprimir presos comuns. E a imprensa legitimava essa abordagem, dizendo que os fugitivos portavam material bélico pesadíssimo”.
A operação foi marcada por espancamentos, assassinatos à queima-roupa e supostos suicídios — nenhum deles investigado pelo Deops. Os corpos, muitas vezes disformes, eram expostos em praça pública, ou mutilados sob pretexto de identificação datiloscópica.
Sacudo, em retaliação à morte de Melquíades, seria executado numa diligência policial. Francisco Barriento, vulgo Espanhol, não aderira ao motim e aguardava um alvará de soltura, mas perdeu a vida ao render-se com as mãos para o alto.
Geraldo Fonseca de Souza, vulgo Diabo Louro, levou um tiro na perna e outro na omoplata, dentro da própria cela.
Benedito Ferreira de Barros, após repetidas pancadas na cabeça, dorso e abdome, morreu na Penitenciária do Estado, onde outros dois revoltosos, Sebastião Araújo e Rubens Rosa, teriam se matado. José da Silva, um dos assassinos de Fairbanks, alegadamente se enforcou num banheiro do Instituto Correcional da Ilha Anchieta.
“Para anunciar um reestabelecimento da ordem, era necessário prender o líder”, explica Ferreira. “Mas a rebelião tinha várias lideranças, de modo que os policiais elegeram Pereira Lima, o último a ser encontrado. E assim ele se transforma num grande troféu da pacificação, um símbolo daquela massa carcerária que vinha ameaçando o litoral.”
Incólume a violências e linchamentos, Pereira Lima teve melhor sorte que seus companheiros. No município paulista de Cunha, o ex-bancário foi introduzido numa viatura, tirando fotos com os representantes da lei. Ao Deops, afirmou ter sido muito bem tratado por Nicolau Mário Centola, o chefe da diligência.
Crédito, Arquivo Público do Estado de São Paulo
A captura de Pereira Lima: o fugitivo está no centro da viatura, entre um motorista e o delegado Nicolau Mário Centola
“Devido a uma tradição de enfrentamento com as autoridades, esses fugitivos já eram célebres na crônica policial da época”, argumenta Ferreira. “Diferente, por exemplo, dos 111 mortos no Carandiru, todos anônimos e réus primários”.
O historiador observa que não houve rebelião no dia 2 de outubro de 1992, mas sim uma briga, que se alastrou pelo Pavilhão 9: “Como não havia rebelião, não havia liderança. E como não havia liderança, não havia reivindicações. E como não havia reivindicações, não havia o que ser negociado. Essa foi a chave para que a polícia massacrasse todo mundo ali dentro.”
Singularidades à parte, Ferreira acredita que Anchieta e Carandiru tenham pontos em comum: ambas as instituições foram vetores de barbárie em momentos pretensamente democráticos da história nacional.
“Isso gera um efeito político avassalador, explicitando os limites da nossa civilização. Aquilo que a gente chama de constituição cidadã, o Estado rasga na bala do fuzil. É esse o recado que eles estão dando desde sempre.”
 Hoje Pernambuco Notícias a toda hora!
Hoje Pernambuco Notícias a toda hora!
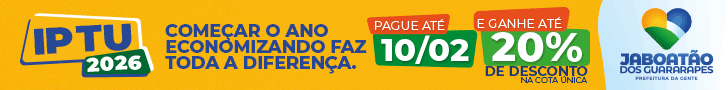




Você precisa fazer login para comentar.