Crédito, Getty Images
Um garoto palestino em Maghazi, no centro de Gaza
- Author, Jeremy Bowen
- Role, Da BBC News em Israel
Todas as guerras, exceto as mais curtas, passam por momentos em que matar é uma rotina imutável e sombria.
Há também períodos, como os últimos dias no Oriente Médio, em que os acontecimentos deixam os beligerantes e os seus aliados numa encruzilhada com grandes decisões que precisam ser tomadas.
As escolhas confrontam os líderes dos governos e das forças armadas em Israel e no Teerã, na sede do Hezbollah nos subúrbios a sul de Beirute e mais longe no Golfo, na Europa e na América.
O assassinato de trabalhadores humanitários estrangeiros em Gaza poderá finalmente esgotar a paciência considerável dos aliados de Israel, liderados pelos Estados Unidos.
Israel e o Egito proibiram jornalistas estrangeiros de entrar em Gaza, exceto em visitas ocasionais a militares isralenses, em situações altamente controladas e breves.
Os israelenses precisam vencer a batalha midiática numa era de guerra assimétrica, onde a vitória ou a derrota podem depender tanto das percepções como das realidades da batalha. Aos jornalistas o acesso a uma guerra costuma ser negado quando as partes que a combatem têm algo a esconder.
Mas mesmo sem repórteres estrangeiros no local, acumulam-se provas de que Israel não está, como alega, respeitando as suas obrigações sobre as leis da guerra de respeitar as vidas dos civis, ou permitir a livre circulação de ajuda numa situação de fome criada pelas próprias ações de Israel.
Depois da equipe da Cozinha Central Mundial ter sido morta em Gaza, o Presidente Biden adotou uma postura mais incisiva em declarações públicas para condenar as ações de Israel.
O presidente e os seus assessores agora precisam decidir se as palavras são suficientes. Até agora, têm resistido aos apelos para impor condições à utilização de armas americanas em Gaza, ou mesmo para desligar a linha de abastecimento.
Enquanto as armas ainda chegam, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que depende dos ultranacionalistas judeus de linha dura para permanecer no cargo, pode sentir que ainda pode se dar ao luxo de desafiar o presidente Biden.
Um grande teste será a ofensiva que Israel planeja contra o Hamas em Rafah, planos que os EUA acreditam que agravariam a catástrofe humanitária em Gaza. Os interesses americanos e as perspectivas políticas de Joe Biden num ano eleitoral já foram prejudicados pelo que é visto em muitos países como cumplicidade com Israel.
Em outro episódio desta semana, Netanyahu voltou ao trabalho depois de dois dias de folga para uma cirurgia de hérnia, em meio a grandes manifestações exigindo sua renúncia e eleições antecipadas para um novo parlamento.
As profundas fissuras culturais e políticas entre os israelenses, que foram colocadas de lado depois de 7 de Outubro, estão novamente abertas e são alvos de gritos nas ruas. O primeiro-ministro está em apuros políticos, responsabilizado pelos seus oponentes por baixar tanto a guarda de Israel que o Hamas encontrou uma oportunidade para atacar.
Crédito, EPA
Manifestantes querem que Netanyahu renuncie
Milhões de israelenses que acreditam que tem sido travada uma guerra justa contra o Hamas não confiam em Netanyahu.
Essa descrença inclui a percepção de que o prolongamento da guerra é uma forma de adiar o momento em que ele será responsabilizado pelos seus erros, por não ter conseguido trazer os reféns de Israel para casa em segurança e por alienar aliados vitais, começando pelo presidente Biden.
Acrescente a isso o fato de que, após um enorme ataque durante seis meses, o Hamas ainda está em luta, e o seu principal líder em Gaza, Yahya Sinwar, permanece vivo.
Outro novo conjunto de cálculos sobre as próximas fases da crise no Oriente Médio surge do assassinato de um importante general iraniano em Damasco, amplamente considerado em Israel como sendo obra da sua força aérea. Foi um golpe para os serviços de inteligência que ignoraram ou não atuaram na prevenção aos ataques do Hamas há seis meses. Foi também uma escalada na guerra mais ampla na região que terá consequências.
Algumas delas podem acontecer perto de onde estou escrevendo isto, olhando para o outro lado do Mar da Galileia em direção às Colinas de Golã, a grande faixa do sul da Síria que Israel capturou na guerra de 1967 no Oriente Médio e mais tarde anexou.
Em linha reta, Damasco fica a menos de 80 quilômetros daqui. A fronteira com o Líbano fica próxima. Especialmente à noite, há constante atividade aérea israelense, com o ruído dos jatos em patrulha ou bombardeios no Líbano ou na Síria.
Uma guerra paralela tem sido travada em meio ao conflito em Gaza desde outubro passado. Tudo começou com o Hezbollah, a poderosa milícia e movimento político libanês que ataca Israel, em apoio ao Hamas em Gaza. Não foi o ataque que a liderança do Hamas esperava – nem o Hezbollah nem os seus patronos em Teerã queriam uma guerra total com Israel e, indiretamente, com os seus aliados americanos. Os americanos também não queriam isso e refrearam o instinto de Israel de responder com força total.
Mas o Hezbollah ainda prendeu milhares de soldados israelenses e forçou a evacuação de cerca de 80 mil civis das zonas fronteiriças. A resposta de Israel, limitada em comparação com guerras fronteiriças anteriores, forçou a deslocação de pelo menos o mesmo número de civis do lado libanês.
Desde o início deste ano tem sido diferente. Israel tem ditado o ritmo, bombardeando os seus inimigos mais profundamente no Líbano e na Síria. O maior salto na escalada ocorreu na segunda-feira (1/4) com o assassinato por ataque aéreo ao complexo diplomático iraniano na capital síria.
Crédito, Reuters
Irã acusa Israel de realizar o ataque aéreo ao seu edifício consular em Damasco
Em entrevistas no norte de Israel, autoridades locais expressaram forte apoio não apenas ao assassinato, mas a uma invasão do sul do Líbano para destruir o Hezbollah e forçá-lo a abandonar a fronteira.
O Hezbollah não se deixou intimidar pela experiência de Israel nas últimas duas décadas do século XX, quando ocupou uma ampla faixa do Sul do Líbano para tentar proteger o Norte de Israel. Até criou a sua própria milícia libanesa para ajudar nos combates. Os israelenses se retiraram em 2000, sob constante assédio militar do Hezbollah, depois de o primeiro-ministro Ehud Barak, antigo chefe do exército, ter decidido que a ocupação do sul do Líbano (Israel chamava de “zona de segurança”) não deixava os israelenses mais seguros e isso ainda desperdiçava as vidas de suas tropas.
Caminhei pelas ruínas da vinícola Avivim, que fica bem na fronteira. Foi destruída em um ataque do Hezbollah na semana passada. Seu proprietário, Shlomi Biton, me mostrou os destroços de seu negócio. Ele tem 47 anos e nasceu em Avivim, que como o resto do norte de Israel se tornou uma cidade fantasma após as evacuações. Shlomi lutou no Líbano durante o seu serviço militar e agora acredita que a única maneira de restaurar uma vida decente e segura na região é por meio de um retorno de Israel ao Líbano para uma batalha decisiva com o Hezbollah.
“Não há outra escolha”, ele me disse depois de seu negócio ser destruído. “Caso contrário, a comunidade não voltará a viver aqui, talvez apenas alguns malucos como eu – as crianças não voltarão”.
Em Kiryat Shmona, uma cidade fronteiriça onde viviam 25 mil israelenses, não restam mais de 3 mil pessoas, a maioria soldados e trabalhadores essenciais. O presidente da Câmara, Avichai Stern, me mostrou bairros desertos e edifícios destruídos. Ele acredita que Israel pode eliminar a ameaça do Hezbollah ao norte com uma invasão decisiva e destrutiva nos moldes da guerra de Gaza.
O prefeito de Kyriat Shmona, Avichai Stern, mostra fragmentos de estilhaços de um ataque do Hezbollah em prédios residenciais na cidade
O prefeito Stern disse que no ano passado 10 mil combatentes do Hezbollah atuaram na tomada do norte de Israel.
“Isso pode acontecer aqui”, ele me disse, “assim como em Gaza. Eles não estavam treinando para direcionar o tráfego em Beirute. A única maneira de impedir isso é ir para o Líbano e eliminar esta ameaça o mais rápido possível.”
Há exatamente seis meses, em completo segredo, o Hamas estava dando os retoques finais ao plano de batalha que chamou de inundação de Al-Aqsa. O assassinato de 7 de Outubro e tudo o que se seguiu destruiu a ideia preguiçosa e esperançosa de que seria possível gerir o conflito de um século entre árabes e judeus pelo controle da terra entre o rio Jordão e o Mar Mediterrâneo.
O Hamas empurrou o conflito de volta para o topo da agenda mundial quando matou cerca de 1.200 pessoas, a maioria civis israelenses, e levou mais de 250 israelenses e cidadãos estrangeiros para Gaza como reféns. Acredita-se que muitos dos 134 israelenses que ainda estão no local estejam mortos. Foi o pior dia para Israel desde que venceu a guerra de independência em 1948.
A “poderosa vingança” prometida por Netanyahu já matou mais de 32 mil palestinos, a maioria dos quais eram civis. O poder de fogo de Israel fornecido pelos EUA destruiu a maior parte de Gaza. A guerra se espalhou por todo o Oriente Médio. Agora pode estar entrando em uma nova fase.
As fronteiras entre Israel e o Líbano são enganosamente bonitas nas primeiras semanas da primavera. Flores silvestres e pinhas, e não estilhaços, estavam sob meus pés enquanto eu caminhava por um trecho da fronteira com oficiais militares israelenses.
Qualquer sensação de paz era, obviamente, uma ilusão numa das fronteiras mais perigosas do Médio Oriente. O Irã e o Hezbollah estão tomando decisões sobre como responder aos assassinatos em Damasco e à forma como Israel está aumentando a pressão militar no Líbano. Os dois aliados irão querer calibrar a sua resposta para evitar uma guerra mais ampla e devastadora que nenhum deles deseja.
Israel também não quer essa guerra. Mas o audacioso assassinato no complexo diplomático iraniano em Damasco pode ser um sinal de que Israel acredita que o Irã e a rede que chama de eixo de resistência podem cair primeiro. Se assim for, é uma estratégia arriscada. O Irã poderá restaurar a sua capacidade de dissuadir Israel, o que claramente não está funcionando. Tentará responder de uma forma que pegue Israel de surpresa.
As comunidades fronteiriças vazias e cobertas de vegetação não serão provavelmente a primeira escolha do Irã para retaliação. Eles podem tentar um alvo israelense em outro país, ou ataques cibernéticos em vez de mísseis. Ou intensificar o seu programa nuclear.
Um enviado americano, Amos Hochstein, está tentando encontrar uma forma de reavivar a resolução do Conselho de Segurança da ONU que pôs fim à última grande guerra entre o Hezbollah e Israel em 2006. Nenhum dos lados a respeitou, mas proporcionou um quadro de negociação.
Nesta encruzilhada, nem Israel, nem o Irã, nem o Hezbollah querem uma guerra total que teria consequências terríveis para todos eles. Mas nenhum lado parece pronto para interromper essa tendência.
Fonte: BBC
 Hoje Pernambuco Notícias a toda hora!
Hoje Pernambuco Notícias a toda hora!
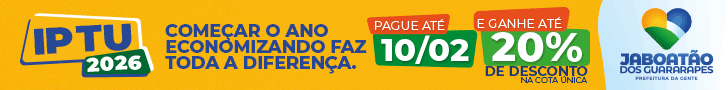




Você precisa fazer login para comentar.