- Matheus Magenta*
- Da BBC News Brasil em Londres
Crédito, Daniel Arce Lopez/BBC
A cada 10 brasileiras, 4 se consideram feministas e 6 rejeitam esse rótulo. O feminismo no Brasil, aliás, é mais bem avaliado por homens do que por mulheres. Por outro lado, a maioria das brasileiras defende pautas consideradas feministas: 70% acham insuficiente o espaço ocupado por mulheres na política, 85% veem aumento da violência contra mulheres e 60% avaliam que as leis não são adequadas para protegê-las.
Os dados acima, de uma pesquisa do instituto Datafolha em 2019, resumem uma das principais questões atuais em torno do feminismo: por que muitas mulheres defendem bandeiras feministas, mas ainda assim rejeitam o rótulo?
Esse, obviamente, não é o único conflito do movimento organizado que surgiu no fim do século 19 em torno da luta pelo direito das mulheres de votar (e de serem votadas) e que hoje abrange uma série de lutas relacionadas à defesa dos direitos das mulheres contra a discriminação e a opressão praticada na grande maioria das vezes por homens.
O movimento centenário levou a conquistas fundamentais, como o direito de votar e a redução da desigualdade salarial, mas as ações e declarações contra a dominação ou a opressão masculina foram alvo de tanta resistência ou desinformação ao longo dos anos que a palavra feminista algumas vezes se tornou uma ofensa para muitas mulheres e homens.
E por quê? Há diversos motivos. Em seu livro O Feminismo é para Todos, a escritora e ativista bell hooks (ela assina o seu nome com letras minúsculas) cita um dos principais: muita gente pensa, de forma errada, que o feminismo é “anti-homem”. Mas ela explica que, na verdade, o centro do feminismo é ser anti-sexismo (ou anti-machismo), e não ser anti-homem.
Para entender todas essas questões, a BBC News Brasil explica abaixo as origens do feminismo, as ondas do movimento ao longo dos anos e por que não existe um, mas vários feminismos. Em seguida, é preciso entender as críticas ao movimento feitas por mulheres negras e por outras que atualmente rejeitam o termo feminista. Depois, vale se debruçar sobre como as mulheres se tornaram a maioria do eleitorado, mas só ocupam 15% dos assentos no Congresso brasileiro.
As origens do feminismo
O primeiro registro conhecido do termo “feminismo” data de 1837, em escritos do filósofo francês Charles Fourier, que comparava a situação das mulheres à dos escravizados. À época, a palavra derivava o termo em latim femina (“mulher”) e remetia a características e qualidades femininas. Mas décadas depois passou a ser associado aos movimentos por direitos das mulheres, e a acepção original caiu em desuso.
Como ocorre com outros termos políticos importantes (como comunista, liberal e conservador), não há consenso sobre o que realmente significa feminismo, considerado um movimento, uma filosofia política ou uma atitude em relação ao mundo.
Mas ainda assim diversas especialistas tentam explicar o que, afinal, é ser feminista.
Crédito, Getty Images
bell hooks explica que feminismo não é ser anti-homem, mas ser anti-machismo
Por exemplo: para a escritora e pesquisadora britânica Rosalind Delmar, em seu artigo “O que é Feminismo?”, “uma feminista é no mínimo alguém que acredita que mulheres sofrem discriminação por causa de seu sexo, que elas têm necessidades específicas que continuam a ser negadas e desatendidas, e que a satisfação dessas necessidades demanda uma mudança radical na ordem política, social e econômica”.
Carla Cristina Garcia, no livro Breve História do Feminismo, por sua vez, define o feminismo “como a tomada de consciência das mulheres como coletivo humano, da opressão, dominação e exploração de que foram e são objeto por parte do coletivo de homens no seio do patriarcado sob suas diferentes fases históricas, que as move em busca da liberdade de seu sexo e de todas as transformações da sociedade que sejam necessárias para este fim”.
Em seu livro O Feminismo é para Todos, hooks diz que feminismo é “um movimento para acabar com sexismo, exploração sexista e opressão”. Neste livro, ela cita como exemplo sexista a violência patriarcal, “baseada na crença de que é aceitável que um indivíduo mais poderoso controle outros por meio de várias formas de força coercitiva”.
“Assim como a maioria dos cidadãos desta nação acredita em salários iguais para funções iguais, a maioria do pessoal acredita que homens não deveriam espancar mulheres nem crianças. Ainda assim, quando dizem para essas pessoas que violência doméstica é um resultado do sexismo, que ela não vai acabar enquanto não acabar o sexismo, elas não conseguem fazer essa dedução lógica, porque isso exige desafiar e mudar maneiras fundamentais de pensar gênero”, escreve ela.
Sexismo é “o conjunto de todos e cada um dos métodos empregados no seio do patriarcado para manter em situação de inferioridade, subordinação e exploração o sexo dominado: o feminino”, explica a pesquisadora e professora Carla Cristina Garcia (PUC-SP), no livro Breve História do Feminismo.
E o que seria o patriarcado de que hooks e outras feministas falam? De acordo com o Dicionário Ideológico Feminista, organizado pela ativista e psicóloga espanhola Victoria Sau, o patriarcado é uma “forma de organização política, econômica, religiosa, social baseada na ideia de autoridade e liderança do homem, no qual se dá o predomínio dos homens sobre as mulheres, do marido sobre as esposas, do pai sobre a mãe, dos velhos sobre os jovens, e da linhagem paterna sobre a materna”.
Segundo esse dicionário, o patriarcado “surgiu da tomada de poder histórico por parte dos homens que se apropriaram da sexualidade e reprodução das mulheres e seus produtos: os filhos, criando ao mesmo tempo uma ordem simbólica por meio dos mitos e da religião que o perpetuam como única estrutura possível”.
Na história em quadrinhos Uma Breve História do Feminismo no Contexto Euro-Americano, a artista gráfica Patu e a jornalista e cientista política Antje Schrupp dizem que feminismo não é um programa de conteúdo fixo, mas uma atitude orientada pela liberdade feminina e “quem quer entender as ideias feministas precisa sempre enxergá-las em seu contexto e não deve jamais exigir uma definição inequívoca”.
Por isso, muitos pesquisadores falam em “feminismos”, como feminismo marxista, feminismo negro, feminismo radical, feminismo pós-moderno (ou interssecional) e feminismo queer (expressão da língua inglesa que significa estranho, excêntrico, e era usada pejorativamente para se referir a homossexuais, mas foi reivindicada por movimentos LGBTI, passando a designar comportamentos que não se encaixam em padrões normativos de gênero).
Ainda assim, mais uma vez, diversos especialistas tentam reunir ou explicar o que grande parte das feministas defendem em comum.
Crédito, Getty Images
Movimento feminista surgiu em torno da luta pelo direito de votar e ser votada
De acordo com o Dicionário Routledge de Política, de forma simplificada, o movimento feminista busca direitos sociais e políticos para as mulheres equivalentes aos dos homens. E, apesar das divergências entre os diversos grupos feministas, o principal pressuposto compartilhado por todos os braços do movimento é que fazemos parte de “uma tradição histórica de exploração masculina das mulheres, originada inicialmente das diferenças sexuais que levaram a uma divisão do trabalho, como, por exemplo, a criação dos filhos”.
Hoje, segundo esse dicionário, as políticas defendidas por feministas variam bastante, incluindo igualdade de oportunidades, fim da discriminação sexual em contratações e salários, creches gratuitas para retirar as desvantagens das mulheres no mercado de trabalho e ações afirmativas contra a desigualdade de gênero em vagas de emprego, candidaturas políticas e cargos de chefia.
No Dicionário do Pensamento Político, o filósofo conservador britânico Roger Scruton identifica três reivindicações frequentes entre feministas modernas, que também carregam bastante divergências entre si.
Primeiro, a reivindicação de que as diferenças biológicas entre mulheres e homens não são suficientes para explicar as diferenças atuais em seus comportamentos, papeis e status. Ou seja, essa disparidade é uma criação social baseada no poder que deve ser removida.
Segundo, a ideia de que as diferenças naturais entre homens e mulheres (como atributos físicos) não podem servir de base para a desvalorização de atributos femininos e valorização dos masculinos.
Terceiro, a ideia de que “as mulheres não devem ser incentivadas a pensar que ser completas só é possível numa relação com os homens. Mais especificamente, as mulheres devem parar de pensar suas identidades a partir da aparência aos olhos e mentes dos homens”.
Ondas do feminismo: do século 19 até hoje
Costuma-se dizer que o feminismo teve pelo menos três ondas, em geral ligadas a fases de grande mobilização do movimento feminista branco europeu ou americano. Mas a própria ideia de ondas é criticada por parte do movimento, por, entre outros pontos, ser reducionista ao sugerir uma suposta unidade nas reivindicações ou sugerir implicitamente que há períodos de “calmaria” entre uma onda e outra.
No livro Ideologias Políticas: Uma Introdução, o professor e cientista político britânico Rick Wilford (Queen’s University) explica que onda é uma metáfora usada para indicar períodos em que uma maré de novas ideias feministas surgia para transformar a paisagem política.
A primeira onda se deu do fim do século 19 até as primeiras décadas do século 20, tendo como principal bandeira o direito de votar e ser votada para as mulheres ao redor do mundo (essa vitória sufragista se daria no Brasil em 1932, por exemplo).
Apontava-se à época também como o sistema econômico vigente “se beneficiava do trabalho gratuito das mulheres nos núcleos familiares e da diferença salarial entre os sexos para gerar e ampliar lucros”, explica a filósofa e pesquisadora brasileira Ilze Zirbel (UFSC), em artigo sobre o tema.
Segundo ela, é comum afirmar que as protagonistas da primeira onda eram mulheres de classe média, mas “a maioria das manifestantes presentes nas grandes manifestações que deram visibilidade a essa onda era da classe trabalhadora, lutando contra as péssimas condições de vida e trabalho a que estavam submetidas”.
Vale lembrar que a primeira greve geral do Brasil foi iniciada em 1917 por mulheres de uma fábrica têxtil paulistana. Além disso, o chamado Dia Internacional da Mulher (8 de março) teve origem em reivindicações de operárias ao redor do mundo no início do século 20.
A segunda onda ganha força nos anos 1960, com um movimento de libertação feminina e ligado à ideia de sororidade (união de mulheres com o mesmo fim, segundo o Dicionário Priberam da Língua Portuguesa), tendo em vista a discriminação desigual que atinge mulheres de diferentes classes e etnias.
Em seu livro A Mística Feminina, um dos principais da segunda onda, a escritora e ativista americana Betty Friedan exorta as mulheres, entre outros objetivos, a se qualificarem, voltarem ao mercado de trabalho e tomarem as rédeas de seus direitos reprodutivos (graças ao surgimento da pílula anticoncepcional), se livrando assim das amarras da vida doméstica.
Desigualdade de oportunidade entre os gêneros está no centro de diversas batalhas das feministas
Por outro lado, durante a segunda onda, diversas pensadoras feministas (como Angela Davis e Lélia Gonzalez) ganharam proeminência questionando justamente ideias baseadas no ponto de vista das mulheres brancas e mais ricas. Um exemplo: muitas mulheres negras no Brasil, além das atribuições domésticas e maternas, já estavam inseridas no mercado de trabalho há décadas em postos como comerciante informal e empregada doméstica (geralmente sob condições bastante precárias).
E o que significa “libertação”? E como essa palavra se diferencia de “emancipação”?
No Dicionário de Política organizado por Norberto Bobbio e outros, a cientista política e professora italiana Ginevra Conti Odorisio (Universidade Roma Tre) ressalta que “emancipação”, simbolizada pela luta do direito ao voto, consistia na “exigência da igualdade (jurídica, política e econômica) com o homem, mas mantinha-se na esfera dos valores masculinos, implicitamente reconhecidos e aceitos”. A libertação, no entanto, prescinde “da ‘igualdade’ para afirmar a ‘diferença’ da mulher, entendida não como desigualdade ou complementaridade, mas como assunção histórica da própria alteridade e busca de valores novos para uma completa transformação da sociedade”.
A ideia de uma terceira onda surgiu por volta dos anos 1990, época em que a mídia, segundo Ilze Zirbel, divulgava que as jovens seriam “pós-feministas”, porque entendia-se que o feminismo havia garantido diversas conquistas (como acesso a educação e emprego) e, portanto, havia perdido sua razão de existir. Algo que, obviamente, não é uma realidade para todas as mulheres.
E pelo que elas lutavam? “Para aquelas a quem o acesso à educação, ao saneamento, ao aborto seguro, ao divórcio, à mobilidade básica estavam garantidos por lei, foi possível focar mais intensamente em outras questões. Para as que não viviam esse tipo de realidade, foi necessário seguir lutado por direitos mínimos de cidadania. Outras pautas seguiram sendo comuns à maioria: a luta contra a exploração, a violência física e psicológica, o feminicídio, a discriminação no trabalho, as jornadas duplas ou triplas, os privilégios masculinos.”
Além disso, explica a pesquisadora, as descrições sobre a terceira onda costumam ressaltar disputas e debates internos, sugerindo de forma equivocada que as fases anteriores tiveram unidade de demandas e de identidade (o que é ser mulher). “Feministas latinas, negras, revolucionárias, proletárias, lésbicas, pró-sexo, antipornografia (dentre outras) fomentaram o debate feminista por todo o século 20, evidenciando a grande diversidade do feminismo (de indivíduos, grupos, pautas, estratégias).”
Crédito, Getty Images
Para Judith Butler, as pessoas têm seu gênero designado ao nascer de acordo com seu sexo biológico e que isso determina a forma como são tratadas na sociedade ao longo da vida
Em mapeamento das mais diversas categorias ou vertentes do feminismo, a antropóloga e professora brasileira Fabiana Martinez (UFG) explica que geralmente o movimento traça a trajetória dos femininos a partir de “uma preocupação com igualdade e semelhança nos anos 1970, passando por diferença e diversidade nos anos 1980 e indo em direção à fragmentação dos anos 1990”.
Hoje, conta a pesquisadora, essa fragmentação é potencializada pela internet, mais especificamente nas redes sociais, onde experiências são compartilhadas a ponto de ganharem um caráter coletivo.
Segundo ela, o ciberfeminismo impulsionou diversas campanhas no Brasil a partir de 2015, numa espécie de “Primavera Feminista” mobilizadas em redes sociais, hashtags, ruas e passeatas. Esses atos problematizam questões como “o machismo, a violência contra mulheres, o assédio sexual, o estupro, a pedofilia, a segurança das mulheres em vias públicas, o racismo e as leis sobre o aborto e o feminicídio”.
Em um de seus estudos sobre o tema, a pesquisadora analisa as principais vertentes feministas citadas nesses ambientes digitais: feminismo negro, feminismo interseccional (ou pós-moderno), feminismo radical, feminismo liberal/libertário, transfeminismo, feminismo marxista/socialista/materialista e feminismo queer/LGBT.
Influenciado por feministas como a escritora francesa Simone de Beauvoir, o feminismo marxista, por exemplo, “entende que a causa da subordinação feminina está na organização da economia e no mundo do trabalho”, explica Martinez. Isso inclui, entre outros elementos, o papel feminino na esfera doméstica como reprodutora da família e a desigualdade de classe entre mulheres (patroas e empregadas).
Crédito, Getty Images
Redes sociais impulsionaram expansão e diversificação do feminismo
O feminismo radical (conhecido também como radfem), por outro lado, é influenciado por ativistas como as escritoras canadense Shulamith Firestone e americana Andrea Dworkin, além da própria Beauvoir. Uma das que mais crescem na internet, essa corrente defende que “a raiz da dominação masculina estaria no patriarcado, nos papéis sociais intrínsecos ao sistema de gênero” e faz críticas a “estruturas que consideram reforçar o gênero e seus efeitos como a maternidade, a feminilidade, a pornografia e a prostituição”, explica Martinez.
Há também o feminismo queer ou LGBT. Entre 1988 e 1993, a filósofa e escritora americana Judith Butler publicou trabalhos considerados hoje base de áreas de estudos conhecidas como teoria queer e de gênero, segundo as quais há uma diferença entre o sexo biológico e as identidades masculina e feminina que, além de serem formadas por aspectos físicos, seriam também construções sociais por receberem influências históricas e sociais.
Para ela, na sociedade contemporânea, as pessoas têm seu gênero designado ao nascer de acordo com seu sexo biológico e que isso determina a forma como são tratadas na sociedade ao longo da vida. “Claro que há aspectos nossos que são sólidos, mas também é verdade que, dependendo da forma como somos criados, da cultura em que vivemos, diferentes possibilidades de desejo emergem em nós. Ser humano é viver na interseção entre biologia e cultura”, disse ela à BBC News Brasil em 2017.
“Muitos não querem flexibilizar as categorias de gênero, mas, para outros, é uma questão de vida ou morte”, afirmou Butler. “Assim, mulheres percebem que podem fazer mais, homens podem se expressar mais, o amor gay e lésbico torna-se legítimo, as pessoas queer se veem como parte do mundo. O gênero abre para elas a possibilidade de respirar, viver, pertencer. É um espaço de compaixão para a luta que enfrentam.”
As mulheres que rejeitam o rótulo de feminista e as críticas das mulheres negras
“Alguém que lute por igualdade das minorias de um modo geral — e, consequentemente, da mulher — não tem como não ser feminista”, disse a senadora Simone Tebet (MDB-MS), hoje candidata à Presidência, em entrevista à BBC News Brasil em 2021. “(Mas) tenho dificuldade de falar que eu sou feminista.”
E por quê essa dificuldade? “É um termo que agora você não consegue mais nem definir, é uma coisa que nós vamos ter que voltar a discutir: o que é o feminismo? O que é ser feminista no Brasil, que também não se iguala a ser feminista em outros países? (…) Eu tô dizendo que, de modo geral, como tudo no Brasil também, está polarizado e há certo radicalismo. Às vezes, não me enxergam como feminista, ou, às vezes, eu tenho dificuldade, também, em dizer que sou, embora seja, porque há uma pauta ou outra em que pode ser que eu não me enquadre nesse perfil”, disse a candidata.
Para Tebet, o importante nessa discussões são atitudes, e não rótulos. “Sou uma pessoa de centro e tenho horror a essa polarização. Uma pessoa de centro como eu tem dificuldade até de se adjetivar: sou feminista ou não sou feminista? Não importa. Não adianta você ser rotulada e não seguir a cartilha, né? Então, o que importa são seus gestos e sua história.”
Crédito, Getty Images
Uma das principais críticas ao movimento feminista décadas atrás era de que ele falava em acesso ao mercado de trabalho ignorando o fato de que muitas mulheres negras já trabalhavam há décadas em condições precárias
Um estudo com 27 mil pessoas nos EUA em 2016 mostrou que dois terços dos entrevistados acreditavam que a igualdade de gênero é importante, um aumento em relação a 1977, quando pesquisas similares apontavam que um quarto dos entrevistados pensava assim.
Em uma pesquisa feita no Reino Unido em 2018, 8% das pessoas disseram concordar com papéis de gênero tradicionais — que o homem deve trabalhar e que as mulheres devem cuidar da casa. O índice era de 43% em 1984.
Se muitas pessoas acreditam que a igualdade de gênero é importante, e ainda não foi atingida, porque não há tantas pessoas — especialmente jovens mulheres — se identificando como feministas?
Pode ser que elas não se sintam representadas pelo termo, afirmam especialistas. Segundo pesquisas, mulheres de baixa renda tendem a se identificar menos com a palavra “feminismo”. Isso não significa, porém, que elas não defendem bandeiras feministas.
Cerca de 1 em cada 3 pessoas entre as classes mais altas se consideram feministas, de acordo com uma pesquisa feita na Grã-Bretanha em 2018. Em comparação, nas classes mais baixas 1 em cada cinco pessoas se identificam com esse termo.
Mas, por outro lado, pessoas de baixa renda são tão propensas a apoiar direitos iguais para homens e mulheres quanto pessoas de classes mais altas. Em todas as faixas socioeconômicas, em cada 10 pessoas, 8 concordam que homens e mulheres devem ter os mesmos direitos, de acordo com uma pesquisa britânica de 2015.
A questão racial também parece afetar a maneira como a palavra “feminista” é vista. Pesquisas com jovens dos EUA mostram que cerca de 12% das mulheres latinas se identificam como feministas, mas que o índice sobe para mulheres negras (21% se consideram feministas), asiáticas (23%) e brancas (26%).
Quase 75% de todas as mulheres disseram que o movimento feminista fez “muito” ou “algo” para melhorar a vida das mulheres brancas. Mas o índice cai para 60% quando a pergunta é se o feminismo conquistou muito para mulheres de todas as etnias. Entre as mulheres negras, só 46% acham que o feminismo melhorou a vida de mulheres de todas as etnias.
Em artigo sobre o tema, a filósofa e professora brasileira Halina Leal (Universidade Regional de Blumenau) explica que grande parte das feministas negras apontam que tanto o movimento feminista quanto o movimento negro “falharam e ainda falham ao negligenciar as peculiaridades das necessidades das mulheres negras”.
Como no momento em que somente os homens negros obtiveram direito ao voto nos Estados Unidos ou quando feministas brancas trataram apenas as necessidades de mulheres brancas de classe média e alta fosse comuns a mulheres de todas as raças, etnias e classes sociais.
Crédito, Getty Images
Direito é uma das principais questões que dividem as mulheres
“Quando falamos do mito da fragilidade feminina, que justificou historicamente a proteção paternalista dos homens sobre as mulheres, de que mulheres estamos falando? Nós, mulheres negras, fazemos parte de um contingente de mulheres, provavelmente majoritário, que nunca reconheceram em si mesmas esse mito, porque nunca fomos tratadas como frágeis. Fazemos parte de um contingente de mulheres que trabalharam durante séculos como escravas nas lavouras ou nas ruas, como vendedoras, quituteiras, prostitutas”, afirma a escritora e filósofa Sueli Carneiro no artigo “Enegrecer o Feminismo: A Situação da Mulher Negra na América Latina a partir de uma perspectiva de gênero”.
Essa diferença já havia sido levantada um século antes, mais especificamente no discurso “Eu não sou mulher?” proferido em 1851 por Sojourner Truth, abolicionista americana, ex-escravizada e ativista dos direitos das mulheres negras.
“Aquele homem ali diz que é preciso ajudar as mulheres a subir numa carruagem, é preciso carregá-las quando atravessam um lamaçal, e elas devem ocupar sempre os melhores lugares. Nunca ninguém me ajuda a subir numa carruagem, a passar por cima da lama ou me cede o melhor lugar! E não sou eu uma mulher? Olhem para mim! Olhem para meu braço! Eu capinei, eu plantei, juntei palha nos celeiros, e homem nenhum conseguiu me superar! E não sou eu uma mulher? Consegui trabalhar e comer tanto quanto um homem — quando tinha o que comer — e aguentei as chicotadas! Não sou eu uma mulher?”, afirmou Truth.
“Ser negra e mulher no Brasil, repetimos, é ser objeto de tripla discriminação, uma vez que os estereótipos gerados pelo racismo e pelo sexismo a colocam no mais baixo nível de opressão”, diz a filósofa, professora e ativista brasileira Lélia Gonzalez.
Ou seja, “as experiências das mulheres negras não se inserem nem no ser mulher nem no ser negro”, resume Leal.
Por isso, Carneiro explica que enegrecer o movimento feminista brasileira significa, entre diversos outros pontos, tratar de violência racial contra mulheres negras, formular políticas públicas também para doenças que atingem mais a população negra e contestar “mecanismos de seleção no mercado de trabalho como a ‘boa aparência’, que mantém as desigualdades e os privilégios entre as mulheres brancas e negras”.
Mulheres no centro das eleições no Brasil
Em 2002, as mulheres passaram a ser maioria no eleitorado do Brasil, e hoje, duas décadas depois, representam 53% do total — são 78 milhões de eleitoras, ante 69,5 milhões de eleitores. Mas ainda estão longe da representação equivalente no Congresso. Elas somam 15% das cadeiras, metade da média latino-americana.
Em 2018, houve uma transformação nesse campo: foi a primeira eleição presidencial desde a redemocratização em que houve uma diferença entre o voto masculino e o feminino para um candidato competitivo à Presidência: Jair Bolsonaro (então-PSL, hoje PL).
Crédito, AFP
Manifestação contra Bolsonaro batizada de Ele Não
De 1989 a 2014, homens e mulheres sempre votaram de forma equivalente nos principais candidatos presidenciais, mesmo nas eleições com candidatas com chance de vitória ou eleitas, como Marina Silva (Rede) e Dilma Rousseff (PT).
Só que na última eleição surgiu uma disparidade de gênero. Segundo análise do cientista político e especialista em eleições Jairo Nicolau, em seu livro O Brasil Dobrou à Direita, 64 homens a cada 100 votaram em Bolsonaro. Já apenas 53 em cada 100 mulheres fizeram o mesmo.
Para a pesquisadora Cecilia Machado, da FGV, em artigo sobre o tema, a principal hipótese é que esquerda e direita no Brasil não tinham “posições marcadamente antagônicas com relação ao papel das mulheres na sociedade”, como ocorre nos EUA desde os anos 1980, quando o Partido Republicano passou a adotar uma postura antiaborto, por exemplo.
Mas em 2018, Bolsonaro “iniciou no país uma discussão francamente aberta sobre como ele vê o papel da mulher na sociedade”, afirma Machado, e se tornou assim o “grande responsável pela disparidade de gênero nas intenções de voto que surgiu no Brasil”.
Nicolau aponta outras hipóteses para o apoio desproporcional entre homens e mulheres, entre eles o histórico político de Bolsonaro (ligado às demandas de militares, uma categoria majoritariamente masculina) e as bandeiras defendidas por ele (como armamento da população) que têm mais acolhida entre o eleitorado masculino.
O presidente refutou os dados que apontam uma maior rejeição feminina a sua candidatura. “Segundo pesquisa, as mulheres não votam em mim, a maioria vota na esquerda. Agora, não sei, pesquisa a gente não acredita, se há reação por parte das mulheres, faz uma visitinha em Pacaraima, Boa Vista, nos abrigos, e vê como é que estão as mulheres fugindo do paraíso socialista defendido pelo PT”, disse Bolsonaro, em referência a imigrantes oriundos da Venezuela.
A eleição de 2018 teve outro fato inédito ligado às mulheres: foi a primeira disputa em que pessoas saíram em massa às ruas não para apoiar um candidato presidencial preferido, mas para protestar contra outra. No caso, o movimento #EleNão impulsionado por mulheres de esquerda em redes sociais que resultou em dezenas de manifestações ao redor do país contrárias a Bolsonaro.
Mas logo após os protestos o candidato cresceu nas pesquisas eleitorais. Nicolau explica que os dados disponíveis não permitem saber com certeza o impacto positivo ou negativo no resultado eleitoral desses protestos, mas o pesquisador estima que “os efeitos devem ter sido mais para reforçar a identidade e os valores dos eleitores que já haviam feito suas escolhas (contra ou a favor de Bolsonaro) do que para influenciar maciçamente a definição eleitoral fora do círculo de pessoas mais ativas na política”.
Nicolau lembra como as pesquisas de intenção de voto indicavam ao longo da campanha de 2018 um apoio reduzido a Bolsonaro no eleitorado feminino, mas essa situação perdeu força a poucos dias da votação. Ele aponta algumas hipóteses. Uma delas é que historicamente o volume de indecisos é bem maior no eleitorado feminino nos dias que antecedem o pleito. “Outro fator a ser considerado é o efeito da mobilização pró-Bolsonaro de algumas lideranças evangélicas, segmento religioso majoritariamente composto por mulheres.”
Um estudo liderado pela antropóloga e professora brasileira Isabela Kalil (Fespsp) afirma que as análises sobre a subida eleitoral de Bolsonaro depois dos protestos do “Ele Não” devem levar em conta tanto “traços fortes de antifeminismo no eleitorado feminino” quanto fatores como “mudanças nas estratégias de campanha do candidato, a declaração de intenção de voto de líderes religiosos, ações de propaganda por parte de seus apoiadores e sua alta hospitalar (depois do atentado)”.
Segundo esse estudo, Bolsonaro conseguiu atrair diferentes grupos de eleitoras, entre elas aquelas que enxergavam a educação como um grande campo de batalha contra “doutrinações” da esquerda e aquelas que se veem como mulheres bem-sucedidas que atingiram seus objetivos por méritos próprios, sem precisar de ajuda de feministas e sem abrir mão da feminilidade.
Crédito, AFP
Movimento Ele Não deu origem a reações de mulheres que votavam em Bolsonaro
Uma das principais críticas feitas ao feminismo é de que parte de suas lutas atuais não atendem às demandas das “mulheres comuns”.
Muitas pensadoras feministas, no entanto, argumentam que o feminismo pretende justamente que todas as mulheres tenham a liberdade e a oportunidade de fazer suas escolhas sobre suas vidas, seja trabalhar dentro de casa ou fora dela, por exemplo.
O neologismo empoderamento, inclusive, é usado como símbolo dessa meta, de empoderar, de garantir a possibilidade de escolha.
Segundo a economista e professora de origem indiana Naila Kabeer (London School of Economics), ele é “o processo através do qual aqueles/as a quem era negada a capacidade de fazer escolhas estratégicas para sua vida adquirem tal capacidade”, explica a antropóloga e professora brasileira Cecília Sardenberg (UFBA) em artigo com um panorama do conceito.
Nesse sentido, poder é a capacidade de fazer escolhas (e de ter alternativas).
E isso passa, segundo a ativista e escritora indiana Srilatha Batliwala, também citada por Sardenberg, por construir sua própria autonomia ao se ter controle sobre recursos materiais, intelectuais e ideológicos. “Recursos, que têm estado, em grande parte, sob o controle masculino.” Ainda que seja um percurso individual, Sardenberg ressalta que essas mudanças “não acontecem sem ações coletivas” e conscientização.
*Com informações adicionais de Rafael Barifouse, da BBC News Brasil em São Paulo
Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!
 Hoje Pernambuco Notícias a toda hora!
Hoje Pernambuco Notícias a toda hora!
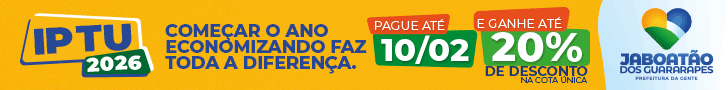




Você precisa fazer login para comentar.