- Matheus Magenta
- Da BBC News Brasil em Londres
Crédito, Daniel Arce Lopez/BBC
O famoso politicamente correto hoje é criticado por muitos lados da política brasileira.
“Me coloco diante de toda a nação, neste dia, como o dia em que o povo começou a se libertar do socialismo, da inversão de valores, do gigantismo estatal e do politicamente correto”, disse o presidente Jair Bolsonaro em sua posse em 2019. “Tá proibido contar piada. O mundo tá chato pra cacete, o mundo tá pesado, sabe? Todas as piadas agora viraram politicamente erradas”, afirmou o ex-presidente Lula, ao defender piadas sobre nordestinos em 2022.
Mas o que é o politicamente correto, afinal? Especialistas afirmam que ele surgiu como um movimento de esquerda em defesa da substituição de expressões, atitudes e percepções socialmente aceitas, mas ofensivas ou ameaçadoras para alguns grupos da sociedade, como mulheres, negros, indígenas, homossexuais e pessoas com deficiência.
Só que pouco tempo depois do surgimento do “politicamente correto”, nos anos 1970, a direita americana conseguiu associar um significado negativo à expressão: ela passou a significar uma forma de censura, de ataque à liberdade de expressão e de um suposto vitimismo.
Muitos traçam paralelos com o livro 1984, do escritor britânico George Orwell. No livro, um regime ditatorial adota uma língua oficial em que as palavras somem de livros, jornais e documentos ao serem proibidas, e as pessoas têm cada vez menos possibilidade de se expressar. No Brasil, aliás, a expressão muitas vezes é complementada como “ditadura do politicamente correto”.
Mas a briga em torno das palavras e atitudes não para por aí: muitas minorias passaram a argumentar que a expressão virou uma espécie de arma usada para silenciá-las — ou seja, elas não podem mais fazer críticas ou questionamentos porque são acusadas de ser politicamente corretas. Ou são acusadas de se vitimizarem, exagerarem, praticarem patrulha ideológica, serem sensíveis demais (“geração floco de neve”) ou fazerem mimimi (“mimizento”).
Para entender todas as camadas desse debate sobre politicamente correto, a BBC News Brasil explica as origens dessa expressão na esquerda e como ela foi apropriada pela direita. Em seguida, lembra como um livro do escritor Monteiro Lobato reacendeu esse debate no Brasil. E, por fim, detalha como os cancelamentos e a linguagem neutra deram novas formas aos embates sobre politicamente correto.
E para além disso tudo, muitos especialistas defendem que todo esse debate tem pouco impacto se a sociedade que criou essas expressões não mudar junto. Ou seja, não adianta trocar uma palavra racista por outra se o racismo continuar presente entre as pessoas.
As origens do politicamente correto?
Especialistas apontam que a expressão surgiu e se popularizou entre os anos 1970 e os anos 1990 em universidades dos Estados Unidos.
Clive Hamilton, professor de Ética Pública da Universidade Charles Sturt, na Austrália, diz que, quando surgiu, “politicamente correto” era uma espécie de paródia entre ativistas de esquerda a partir de uma tradução de textos comunistas da China, principalmente aqueles da Revolução Cultural, considerados doutrinários ou orwellianos (em referência a 1984).
“Mas se a frase ‘isso é politicamente incorreto’ era dita de forma irônica, ela também tinha uma intenção séria: desafiar o outro a pensar sobre o poder social da palavra e os estragos que ela poderia causar. À medida que essa forma de policiamento linguístico se espalhou, tornou-se um meio altamente eficaz de enfrentar os preconceitos profundamente enraizados embutidos nas palavras e expressões cotidianas”, escreveu Hamilton.
Debate sobre politicamente correto e liberdade de expressão costuma remeter à obra 1984, do escritor George Orwell (na foto)
Segundo Hamilton, “o politicamente correto era ‘político’ no sentido de que visava provocar mudanças sociais em um momento em que atitudes racistas, sexistas e homofóbicas encontravam expressão na linguagem cotidiana e não eram censuradas, embora as palavras fossem humilhantes, depreciativas ou ameaçadoras para as minorias em questão”.
O Dicionário Conciso de Política da Universidade de Oxford conta que esse influente movimento em universidades americanas defendia o princípio de ações afirmativas e noções de multiculturalismo, promovendo discursos e comportamentos antissexistas e antirracistas.
“O movimento pelo politicamente correto buscava mudanças nos currículos de graduação que enfatizassem o papel de mulheres, pessoas não brancas e homossexuais na história e na cultura, e atacava a dominação da cultura ocidental por homens brancos europeus mortos”, diz o dicionário.
Wilson Gomes, pesquisador e professor da Universidade Federal da Bahia (UFBA), explica que o politicamente correto está associado ao que se chama de identitarismo ou políticas identitárias. Segundo Gomes, essa posição dentro do espectro da esquerda passou, a partir dos anos 1960, 1970, a substituir a luta de classes pela luta identitária, numa espécie de identidade versus sociedade.
Mas qual é a diferença entre essas duas lutas? Em resumo, Gomes afirma que a luta de classes ocorre pelos meios de produção e determina que um será subalterno a outro, porque “quem tem os meios de produção controla a mais-valia (o valor criado pelo trabalhador com sua força de trabalho) e, portanto, a pobreza é uma circunstância decorrente da riqueza”.
Por outro lado, a chamada luta identitária, segundo Gomes, passa pela ideia de que existe uma determinada identidade que identifica um conjunto de pessoas social e historicamente oprimido pelo outros e pela sociedade como um todo. “Portanto, é preciso que esses grupos ganhem consciência, como a ideia da consciência de classe, e na luta identitária é uma espécie de consciência da sua própria identidade de uma minoria oprimida, seja negro, mulher, trans etc.”
Nessa perspectiva, a opressão é sistêmica, se materializa em todos os aspectos da vida social, por exemplo, e mantém essas minorias em condições subalternas. A luta identitária, portanto, passa pela tomada de consciência e pela reivindicação dessa condição. “Um dos aspectos da luta identitária diz respeito à disputa na linguagem, a disputa pela denominação das coisas, pelo modo como eles próprios são denominados. É uma luta para que tenha uma linguagem respeitosa da identidade e que, portanto, reflita essa identidade. É uma luta de uma certa maneira pela polícia vocabular, como patrulhas ideológicas, constrangimentos etc. Porque o constrangimento é importante para essa luta”, afirma Gomes.
Críticas e guerras culturais
Para além do ambiente das universidades americanas, o filósofo conservador britânico Roger Scruton explica no Dicionário do Pensamento Político que, ao longo do século 20, as pessoas passaram a ter mais consciência de que linguagem e comportamento podem contribuir com ofensas e estereótipos e reforçar atitudes que promovem a discriminação.
Assim, houve um processo gradual de reforma da linguagem política para banir termos considerados ofensivos, que acabou ganhando vida própria. Segundo Scruton, essas reformas linguísticas criaram um campo minado para aqueles que se referem a minorias com os termos incorretos.
“O conceito de politicamente correto se tornou tema de intensa polêmica nos EUA e em todos os outros lugares em que a direita o ataca como uma ameaça à liberdade de expressão e uma desculpa para caça às bruxas, enquanto a esquerda o endossa (…) como um pressuposto necessário para um debate público justo e respeitoso”, escreveu Scruton.
Crédito, Getty Images
Umas das principais luta do movimento negro se dá contra o racismo na linguagem
Em entrevista à BBC, Scruton afirmou que, à primeira vista, o politicamente correto parecer ser uma maneira de ser levantar a favor das vítimas, sejam elas mulheres, homossexuais, transgênero e outras minorias. “Mas na realidade se trata de criar vítimas.”
Segundo ele, os defensores do politicamente correto são “especialistas em se ofender, mesmo que não tenha havido ofensa” e atuam como juízes, promotores e jurados do que chamam de crime. “Eles são a voz de uma justiça inquestionável. Seu objetivo é intimidar seus oponentes, expondo-os à humilhação pública.” O filósofo inglês argumenta que o politicamente correto aproxima “acusação” e “culpa” de um “crime de pensamento” e acaba com a presunção de inocência.
Crime de pensamento é uma expressão do livro 1984, no qual o Estado totalitário que controla a linguagem também policia e pune o pensamento das pessoas.
Scruton diz que a culpa da perseguição ao livre pensamento nos dias de hoje não é apenas do politicamente correto, mas também de uma “característica da condição humana mais profunda e duradoura que vem à tona em caças às bruxas: a busca por bodes expiatórios”.
Ele cita o filósofo e historiador francês René Girard, para quem as sociedades são sujeitas a grandes rivalidades se as pessoas sofrem para ter os mesmos poderes e posses das outras.
Segundo Scruton, a desconfiança entre as pessoas leva à busca de bodes expiatórios para tentar resgatar a união da sociedade. Ou seja, as pessoas tentam curar as feridas, mas todos se acusam de ser culpados pelas divisões da sociedade.
Já Hamilton, da Universidade Charles Sturt, lembra que a busca por culpados, ou melhor, a principal reação negativa ao politicamente correto, foi disseminada por homens brancos privilegiados que se sentiam discriminados por políticas de igualdade, defendendo que “você não deve se sentir mal pelo que é, pensa ou acredita”.
Em debates promovidos pelo instituto Pew, muitos apoiadores do Partido Republicano (ao qual pertence o ex-presidente Donald Trump) falaram que a cultura politicamente correto tinha ido longe demais e demonstraram nostalgia de outras épocas, algo compartilhado pelos britânicos que apoiaram a saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit). Estes cidadãos, por sua vez, disseram ter medo de ser tachados de racistas e reclamaram que brincadeiras e piadas se tornaram proibidas.
Um dos pontos levantados por parte dos republicanos era a fragilidade daqueles que se sentiam ofendidos, os “pequenos flocos de neve (snowflakes)”, como disse um dos entrevistados na pesquisa da Pew. A expressão é algo equivalente no Brasil a termos pejorativos como “mimizento/mimizenta”, ou seja, pessoas acusadas de serem “sensíveis demais” ou de fazerem “mimimi” (choramingar, reclamar, criticar de forma exagerada etc.) quando apontam declarações ou atitudes ofensivas.
Especialistas apontam que esse tipo de reação ao politicamente correto surge em meio a uma guerra cultural em curso, fenômeno que começou nos EUA nos anos 1990 e depois se espalhou pelo mundo. Alguns apontam a origem extraoficial dessa batalha em 1992, quando o republicano Patrick Buchanan discursou que havia uma “guerra cultural tão importante para o tipo de que nação que seremos quanto a própria Guerra Fria”.
Ele identificou à época que o direito ao aborto, os direitos dos homossexuais, a discriminação religiosa e a presença das mulheres nas Forças Armadas seriam algumas das principais frentes de batalha.
Em linhas gerais, guerras culturais costumam ser descritas como o processo em que temas morais como legalização do aborto, do casamento gay ou do porte de armas se tornam centrais no debate político, ofuscando outros temas, e opõem conservadores ou de direita (pessoas de viés mais disciplinador, rigoroso e punitivo) e progressistas ou de esquerda (o oposto).
Há muita troca de acusações entre os envolvidos nessa guerra cultural. E no meio do tiroteio, há quem pense que não é para tanto, nem para tão pouco.
Melhor dizendo: há quem concorde que algumas dessas palavras e expressões são de fato ofensivas e devem ser banidas em respeito aos outros, mas também acredite que isso tudo está indo longe demais atualmente por meio de duas vertentes do politicamente correto: cancelamentos em excesso e imposição de linguagem neutra (entenda sobre esses termos mais abaixo).
Crédito, Getty Images
Para parte dos britânicos, politicamente correto promoveu aumento da tolerância e redução de piadas e falas racistas
Em 2021, o instituto de pesquisas americano Pew publicou um levantamento com cidadãos de quatro países sobre assuntos como o politicamente correto e o discurso ofensivo. Apenas na Alemanha a maioria dos cidadãos concordou que “as pessoas devem ser cuidadosas com o que dizem para evitar ofender os outros”.
Na direção oposta, a maioria das pessoas na França, nos EUA e no Reino Unido afirmou que “as pessoas hoje se ofendem fácil demais com o que os outros dizem”.
A principal divergência entre essas duas posições se dá nos EUA: 65% das pessoas de esquerda defendem o cuidado com discurso ofensivo, e apenas 23% das pessoas de direita concordam com isso.
Ideologicamente, a esquerda é a mais preocupada com o que se diz, aponta o Pew. E aponta avanços positivos, apesar de tudo. Para muitos americanos democratas (apoiadores do partido do presidente Joe Biden), a mudança no discurso melhorou práticas de negócios, por exemplo. Para britânicos contrários à saída do Reino Unido da União Europeia, o politicamente correto trouxe um aumento da tolerância e fez com que piadas racistas fossem finalmente inaceitáveis.
Monteiro Lobato e PT reacendem debate no politicamente correto no Brasil
O tema do politicamente correto dominou o debate na imprensa em dois momentos importantes da história brasileira recente.
Primeiro, em 2004, o governo Lula publicou a cartilha Politicamente Correto e Direitos Humanos, com quase 100 termos ou expressões pejorativas acompanhadas de comentários. O objetivo do documento era, segundo o então subsecretário de promoção e defesa dos direitos humanos Perly Cipriano, responsável pelo material, “chamar a atenção dos formadores de opinião para o problema do desrespeito à imagem e à dignidade das pessoas consideradas diferentes”.
“Preto de alma branca – Um dos slogans mais terríveis da ideologia do branqueamento no País, que atribui valor máximo à raça branca, e mínimo aos negros. ‘Apesar de ser preto, é gente boa’ e ‘É negro, mas tem um grande coração’ são variações dessa frase altamente racista, segregadora”, dizia um trecho da cartilha.
Outra passagem afirmava: “Branquelo – Por incrível que pareça, existe no Brasil preconceito racial contra pessoas brancas. Mais fortemente, contra membros das colônias europeias no Sul do País. ‘Branquelo’ e “branquelo azedo’ são duas das expressões pejorativas contra os brancos.”
Mas a distribuição de 5 mil exemplares acabou gerando ampla reação negativa. “É estarrecedor. Estamos ingressando numa era totalitária, em que o governo dá o primeiro passo para instituir uma nova língua e baixar normas sobre as palavras que devemos usar?”, afirmou o escritor João Ubaldo Ribeiro em sua coluna no jornal O Globo.
O material foi rechaçado pelo próprio Lula, que costuma usar vários dos termos da cartilha em seus discursos, como “louco”, “peão” e “burro”. Segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo à época, o então presidente afirmou que achava a cartilha “um absurdo, uma perda de tempo e um gasto desnecessário de dinheiro”.
Ao discutir sobre a cartilha com assessores, Lula perguntou ao secretário da pasta responsável pela cartilha, Nilmário Miranda, por que “peão” é uma palavra pejorativa.”Mas Nilmário, eu sou um peão e não me importo com isso. E também chamo as pessoas de peão.”
Seis anos depois, o tema do politicamente correto voltaria ao noticiário no Brasil, desta vez por causa do livro Caçadas de Pedrinho, de Monteiro Lobato, acusado de disseminar “preconceitos e estereótipos contra grupos étnico-raciais”.
O caso do livro, distribuído pelo governo federal a bibliotecas de escolas, teve início em 2010 por meio de uma denúncia à Ouvidoria da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Em seguida, a Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação (ligada ao Ministério da Educação) produziu pareceres sobre eventuais medidas.
Crédito, Domínio Público
Batalha judicial ligada ao livro Caçadas de Pedrinho, de Monteiro Lobato reacendeu debate sobre politicamente correto no Brasil
Entre elas, treinar professores para saber lidar com livros do tipo e acrescentar informações à obra (por meio de uma nota explicativa ou no texto de introdução) sobre o contexto da época de publicação, o escritor Monteiro Lobato e estereótipos raciais na literatura.
Um trio de pesquisadores (João Feres Júnior, Leonardo Nascimento, ambos da Uerj, e Zena Eisenberg, da PUC-Rio) que analisou o caso conta que metade dos textos opinativos na mídia tradicional publicados à época associava o caso ao politicamente correto e parte desses textos atribuía a responsabilidade à linha ideológica do PT, numa espécie de “imposição da ideologia de um grupo de militantes de esquerda autoritária sobre toda a sociedade”.
“Quem pede a suspensão de uma obra por ela conter um termo considerado discriminatório está assassinando a cultura brasileira, que a cada dia é torpedeada por novas empreitadas da patrulha do politicamente correto”, disse o lexicólogo Evanildo Bechara, membro da Academia Brasileira de Letras.
Em editorial escrito em 2011 sobre outra questão, a possibilidade de se fechar escolas voltadas a estudantes com deficiência auditiva ou visual e inclui-los na rede de escolas convencionais, o jornal O Globo retomou o tema do politicamente correto.
“O extenso histórico de medidas com o viés do politicamente correto, em obediência à linha ideológica de áreas do PT e adotadas desde o primeiro governo Lula, recomenda prudência e boa dose de ceticismo em relação ao desmentido (de que a proposta não seria adotada). Afinal, não é a primeira vez que o governo federal tenta empurrar goela abaixo da sociedade uma pílula supostamente progressista, que, na realidade, é um composto no qual mal se disfarça o DNA do autoritarismo e da intolerância”, dizia o texto.
Para os pesquisadores, apesar de toda reação ao politicamente correto, “nenhuma sociedade real existe sem uma medida do que seja o politicamente correto, isto é, da linguagem que é ou não aceita, de padrões do que é ou não ofensivo”.
Além disso, segundo eles, “não há registro de sociedade histórica em que tais padrões não tenham se imposto pela força da cultura e das instituições”.
Como dito acima, muitos especialistas defendem que todo esse debate surte pouco efeito se o racismo, por exemplo, continuar presente entre as pessoas mesmo com palavras novas.
Crédito, AFP
Crítico do politicamente correto, Lula derrubou iniciativa de seu próprio governo para promover mudanças na linguagem
A socióloga e pesquisadora Sabrina Fernandes (Universidade Livre de Berlim) defende que todo esse debate sobre liberdade de expressão e seus limites e soluções deveria passar também por livrar as pessoas da opressão antes se discutir a linguagem.
“É preciso libertar as pessoas da opressão também. E aí tudo se torna natural, porque se você tem uma sociedade que é mais feminista e menos machista, você não vai precisar ficar regulando as coisas machistas que as pessoas falam porque elas não vão sentir necessidade de falar isso. Porque se promoveu mudanças mais profundas”, afirma Fernandes em entrevista à BBC News Brasil.
Para o linguista e professor Sírio Possenti (Unicamp), em artigo sobre o tema, as palavras ou expressões não carregam significados intrínsecos, em si, mas, sim, significados consolidados nas estruturas e relações sociais e culturais.
Por isso, diz Possenti, se uma sociedade é racista, mudar os termos considerados ofensivos (ou criminosos) por outros mais “neutros” somente não tornará as relações ou os falantes menos ou mais racistas, e os significados preconceituosos acabarão sendo carregados e reproduzidos nas novas expressões substitutas.
Linguagem neutra, uma nova vertente do politicamente correto
Um dos fenômenos que costumam gerar mais debate atualmente nesse contexto é a linguagem neutra ou inclusiva, que, segundo o Parlamento europeu, visa “contribuir igualmente para reduzir os estereótipos de gênero, para promover mudanças sociais e para alcançar a igualdade de gênero”. Para a instituição, esse conceito é mais do que uma questão de politicamente correto porque “reflete e influencia profundamente atitudes, comportamentos e percepções”.
Mas como funciona na prática? Em geral, esse conceito é utilizado para não especificar o gênero do interlocutor. Assim, são utilizados, por exemplo, termos como “elu” — em vez de ele ou ela — e a vogal “e” se torna recorrente nas palavras com terminologias que denotam gênero. Amigo se torna amigue. Bonito se torna bonite. Há algum tempo, chegou-se a usar a consoante “x” ou o símbolo “@” para essa finalidade (como “bonitx” ou “bonit@”), mas as dificuldades de leitura, fala e compreensão reduziram esses usos.
Há outras estratégias de linguagem neutra ligadas à substituição dos termos. Uma cartilha do Parlamento europeu sobre o tema sugere trocar expressões como “os políticos” por “a classe política”, “os professores” por “o corpo docente” e, nas referências ao gênero humano, trocar o termo “homem” por “a humanidade”, “o ser humano”, “a sociedade” ou “as pessoas”. A exceção ao último caso seria a expressão “direitos do homem”, por ser “utilizada em muitos textos jurídicos, a qual se refere a um conceito político e filosófico com um importante cunho histórico”.
Crédito, Getty Images
Governo Bolsonaro vetou uso de linguagem neutra em projetos culturais ligados ao mecanismo de fomento Lei Rouanet
O tema costuma gerar reação de grupos conservadores no país. “Netflix coloca em seu catálogo desenho infantil que promove linguagem neutra, ideologia de gênero e destruição da família. Pais, não deixem seus filhos assistirem o desenho Ridley Jones”, postou no Twitter o deputado federal bolsonarista Carlos Jordy (PSL-RJ).
As mudanças passaram dos debates na mídia e nas redes sociais e já chegaram aos Três Poderes.
O governo Bolsonaro vetou seu uso em projetos culturais financiados via Lei Rouanet (mecanismo de incentivo por meio de isenção fiscal).
“Entendemos que a linguagem neutra (que não é linguagem) está destruindo os materiais linguísticos necessários para a manutenção e difusão da cultura. E que submeter a língua a um processo artificial de modificação ideológica é um crime cultural de primeira grandeza”, escreveu no Twitter o então secretário de fomento e incentivo à cultura, André Porciuncula.
“Tal expediente, apesar de se vender como linguagem, não é um produto social apto a produzir comunicação. Ele não surgiu no cotidiano de um povo, mas sim criado e integrado de forma alienígena, através de movimento político sectário.”
A Assembleia Legislativa de Rondônia chegou a aprovar uma lei proibindo a linguagem neutra em escolas e editais de concursos públicos, mas a medida acabou derrubada em 2021 pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF).
Para o magistrado, a linguagem neutra “visa a combater preconceitos linguísticos retirando vieses que usualmente subordinam um gênero ao outro” e “é difícil imaginar que a sua proibição possa ser constitucionalmente compatível com a liberdade de expressão”.
A relação entre cancelamento e politicamente correto
Uma das facetas atuais do politicamente correto é a chamada “cultura do cancelamento”. Mas essa questão é tão polêmica que não há consenso nem se de fato ela existe.
De um lado dessa briga estão aqueles que denunciam uma nova forma de julgamento público, particularmente nas redes sociais, que tem levado à censura e ameaçado a liberdade de expressão.
O outro lado da disputa rebate afirmando que o termo cancelamento é um rótulo usado como artifício por quem tenta diminuir críticas e boicotes legítimos contra pessoas ofensivas, racistas ou homofóbicas, por exemplo. Algo parecido ao uso indiscriminado da expressão “politicamente correto”, usada como guarda-chuva para muitas coisas diferentes.
O movimento de boicotes digitais ganhou força na última década como uma maneira de amplificar a voz de grupos oprimidos e forçar ações políticas de empresas ou figuras públicas.
Crédito, Getty Images
Cancelamento tem sido associado por seus críticos a práticas como censura, patrulha ideológica e linchamento virtual
Por não terem força política ou econômica para conseguir mudanças sozinhas, esses grupos adotam uma tática mais ou menos assim: um usuário de mídias sociais, como Twitter e Facebook, presencia um ato que considera errado, registra em vídeo ou foto e posta em sua conta, com o cuidado de marcar a empresa empregadora do denunciado e autoridades públicas ou outros influenciadores digitais que possam amplificar o alcance da mensagem. É comum que, em questão de horas, o post tenha sido replicado milhares de vezes.
A cascata de mensagens a uma empresa e a eventual repercussão na mídia costuma precipitar atitudes sumárias para estancar o desgaste de imagem, como cancelar contratos ou negócios com o alvo do boicote, sem que a pessoa sob ataque possa necessariamente se defender na Justiça, por exemplo.
Por isso, alguns críticos costumam chamar esses boicotes de linchamento público. Diante do que qualificaram como “atmosfera sufocante”, um grupo de 150 jornalistas, intelectuais, cientistas e artistas, considerados progressistas, resolveu publicar, na revista americana Harper’s Magazine, em 2020, um texto intitulado “Uma carta sobre Justiça e Debate Aberto”.
Assinada por nomes de peso, como o linguista Noam Chomsky, os escritores J.K. Rowling e Andrew Solomon, a ativista feminista Gloria Steinem, a economista trans Deirdre McCloskey, e o cientista político Yascha Mounk, a carta afirma que “a livre troca de informações e ideias, força vital de uma sociedade liberal, tem diariamente se tornado mais restrita. Enquanto esperávamos ver a censura partir da direita radical, ela está se espalhando também em nossa cultura: uma intolerância a visões opostas, um apelo à vergonha pública e ao ostracismo e a tendência de dissolver questões políticas complexas com uma certeza moral ofuscante”.
A resposta à carta dentro do próprio movimento progressista não tardou. Um grupo de artistas, intelectuais e jornalistas de veículos como New York Times e NPR acusou os autores da primeira carta de, do alto de seu sucesso profissional e posição confortável no mercado, ignorar as dificuldades de minorias, como negros e população LGBTQ , no debate público no mundo acadêmico, nas artes, no jornalismo e no mercado editorial.
“Os signatários, muitos deles brancos, ricos e dotados de plataformas enormes, argumentam que têm medo de ser silenciados, que a chamada cultura do cancelamento está fora de controle e que eles temem por seus empregos e pelo livre intercâmbio de ideias, ao mesmo tempo em que se manifestam em uma das revistas de maior prestígio do país”, afirmam os signatários do novo documento, intitulado “Uma carta mais específica sobre Justiça e debate aberto”. Vinte e três dos signatários o fizeram de forma anônima por medo de represálias.
Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!
 Hoje Pernambuco Notícias a toda hora!
Hoje Pernambuco Notícias a toda hora!
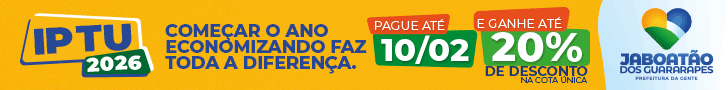




Você precisa fazer login para comentar.