Crédito, Getty Images
A queda dos níveis de ozônio na atmosfera da Antártida começou a ser observada no final da década de 1970
No final dos anos 1970, o meteorologista Jonathan Shanklin, do British Antarctic Survey (BAS – o órgão britânico de pesquisas na Antártida), passou boa parte do seu tempo fechado em um escritório em Cambridge, no Reino Unido, estudando os registros de dados do continente mais ao sul do nosso planeta.
Shanklin era responsável por supervisionar a digitalização dos registros mantidos em papel e computar os valores dos espectrofotômetros Dobson — instrumentos em terra que medem as alterações do nível de ozônio na atmosfera.
Com o passar dos anos, Shanklin começou a ver que algo estava acontecendo. Após cerca de duas décadas de medições razoavelmente constantes, ele observou que os níveis de ozônio começaram a cair no final dos anos 1970.
Mas os chefes de Shanklin inicialmente não tinham a mesma certeza de que havia algo em andamento, o que deixou o meteorologista frustrado.
Em 1984, a camada de ozônio sobre a estação de pesquisas britânica da Baía de Halley, na Antártida, já havia perdido um terço da sua espessura em comparação com as décadas anteriores.
No ano seguinte, Shanklin e seus colegas Joe Farman e Brian Gardiner publicaram suas conclusões, sugerindo que a redução estaria relacionada a um composto produzido pelo homem: os clorofluorcarbonos (CFC), utilizados em aerossóis e aparelhos de refrigeração.
Essa descoberta — a redução da camada de ozônio sobre a Antártida — acabou conhecida como o buraco na camada de ozônio.
À medida que a notícia da descoberta se alastrava, um alarme soava em todo o mundo. Projeções de que a destruição da camada de ozônio prejudicaria a saúde dos seres humanos e dos ecossistemas despertaram o medo do público, mobilizaram pesquisas científicas e fizeram com que os governos do planeta colaborassem entre si de forma sem precedentes.
Desde o seu apogeu nos noticiários, a história de um dos problemas ambientais mais graves já enfrentados pela humanidade perdeu grande parte da atenção do público.
Mas, afinal, mais de 30 anos após a sua descoberta, o que aconteceu com o buraco na camada de ozônio?
Fenômeno vital
O ozônio é principalmente encontrado na estratosfera, que é uma camada da atmosfera localizada entre 10 e 50 km acima da superfície da Terra.
Essa camada de ozônio forma um escudo protetor invisível sobre o planeta, absorvendo a perigosa radiação ultravioleta do Sol. Sem ela, a vida na Terra não seria possível.
O BAS começou a medir as concentrações de ozônio sobre a Antártida nos anos 1950. Mas várias décadas se passaram até se demonstrar que havia um problema.
Crédito, Alamy
Em resposta ao buraco na camada de ozônio, a Austrália lançou a campanha de saúde pública ‘slip, slop, slap’, lembrando as pessoas de cobrir-se, usar protetor solar e procurar a sombra
Em 1974, dois cientistas — o mexicano Mario Molina e o americano F. Sherry Rowland — publicaram sua teoria de que os CFCs poderiam destruir o ozônio da estratosfera terrestre.
Acreditava-se até então que os CFCs fossem inofensivos, mas Molina e Rowland indicaram que essa premissa estava errada.
Suas descobertas foram atacadas pelas indústrias, que insistiam que seus produtos eram seguros. E, entre os cientistas, a pesquisa também foi contestada.
Projeções indicavam que o esgotamento do ozônio seria pequeno (2 a 4%) e muitos acreditavam que aconteceria ao longo de séculos.
Os CFCs continuavam sendo usados sem controle e, na década de 1970, eles já estavam presentes em todo o mundo, sendo empregados para a refrigeração de geladeiras e aparelhos de ar-condicionado, em latas de aerossol e como agentes de limpeza industrial.
Apenas uma década depois, em 1985, o BAS confirmou que havia um buraco na camada de ozônio e sugeriu sua relação com os CFCs, em referência ao estudo de Molina e Rowland, que acabaram por receber o Prêmio Nobel de Química de 1995.
E, ainda pior, o ozônio estava se esgotando com muito mais rapidez do que havia sido previsto. “Foi realmente muito assustador”, relembra Shanklin, que hoje é membro honorário do BAS.
Foi a partir dali que os cientistas correram para descobrir como e por que isso estava acontecendo.
Mistério da química
Em 1986, perto do fim do inverno na Antártida, Susan Solomon, pesquisadora da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica do governo dos Estados Unidos (NOAA, na sigla em inglês), liderou uma equipe de cientistas para a base americana McMurdo, na Antártida, em busca de respostas.
Na época, os cientistas estavam debatendo possíveis teorias, uma das quais foi proposta por Solomon: que a resposta poderia estar na química da superfície, relacionada ao cloro nas nuvens estratosféricas polares, presentes em altas latitudes, mas que se formam apenas com temperaturas muito baixas no inverno polar.
“Era um grande mistério”, segundo Solomon, que agora é professora de química atmosférica e ciências do clima do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT, na sigla em inglês). Suas pesquisas explicaram como e por que ocorre o buraco na camada de ozônio na Antártida.
“Todos os dados indicaram a combinação entre o aumento do cloro proveniente do uso dos CFCs pelos seres humanos e a presença de nuvens estratosféricas polares como responsável pelo que estava acontecendo”, segundo ela.
O monitoramento por satélites confirmou que o esgotamento do ozônio se estendia por uma vasta região de 20 milhões de quilômetros quadrados.
A séria ameaça representada pelo esgotamento do ozônio incluía o aumento da incidência de câncer de pele e da catarata em seres humanos, danos ao crescimento vegetal, à produção agrícola e aos animais, além de problemas na reprodução de peixes, caranguejos, sapos e do fitoplâncton, que é a base da cadeia alimentar marinha. Tudo isso impulsionou ações e a colaboração internacional.
Mas, considerando a gravidade da ameaça do buraco de ozônio, por que não ouvimos mais falar tanto desse tema?
“Ele não é mais a mesma causa de alarme que foi um dia”, afirma Laura Revell, professora de física ambiental da Universidade de Canterbury, na Nova Zelândia. Isso se deve, em grande parte, às medidas internacionais sem precedentes tomadas pelos governos para lidar com o problema.
Crédito, Getty Images
O CFC usado para refrigeração em equipamentos produzidos antes de 1995 era uma das substâncias responsáveis pelo buraco na camada de ozônio
O lento caminho até Montreal
Imaginando que o esgotamento do ozônio seria pequeno e somente ocorreria em um futuro distante, a abordagem inicial dos legisladores internacionais para proteger a camada de ozônio foi cautelosa.
Em 1977, foi adotado um plano de ação global, que convocava o monitoramento do ozônio e da radiação solar, pesquisas sobre o efeito do esgotamento do ozônio sobre a saúde humana, os ecossistemas e o clima, e uma avaliação do custo-benefício das medidas de controle.
Esse plano levou à realização da Convenção de Viena de 1985, poucos meses antes da descoberta do buraco na camada de ozônio pelos cientistas britânicos.
A convenção pediu o aumento das pesquisas, mas não incluiu controles que obrigassem legalmente os países a reduzir o uso dos CFCs, o que frustrou muitas expectativas.
Após a descoberta do buraco na camada de ozônio, grandes investimentos em pesquisas científicas, a alocação de recursos econômicos e ações políticas internacionais coordenadas ajudaram a mudar o panorama.
Até que, em 1987, foi adotado o Protocolo de Montreal para proteger a camada de ozônio, eliminando o uso das substâncias que causam seu esgotamento.
Para possibilitar que fosse cumprido, o tratado estabeleceu “responsabilidades comuns, mas diferenciadas”, escalonando cronogramas de redução de consumo para os países desenvolvidos e em desenvolvimento.
Ele também estabeleceu um fundo multilateral para fornecer assistência técnica e financeira, a fim de ajudar os países em desenvolvimento a cumprir com as suas obrigações.
Ao longo dos anos 1990 e no início dos anos 2000, a produção e o consumo de CFCs foram suspensos – e, até 2009, 98% das substâncias definidas no tratado haviam sido eliminadas.
O tratado permitiu ainda a elaboração de emendas quando evidências científicas demonstrassem que novas ações seriam necessárias.
Assim, seis emendas trouxeram restrições ainda maiores sobre substâncias introduzidas para substituir os CFCs, como os hidroclorofluorcarbonos (HCFCs) e os hidrofluorcarbonos (HFCs).
Embora sejam favoráveis para a camada de ozônio, descobriu-se que esses substitutos prejudicam o clima. O potencial de aquecimento global do HCFC mais comum, por exemplo, é quase duas mil vezes maior que o do dióxido de carbono.
Outro efeito positivo do tratado foram seus benefícios para o clima. Em 2010, a redução das emissões proporcionada pelo Protocolo de Montreal foi equivalente a 9,7 até 12,5 gigatoneladas de CO2 – cerca de cinco a seis vezes mais que o objetivo do Protocolo de Kyoto, assinado em 1997 para reduzir as emissões de gases do efeito estufa.
Somente a Emenda de Kigali, adotada em 2016 para limitar o uso de HFCs, ajudará a conter o aquecimento global em até 0,5 °C até 2100.
“É possível argumentar que [o Protocolo de Montreal] é uma legislação de proteção climática muito mais bem sucedida que qualquer outro acordo [sobre o clima] que já fizemos até hoje”, afirma Revell.
O sucesso do Protocolo
Desde a sua adoção, o Protocolo de Montreal foi assinado por todos os países do planeta. Até hoje, ele é o único tratado ratificado universalmente, sendo considerado um triunfo da cooperação ambiental internacional.
Modelos indicam que o Protocolo de Montreal e suas emendas ajudaram a evitar até dois milhões de casos de câncer de pele por ano e milhões de casos de catarata em todo o mundo.
Crédito, Getty Images
A crise do buraco na camada de ozônio fez com que toda a humanidade trabalhasse em conjunto
Se o mundo não tivesse proibido os CFCs, estaríamos agora perto do esgotamento maciço da camada de ozônio.
“Existe o consenso de que, em 2050, teríamos condições similares ao buraco na camada de ozônio em todo o planeta, que se tornaria inabitável”, afirma Susan Solomon.
Ela aponta três fatores que causaram as ações imediatas para enfrentar a questão: para muitas pessoas, o risco claro e presente apresentado pelo buraco na camada de ozônio para a saúde humana tornou-se algo pessoal; imagens nítidas de satélites fizeram com que ele se tornasse perceptível; e havia soluções práticas para o problema, já que as substâncias prejudiciais para a camada de ozônio poderiam ser substituídas de forma razoavelmente rápida e fácil.
A recuperação é longa
Atualmente, o buraco na camada de ozônio ainda existe. Ele se forma todos os anos sobre a Antártida, durante a primavera, e se fecha novamente no verão, quando o ar estratosférico das latitudes mais baixas se mistura, permanecendo assim até a primavera seguinte, quando o ciclo recomeça.
Mas existem evidências de que o buraco está começando a desaparecer, recuperando-se mais ou menos conforme o esperado, segundo Solomon. Avaliações científicas indicam que a camada de ozônio deve retornar aos níveis anteriores a 1980 em meados do século 21.
A recuperação é lenta devido ao longo tempo de vida das moléculas prejudiciais à camada de ozônio. Algumas delas persistem na atmosfera por 50 a 150 anos antes de se degradarem.
Apesar do sucesso geral do Protocolo de Montreal, também houve retrocessos. Em 2018, por exemplo, percebeu-se que a concentração de CFC-11, proibido desde 2010, não estava caindo com a rapidez esperada. Isso indicava que emissões não declaradas estavam vindo de algum lugar.
A ONG Environmental Investigation Agency rastreou as emissões até fábricas na China, que estavam produzindo CFC-11 para uso em espuma de isolamento.
Assim que a informação veio a público, o governo chinês rapidamente impediu a produção e os cientistas afirmam que agora voltamos aos trilhos.
Para Jonathan Shanklin, isso ressalta a importância vital do monitoramento de longo prazo das variáveis ambientais, incluindo CFCs, temperaturas ou indicadores da biodiversidade.
“Se não monitorarmos, não saberemos se temos ou não um problema – e, quando você não sabe que há um problema, não pode tomar ações preventivas. Acho que esta é uma parte vital dessa história”, afirma ele.
E quanto ao futuro?
O futuro apresenta riscos. Grandes erupções vulcânicas tipicamente resultam em perdas de ozônio de curto prazo e o óxido nitroso — um potente gás do efeito estufa, emitido pelas aplicações de fertilizantes na agricultura — é outra substância potente que é prejudicial para a camada de ozônio. Mas Laura Revell destaca que ele não é controlado pelo Protocolo de Montreal e suas emissões estão crescendo.
Crédito, Getty Images
O buraco na camada de ozônio abre-se sobre a Antártida toda primavera para fechar-se novamente no verão
Existem também atividades cujo impacto ainda não entendemos completamente, mas que poderão representar riscos, como os lançamentos de foguetes e a geoengenharia de sulfatos — a ideia de que poderíamos combater os piores efeitos do aquecimento global bombeando aerossóis para a estratosfera para resfriar o clima, fazendo com que a luz solar seja refletida por essas partículas de aerossol.
“É muito importante ter em mente as lições aprendidas com a história do buraco na camada de ozônio e garantir que estejamos constantemente conscientes do que está acontecendo na estratosfera”, afirma Revell.
“O risco é que podemos causar danos imprevistos à camada de ozônio se essas avaliações não forem conduzidas com antecedência.”
Existe a tendência de comparar a camada de ozônio com as mudanças climáticas. Embora o Protocolo de Montreal realmente demonstre que podemos combater grandes problemas ambientais, a comparação só vai até aí.
Os CFCs eram um componente de poucos produtos e podia ser substituído. O escopo das mudanças climáticas torna seu combate muito mais difícil: os combustíveis fósseis estão presentes em todo o nosso estilo de vida, de forma generalizada, não podem ser substituídos com a mesma facilidade e a maioria dos governos e das indústrias, até agora, vem resistindo à redução das emissões causadas pelos combustíveis fósseis.
Para Jonathan Shanklin, é triste ficar onde estamos, estagnados nas ações sobre o clima, ainda falando sobre o que poderemos fazer quando existe um exemplo tão claro para nos ensinar.
“A criação do buraco na camada de ozônio mostrou a rapidez com que podemos mudar nosso ambiente planetário para pior e o fato é que essa lição não está sendo levada suficientemente a sério pelos políticos”, afirma Shanklin.
“É verdade que as mudanças climáticas são um problema maior. Mas isso não exime os políticos da responsabilidade por tomar as decisões necessárias.”
Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!
 Hoje Pernambuco Notícias a toda hora!
Hoje Pernambuco Notícias a toda hora!
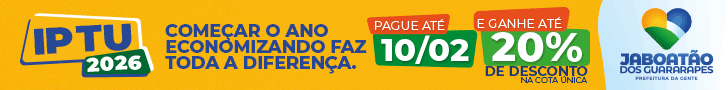




Você precisa fazer login para comentar.