- Margarita Rodríguez
- BBC News Mundo
Crédito, Brad Parry
O líder shoshone Sagwitch e sua esposa, Beowachee, com membros da família
Quando os antepassados de Brad Parry viram os cavalos descendo a colina, eles relembraram a primeira vez em que observaram uma locomotiva em funcionamento.
Isso porque, naquela manhã gelada, à distância, chamava a atenção o vapor produzido pela respiração dos soldados e seus cavalos.
É certo que havia tensões com o exército, mas os líderes da tribo não acreditavam que a mobilização seria uma ameaça para o seu povo. Eles orientaram as mulheres e idosos que se encontravam nas tendas para que não se levantassem e voltassem a dormir, como faziam as crianças.
Mas eles logo descobririam que a intenção dos soldados não era de dialogar e rapidamente deram orientação para escaparem.
O que se seguiu foi um dos capítulos mais dolorosos da história dos povos originários norte-americanos. O dia 29 de janeiro de 1863 marcou o que hoje é conhecido como o massacre de Bear River. Estimativas indicam que mais de 300 nativos morreram no massacre. Deles, 90 eram mulheres e crianças.
“Eles agarravam as crianças pequenas pelas pernas como se fossem coelhos e batiam a cabeça delas contra o solo”, conta Elva Schramm, descendente de um dos caciques.
“Foi assustador, o objetivo era matar e durou quatro horas”, segundo Brad Parry.
Parry é vice-presidente do Conselho do grupo do noroeste da nação Shoshone (Northwestern Band of the Shoshone Nation). Ele contou à BBC News Mundo (o serviço em espanhol da BBC) o que chegou até nós sobre esse dia por meio da tradição oral.
Existem registros militares, mas sua avó Mae Timbimboo Parry foi fundamental para que conhecêssemos o ponto de vista dos shoshones.
Crédito, Brad Parry
Mae Timbimboo Parry insistiu para que a história registrasse o ocorrido não como uma ‘batalha’, mas como um ‘massacre’
“Ela foi a primeira a reunir essas histórias. Ela as escreveu e depois divulgou ao público”, afirma a professora Molly Cannon, da Universidade do Estado de Utah, nos Estados Unidos, onde trabalha como diretora do Museu de Antropologia.
A tragédia ocorreu perto do rio Bear, onde hoje fica o Estado de Idaho, no noroeste do país.
“É triste que o maior massacre de nativos americanos da história dos Estados Unidos não seja realmente conhecido”, afirma Darren Parry, ex-presidente do grupo do noroeste da nação Shoshone, no documentário Remembering Bear River: Tragedy for Idaho’s Shoshone Tribe (“Recordando Bear River: tragédia para a tribo Shoshone, de Idaho”, em tradução livre”), apresentado pela PBS, o serviço público de rádio e televisão dos Estados Unidos.
Em ‘silêncio’
Inicialmente, o ocorrido foi descrito como uma “batalha” entre o exército e os guerreiros shoshones. Mas Cannon destaca que Mae Parry fez com que essa definição fosse questionada.
“Essa ideia de que se tratou de uma batalha perdurou por muito tempo na nossa história e na mente dos norte-americanos, mas acredito que a narrativa esteja lentamente desmoronando, em grande parte graças ao trabalho dos grupos tribais”, segundo a antropóloga.
Crédito, Brad Parry
Yeager Timbimboo, avô de Mae Parry, era adolescente quando ocorreu o massacre, em 1863
Para Brad Parry, esta é uma história que foi mantida em “silêncio” por mais de 100 anos. Muitas pessoas que moravam perto daquela região preferiram não se aproximar, enquanto outras “não quiseram escrever sobre uma matança de mulheres, crianças e idosos”.
Além disso, o massacre ocorreu durante a Guerra Civil Americana (1861-1865) e a maioria dos jornalistas estava cobrindo os acontecimentos do conflito no leste do país. E, quanto aos nativos americanos, “não sabíamos escrever, só podíamos contar [verbalmente] o que havia acontecido”, afirma Parry.
Mas tudo mudou graças a Mae Parry, avó de Brad, que, segundo ele, “foi uma estudante excepcional”.
“Sua educação foi extremamente boa”, afirma ele. “Ela escrevia e falava muito bem e, quando se formou no ensino médio, seu avô ainda estava vivo. Ela então começou a escrever o que ele contava.”
Os testemunhos dele e de outros sobreviventes alimentaram o registro histórico dos shoshones sobre o acontecido naquele trágico dia.
“Somente nas décadas de 1980 e 1990, minha avó começou a insistir na mudança do nome da ‘Batalha de Bear River’ para ‘massacre de Bear River'”, conta Brad Parry. “Ela enfrentou o exército dos Estados Unidos, foi ao Congresso e se reuniu com todas essas pessoas para conseguir o verdadeiro reconhecimento dos fatos.”
O episódio não pode ser observado como um fato isolado. No século 19, os shoshones e outras tribos tiveram suas terras invadidas por colonos e grupos de mórmons, além de enfrentarem garimpeiros em busca de ouro.
Crédito, MPI/Getty Images
Ilustração de Sacagawea, membro da tribo dos shoshones que ajudou os exploradores Meriwether Lewis e William Clark em sua expedição pelo oeste dos Estados Unidos, entre 1804 e 1806.
O massacre foi “o ápice de quase duas décadas de incidentes que surgiram da interação entre índios e brancos”, segundo a editora da Universidade de Utah na apresentação do livro The Shoshoni Frontier and the Bear River massacre (“A fronteira shoshone e o massacre de Bear River”, em tradução livre), do historiador Brigham Madsen.
“A terra-natal dos shoshones englobava uma grande extensão de território e foi atravessada pelas principais rotas de viagem no oeste, o que fez com que houvesse encontros entre índios e brancos”, ele conta.
“Inicialmente, [os nativos] foram amigáveis e complacentes com os viajantes brancos na década de 1840, [mas] no final da década de 1850, o ressentimento se agravou entre os índios quando houve assassinatos e suas reservas de alimentos foram consumidas pelos imigrantes e seus animais.”
Michael Andersen é o autor do estudo Bear River Massacre and the Ethical Implications for Large Scale Combat Operations (“O massacre de Bear River e as implicações éticas para operações de combate em larga escala”, em tradução livre), publicado pelo Centro Simons para a Liderança Ética e Cooperação Interinstitucional, uma organização dedicada, entre outros temas, a pesquisar sobre assuntos de segurança nos Estados Unidos.
O autor destaca que, embora se costume considerar os sioux e os apaches como “as tribos mais violentas daquele período da história norte-americana, de fato, os shoshones foram responsáveis por mais ataques a colonos e viajantes, em comparação com outras tribos”.
Crédito, Hulton Archive/Getty Images
Grupo de shoshones de Utah, nos Estados Unidos, em foto de cerca de 1872
No dia 6 de janeiro de 1863, a tensão aumentou quando um grupo de viajantes que transitava pelo vale Cache relatou que um dos seus membros havia sido assassinado e que seu gado havia sido roubado.
Um dos viajantes forneceu às autoridades uma declaração juramentada que fez com que um juiz emitisse ordem de prisão contra três líderes shoshones. Foi solicitada a assistência do coronel irlandês Patrick Connor, que dirigiu a expedição militar ao vale Cache, onde havia um assentamento shoshone perto do rio Bear.
O encontro
“Todos os anos, no inverno, nós íamos até lá e nos reuníamos com outras nações shoshones que vinham de outras partes”, segundo Brad Parry.
A região é chamada de “casa dos pulmões”. Nela, seus antepassados encontravam recursos e fontes termais com propriedades curativas.
Crédito, Brad Parry
Colina por onde desceram os soldados em direção ao acampamento shoshone em 1863
“Era um lugar espiritual sagrado, mas também brincávamos, fazíamos corridas e havia prêmios. Muitas vezes, você conhecia seu cônjuge e havia casamentos. Era como um grande encontro familiar”, ele conta.
“Em janeiro, começava o que chamamos de dança quente, para ajudar a Mãe Terra e o grande espírito a trazer a primavera”, segundo ele.
As famílias dos outros grupos shoshones começavam a voltar para os seus territórios.
“Nosso pequeno grupo, do noroeste, ficava ali porque éramos os anfitriões”, afirma Parry. “Pouco antes de 29 de janeiro, os jovens e os homens mais fortes foram buscar comida, caçando cervos ou alces para passar o resto do inverno.”
Crédito, Brad Parry
O assentamento shoshone ficava próximo a fontes de águas termais
“Muito poucos guerreiros” ficaram no acampamento e, quando o chefe shoshone Sagwitch viu os soldados descendo a colina em cavalos, falou com os outros líderes da tribo.
“Ele disse: ‘vamos ver o que querem, se precisam prender alguém, seguiremos as regras’. De forma geral, eles tentavam, entre os líderes, negociar uma saída.”
Para Brad Parry, era evidente que os shoshones não queriam o combate: “eles tinham mulheres, crianças e anciãos nas tendas”.
Segundo Andersen, Sagwitch deu ordens de “não disparar contra o exército”, pois achava que só estavam interessados nas prisões e “logo iriam embora”.
A agonia
A antropóloga Cannon ressalta que os colonos europeus e o exército sabiam que, naquele assentamento, estariam “todos os membros” daquele povo shoshone e não apenas “guerreiros”.
Connor dirigiu cerca de 300 soldados. “Eles cavalgaram até o acampamento, enquanto nós tínhamos nossa primeira linha de defesa”, segundo Brad Parry. E o enfrentamento começou.
Crédito, Brad Parry
Brad Parry (de camisa branca). Com ele, da esquerda para a direita, Patty Timbimboo-Madsen, Gwen Davis, Rios Pacheco e Brian Parry – historiadores descendentes dos sobreviventes do massacre
Quando os shoshones ficaram sem munição, “a batalha terminou e começou o massacre de homens, mulheres e crianças”, afirma Andersen, com base nos testemunhos coletados no seu estudo.
“Várias indígenas foram assassinadas porque não se submeteram silenciosamente a serem violentadas e outras foram violentadas na agonia da morte”, segundo contou um mórmon da região.
Parry indica que houve testemunhas que viram os soldados “agarrarem crianças pequenas pelas tranças e fazê-las rodopiar até romper o couro cabeludo”.
Os líderes e os homens da tribo trataram de manter os soldados no sul, “para que o nosso povo pudesse escapar pelo norte, mas o coronel percebeu e destacou suas tropas pelo norte, sobre uma colina. Eles começaram a atirar e todas as pessoas precisaram correr em direção ao sul”, ele conta.
Brad Parry conta o caso de Anzie Chee, uma mulher que conseguiu escapar, mesmo ferida. Ela saltou com seu bebê para uma parte do rio que não estava congelada e se escondeu em uma das margens. Ali, ela percebeu que havia outras mulheres.
“Mas seu bebê começou a chorar…”, ele conta. “Ela precisou soltá-lo. O bebê se afogou para poder salvar todas as outras pessoas.”
Fingir-se de mortos
Sagwitch ficou ferido e flutuava no rio até que “um amigo branco o ajudou” e ele sobreviveu.
Seu filho Yeager Timbimboo (avô de Mae Parry) tinha cerca de 14 anos de idade. Junto com sua avó, ele se deitou sobre o solo gelado e eles fingiram estar mortos.
Crédito, Brad Parry
Frank Timbimboo Warner ‘Beshup’ foi um dos sobreviventes do massacre. Foto de 1917, no local onde morreu sua mãe
“Não abra os olhos, não olhe para cima”, sussurrou a avó. Mas o menino logo desobedeceu.
“Um soldado percebeu, aproximou-se e colocou uma pistola na sua cabeça, sem disparar. Ele retirou a arma e voltou a apontá-la. Riu e foi embora”, conta Brad Parry.
Yeager cresceu com essas recordações. Ele e outros sobreviventes não queriam que elas desaparecessem.
“Todos os invernos, eles se reuniam e contavam a história do massacre. Eles pegavam uma folha de uma árvore, dobravam e abriam furos com um prego: ‘assim ficaram nossas tendas’, diziam eles.” Outras foram queimadas.
Depois que os soldados foram embora, “os membros da comunidade branca do condado de Franklin [Idaho] correram até os índios para ajudá-los. Muitos foram assistidos muito bem no assentamento. Balas foram retiradas, feridas foram tratadas, crianças foram adotadas.”
Os números
Foram 25 os soldados que morreram, mas calcular com precisão o número de mortes entre os shoshones ainda é difícil. Os soldados contaram 224 corpos, mas deixaram claro que este não era o número total.
O imigrante dinamarquês Hans Jasperson indicou na sua autobiografia de 1911 que, depois de percorrer o acampamento, contou 493 shoshones mortos. “Dei meia volta, voltei a contar e cheguei ao mesmo número”, escreveu ele, segundo o jornal Salt Lake Tribune.
Crédito, Brad Parry
Mae Timbimboo Parry e seu irmão Frank
Brad Parry afirma que os membros da comunidade próxima que ajudou as vítimas contaram 368 mortos.
“Nós estimamos que morreram 350 a 500 pessoas”, segundo ele. “Nosso grupo [os shoshones do noroeste] provavelmente tinha cerca de 650 integrantes. Eles nos deixaram com cerca de 125 pessoas.”
“Nossa tribo ainda não superou 600 membros desde então. Acredito que sejamos agora cerca de 578 ou 580. É o número mais alto que atingimos há muito, muito tempo”, ele conta.
“Ainda não recuperamos os números anteriores ao massacre”, afirma Brad Parry. “Foi quase uma aniquilação completa, fomos tão dizimados que levamos 160 anos para voltar à mesma população.”
Antes de irem embora, os soldados se apropriaram dos cavalos, “saquearam o acampamento, roubaram a carne, os grãos e nos deixaram sem nada”. E, territorialmente, aqueles shoshones sentiam que não tinham para onde ir.
Desumanizados
Ao refletir sobre a matança de nativos americanos no século 19, o historiador militar Jonathan Deiss declarou à jornalista Dana Hedgpeth, do jornal The Washington Post, que, naquela época, “as pessoas achavam que os índios realmente não eram humanos, de forma que era fácil justificar sua matança ou maus tratos”.
Crédito, Brad Parry
Brad Parry ouviu a história do massacre da voz da sua avó e quer garantir que ela não seja esquecida
Com essa percepção desumanizadora dos nativos americanos, segundo Cannon, “os massacres não pareciam massacres, mas sim ações militares, parte de um processo de ocupação e expansão”.
De fato, ao regressar, o coronel Connor foi elogiado pelos seus superiores e promovido a general de brigada. E, um ano depois, foi solicitado seu assessoramento para lidar com um acampamento da tribo arapaho e dos cheyennes no Estado norte-americano do Colorado.
“O coronel [John] Chivington usou uma estratégia similar – um ataque no inverno, de manhã cedo – e massacrou 130 homens, mulheres e crianças”, afirma Andersen.
Já se passaram 160 anos do massacre de Bear River e, todos os anos, os shoshones recordam o inverno em que suas terras se tingiram de vermelho.
Para eles, os espíritos dos mortos continuam ali.
 Hoje Pernambuco Notícias a toda hora!
Hoje Pernambuco Notícias a toda hora!
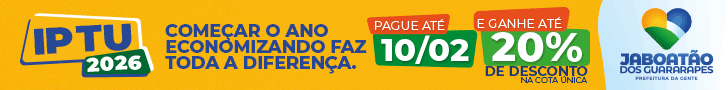




Você precisa fazer login para comentar.