- Mariana Sanches – @mariana_sanches
- Da BBC News Brasil em Washington
Tanto Bolsonaro quanto Chávez fizeram carreira militar e tiveram problemas disciplinares que os levaram a deixar as Forças Armadas
A reportagem abaixo, publicada originalmente em agosto de 2021, voltou a circular em outubro de 2022, depois que o presidente Jair Bolsonaro disse que recebeu propostas para aumentar o número de ministros do Supremo Tribunal Federal e que pode discutir o tema após as eleições. A sugestão foi comparada por muitos – inclusive pelo empresário João Amoêdo (Novo), candidato à presidência em 2018 – ao que aconteceu na Venezuela.
Em 18 de outubro de 2018, poucos dias antes do segundo turno da eleição presidencial que o confirmaria como o novo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro foi ao Twitter e se dirigiu aos brasileiros. “Sempre dissemos que não existe salvador da pátria, mas graças a união do brasileiro temos a chance real de não virarmos a próxima Venezuela. Juntos, daremos o pontapé para fazermos do Brasil uma das mais respeitáveis potências mundiais”, escreveu o então candidato pelo PSL.
Ali, ele repetia um dos temas mais frequentes em sua campanha eleitoral: o medo dos brasileiros de que a crise política, econômica e social que assolou o país vizinho em decorrência das políticas do regime chavista pudessem se replicar no Brasil.
No imaginário da população brasileira, o colapso da Venezuela ganhava cores cada vez mais vivas com a chegada em massa de migrantes do país via Pacaraima, em Roraima, em fuga da fome. “Vamos vencer e quebrar a engrenagem que quer nos tornar uma Venezuela!”, tuitou o candidato em 10 de outubro de 2018, em outro exemplo dentre as dezenas de mensagens sobre o assunto que ele disparou naquele ano.
Mais de dois anos e meio após a posse de Bolsonaro, no entanto, especialistas em política latino-americana ouvidos pela BBC News Brasil dizem que o atual presidente brasileiro é o líder mais próximo ao estilo de Hugo Chávez que o Brasil já teve no período democrático recente. “Bolsonaro se cercou de militares, cria embate com outros poderes, desacredita o processo eleitoral e tenta calar a imprensa. Todas medidas tiradas do manual chavista”, afirmou à BBC News Brasil Jorge Castañeda, ex-ministro de Relações Exteriores do México e professor da New York University.
As semelhanças entre ambos não se esgotam nas coincidências biográficas ou no modo como souberam explorar as redes sociais e a imagem de outsiders para conquistar os eleitores.
Com mais ou menos sucesso, ambos operaram avanços sobre as Supremas Cortes e apostaram nos embates com instituições democráticas, especialmente com a imprensa. Ambos ainda incentivaram ou promoveram o armamento da população civil e militarizaram o Estado ao mesmo tempo em que interferiam em órgãos investigativos, expurgavam servidores públicos não alinhados e tentavam levar os dados oficiais a apoiar narrativas de seus governos, nem sempre condizentes com a realidade.
Crédito, Getty Images
Venezuela vive a maior crise de crise recente de migração da história da América Latina
“Em 2018, baseado no meu trabalho sobre líderes populistas e militares na democracia na América Latina, eu já dizia que Bolsonaro era a figura que mais se parecia com Chávez no Brasil e isso se mantém”, afirmou à BBC News Brasil Harold Trinkunas, especialista em política latino-americana da Universidade Stanford e da Brookings Institution.
Trinkunas explica: “Apesar de defenderem ideologias obviamente diferentes, os dois são líderes populistas. Os populistas alegam conhecer e defender a vontade do povo e argumentam que são as instituições e as elites os empecilhos para que eles as coloquem em prática. O viés antielites e anti-instituições em Bolsonaro é tão claro quanto era em Chávez”.
O Coronel e o Capitão
Embora tenha adotado Chávez como um de seus antagonistas principais na eleição presidencial, Bolsonaro admitiu em 1999 beber da fonte chavista em sua formação política. Em uma entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, o então deputado federal afirmou que “Chávez é uma esperança para a América Latina e gostaria muito que essa filosofia chegasse ao Brasil”. Na ocasião, o deputado admitiu que pretendia ir ao país vizinho para tentar ser recebido em visita no Palácio Presidencial de Miraflores.
“Acho que ele [Chávez] vai fazer o que os militares fizeram no Brasil em 1964, com muito mais força. Só espero que a oposição não descambe para a guerrilha, como fez aqui”, analisou o então deputado federal Bolsonaro, filiado ao PPB, atual PP. Em 2020, já presidente, Bolsonaro repetiu, em uma live, que achou “maravilhoso” ver Chávez vencer as eleições. “Depois fez besteira, e virei opositor, como sou ao governo Maduro”, disse.
Crédito, Reproducao BBC
Chávez reconhece ao vivo na TV que sua tentativa de golpe de Estado, em 1992, falhou
Chávez e Bolsonaro têm origem parecida. Ambos nasceram em cidades pequenas e de interior de seus países, tiveram infância simples e ingressaram jovens em academias militares, onde fariam carreira. O primeiro chegou a coronel. O segundo, a capitão. E os dois incorreram em faltas disciplinares graves, o que os afastou da carreira nas Forças Armadas e os lançou definitivamente na política.
No caso de Chávez, em 1992, como tenente-coronel, ele comandou subordinados na tentativa de dar um golpe de Estado na Venezuela. O ato, mal-sucedido, o levou à prisão por dois anos. Posteriormente, Chávez acabaria anistiado.
Bolsonaro se manifestou publicamente por melhorias salariais para as Forças em 1986, uma tomada de posicionamento político público que lhe rendeu 15 dias de prisão. No ano seguinte, ainda em protesto, teria arquitetado um plano para explodir adutoras de abastecimento de água do Rio de Janeiro. Em 1988, foi julgado pelo Superior Tribunal Militar, que considerou não haver provas suficientes para condená-lo. Naquele mesmo ano, ele passou à reserva e se elegeu como vereador no Rio de Janeiro.
Crédito, Reprodução/Instagram/@jairmessiasbolsonaro
Quando estava no Exército, Bolsonaro já dizia que queria ser presidente
Outsiders em terra arrasada
Depois de sua tentativa de golpe, Chávez levaria mais seis anos para se converter no “Comandante”, como era chamado já na Presidência de seu país. Para Bolsonaro, o caminho foi mais longo: levou 30 anos até que ele se convertesse em “Mito” e passasse a ocupar o Palácio do Planalto. Há, no entanto, uma enorme coincidência de contextos que favoreceram as vitórias presidenciais de cada um deles.
“Ambos são políticos que chegam ao auge do poder em uma terra arrasada. Há um profundo sentimento de fim de festa nos dois países, uma aguda crise econômica, política e social que explica essa ascensão”, afirma a cientista política Daniela Campello, da Fundação Getúlio Vargas.
Crédito, Getty Images
Hugo Chávez governou a Venezuela durante 14 anos e chegou a sofrer uma tentativa de golpe
No fim dos anos 1990, a Venezuela já não era um dos países mais ricos do mundo, como fora entre 1950 e 1980, período que lhe rendeu o apelido de “Venezuela saudita”. Nos anos 1970, graças às suas reservas petrolíferas, os venezuelanos tinham o maior poder de compra entre os países América Latina — quase três vezes maior que o dos brasileiros —, segundo um índice da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico).
Tudo mudou na década de 1980, com a flutuação do preço do petróleo. Com menos dinheiro, problemas históricos ficaram evidentes: a falta de acesso à educação para a população de baixa renda, o aumento da pobreza em meio à escalada da inflação, a corrupção e o desvio de dinheiro público das elites políticas do país. Em 1989, o Exército é chamado a reprimir uma enorme manifestação popular em Caracas, o Caracaço. Uma multidão revoltada e faminta, que saqueava e depredava tudo o que havia, acabou massacrada pelos militares.
Chávez surge nesse contexto, como um outsider, alguém que propõe mudanças e lidera uma recém-criada agremiação, o Movimento Quinta República, com a qual se elege e derrota os dois partidos que polarizavam a eleição havia quatro décadas na Venezuela. Chávez só viria a formalizar um partido próprio em 2006, o Partido Socialista Unido da Venezuela.
Do mesmo modo, Bolsonaro encerra um período de mais de duas décadas de vitórias presidenciais de PT e PSDB, cujas imagens sofreram fortes abalos após as investigações da Operação Lava Jato. Mas não era só: o país também enfrentava a pior recessão econômica desde 1948. E embora Bolsonaro fosse deputado por quase três décadas, jamais tivera expressão nacional e surgia como uma figura alternativa, à frente de um até então partido nanico, o PSL, cuja sigla os brasileiros mal conheciam.
Crédito, Reprodução
Will Grant retoma histórico populista da América Latina, que perpassa Chávez e Bolsonaro
“Não estou dizendo nem vagamente que os dois são a mesma pessoa, mas não dá pra ignorar que existem traços claros de poder em Chávez que deságuam em Bolsonaro e que, em certa medida, superam esses dois personagens e remontam a toda uma tradição política latino-americana”, afirma o correspondente da BBC na América Latina Will Grant, autor do recém-lançado Populista: the rise of Latin America’s 21st Century Strongman, ou, em tradução livre, Populista: a chegada ao poder dos caudilhos da América Latina no século 21, em cuja capa Chávez e Bolsonaro se encaram.
Ataques à Suprema Corte e às instituições
“Sou apenas um homem, um soldado, um patriota”. A frase, que pelo estilo e pelos valores que evoca facilmente caberia na boca de Bolsonaro, na verdade foi enunciada por Chávez. “O soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde!” A afirmação poderia ser atribuída à Chávez, mas foi dita por Bolsonaro, em seu terceiro ano de mandato como presidente, em meio ao embate contra o Tribunal Superior Eleitoral sobre a impressão do voto.
“Uma vez no poder, tanto Bolsonaro quanto Chávez mantêm a retórica do maniqueísmo, do bem contra o mal, para surfar os sentimentos da população contra o establishment, e a estratégia de manter vivo o conflito institucional para tentar esticar os limites de seus poderes”, afirma o cientista político Fernando Bizzarro, da Universidade Harvard.
Um dos alvos centrais de ambos os presidentes em suas investidas contra as instituições são as Supremas Cortes de cada país.
Chávez acusava o Tribunal Constitucional venezuelana de golpismo e corrupção e dizia que os juízes da Corte atentavam contra os interesses nacionais. Em 2003, ele finalmente conseguiu fazer com que a Assembleia Nacional aprovasse, em plena madrugada, uma lei que permitia o aumento do tribunal de 20 para 32 ministros. Além de povoar a corte com aliados, Chávez conseguiu também que a nova lei permitisse o afastamento de outros ministros por decisão do governo em casos em que suas condutas ferissem “o interesse nacional”. Na prática, a regra se tornou um salvo-conduto para que Chávez e, posteriormente, seu sucessor Nicolás Maduro tirassem juízes que tomassem medidas que os desagradassem.
Crédito, Reprodução/Facebook
Bolsonaro prometeu para ‘live bomba’ a apresentação de provas de fraudes nas eleições — mas não apresentou
Durante a campanha eleitoral, Bolsonaro chegou a defender o aumento no número dos juízes, dos 11 atuais para 21. “É uma maneira de você colocar dez isentos lá dentro porque, da forma como eles têm decidido as questões nacionais, nós realmente não podemos sequer sonhar em mudar o destino do Brasil”, disse Bolsonaro em entrevista, em julho de 2018, à TV Cidade, de Fortaleza. Já no governo, em 2020, o então ministro da Educação, Abraham Weintraub, chegou a dizer em uma reunião ministerial que ministros do STF deveriam ser presos.
O próprio presidente colecionou duros embates com diversos ministros da Corte. O mais recente deles tem sido com o ministro Barroso, a quem já chamou de idiota e mentiroso, e com Alexandre de Moraes, a quem qualificou como “ditatorial” e alertou que “a hora dele vai chegar”.
Bolsonaro não ficou só em ataques verbais. Em seu primeiro ano de governo, tentou emplacar na Reforma da Previdência uma regra que retirava a especificação de idade-limite para a aposentadoria dos integrantes do STF. A ideia seria determinar uma nova idade, menor do que a atual, via lei complementar. Assim, ele abriria uma grande quantidade de vagas para nomear nomes alinhados aos seus interesses.
A manobra, no entanto, foi detectada pelo Congresso, que a desmontou. Esse ano, conforme a previsão legal, Bolsonaro deverá nomear seu segundo ministro (o primeiro foi Kássio Nunes Marques), em substituição a Marco Aurélio Mello. O indicado é André Mendonça, ex-advogado-geral da União e ex-ministro da Justiça sob Bolsonaro.
Interferência em órgãos de investigação
Em outra frente, Bolsonaro desfez regras tácitas sobre a definição dos comandos de órgãos de investigação e controle. Ele ignorou a lista tríplice do Ministério Público Federal, na qual os procuradores indicam três lideranças da carreira aptas a assumir o posto de Procurador-Geral, e nomeou para o posto um aliado, Augusto Aras. Embora seja uma prerrogativa do presidente, uma intervenção como essa no órgão de investigação não acontecia desde o início do governo de Lula, em 2003, e foi recebida como um golpe sobre a autonomia investigativa do órgão.
Crédito, Marcos Corrêa / PR
Em imagens da reunião, o então ministro Sergio Moro aparece com o semblante carregado
Do mesmo modo, o então ministro da Justiça de Bolsonaro, Sergio Moro, se demitiu acusando o presidente de tentar interferir na autonomia investigativa da Polícia Federal. De acordo com Moro, Bolsonaro queria trocar a chefia nacional e o comando de superintendências estaduais da PF, como a do Rio de Janeiro, sem apresentar uma justificativa plausível para isso. O presidente reiterou que a mudança era uma prerrogativa de seu cargo.
Desde a posse de Bolsonaro, já houve quatro nomeações para chefes da PF, além de afastamentos locais, como o do delegado Alexandre Saraiva, ex-superintendente do Amazonas, retirado do cargo um dia após pedir que o STF investigasse o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, um dos mais fiéis aliados ao presidente.
Bolsonaro, no entanto, não inventou a estratégia. Em 2000, Chávez conseguiu aprovar na Assembleia Nacional seu então vice-presidente, Isaías Rodriguez, para o posto equivalente ao de procurador-geral, desalojando da cadeira um servidor que questionara a legalidade de algumas ações de seu governo.
De acordo com a oposição ao regime chavista, os órgãos de investigação passaram a se comportar de maneira totalmente comprometida com os interesses do mandatário. A nova procuradoria sob Chávez passou a considerar críticas ao governo como atentados aos interesses nacionais.
No Brasil de Bolsonaro, algo semelhante aconteceu. O então ministro da Justiça, André Mendonça, pediu à Polícia Federal investigação de críticos do governo sob a alegação de que feriam a Lei de Segurança Nacional. Um dos alvos foi o ex-ministro Ciro Gomes, investigado por ter dito que “Bolsonaro para mim é um boçal, irresponsável e criminoso. E ladrão”. Inquéritos semelhantes também surgiram por iniciativa de polícias locais. A Polícia Civil do Rio chegou a abrir apuração contra o youtuber Felipe Neto por ele ter chamado Bolsonaro de “genocida”.
Armamento da população civil
Crédito, REPRODUÇÃO/YOUTUBE
Bolsonaro é um entusiasta do armamento da população
“O melhor exército que pode existir para conseguir a liberdade é o povo armado. Eu não quero ditadura no Brasil, quero liberdade”, disse Bolsonaro, durante reunião ministerial, em 2020. E seguiu: “Eu quero, ministro da Justiça e ministro da Defesa, que o povo se arme! Que é a garantia que não vai ter um filho da puta pra impor uma ditadura aqui! Que é fácil impor uma ditadura! Facílimo!”
Desde o início do governo, Bolsonaro tem editado decretos que facilitam o acesso da população civil ao armamento. Boa parte deles têm sido barradas no STF. Ainda assim, o número de armas entre civis no Brasil bate recorde. Nos dois primeiros anos do governo do governo Bolsonaro, 274 mil novas armas de fogo foram registradas, um aumento de 183% em relação ao total de novos registros no biênio anterior e o maior patamar da série histórica, medida desde 2009.
As justificativas dadas por Bolsonaro para expandir o acesso ao armamento à população civil — a necessidade de defender a liberdade do povo e a soberania do país — ressoam àquelas dadas por Chávez, em 2006, quando deliberadamente iniciou a formação de uma milícia, que hoje conta com quase 1 milhão de civis, como ele mesmo planejava.
“A Venezuela precisa ter 1 milhão de homens e mulheres bem equipados e bem armados”, disse o líder venezuelano, após ter negociado a importação de 100 mil fuzis da Rússia e fechar acordo bilionário com a Espanha para a compra de equipamentos militares. “Peço permissão para comprar outro carregamento de armas, porque os gringos querem nos desarmar. Temos de defender nossa pátria”, complementou Chávez.
Crédito, Getty Images
A Milícia Bolivariana é formada por civis partidários do governo socialista armados e treinados
A milícia de Chávez é uma espécie de exército paralelo e político e foi gestada depois da tentativa de golpe sofrida por ele em 2002, quando ficou claro que apenas o Exército poderia não ser o bastante para assegurá-lo no comando. Os alistados na milícia são pessoas comuns, que recebem um treinamento de 5 dias de tiro, disciplina militar e doutrina nacional. Na prática, funcionam também como olheiros do regime para qualquer sinal de sublevação social.
O governo Chávez também distribuiu armas para os chamados coletivos, grupos paramilitares politicamente alinhados aos partidos e que já se envolveram em atos mais extremos.
“A comparação tem limites porque embora haja a flexibilização para acesso a armas no caso de Bolsonaro, não há um planejamento, uma organização hierárquica orientando o contingente de pessoas que compra essas armas. No caso de Chávez, não. Ele realmente preparou a população para a Guerra Civil”, diz Rafael Ioris, cientista político da Universidade do Colorado.
A despeito do discurso favorável ao armamento de grupos específicos e aliados, Chávez lançou campanha de redução à circulação de armas entre a população em geral, restringindo o acesso a elas às Forças Armadas, às milícias e aos coletivos. A tentativa de desarmamento foi, aliás, uma das raras pautas em que chavistas e a oposição concordaram e trabalharam juntos.
Perseguição a funcionários públicos não alinhados
A gestão Chávez ficou marcada por perseguições a funcionários públicos não alinhados ao regime. Em novembro de 2006, o canal televisivo RCTV chegou a transmitir imagens do então ministro da Energia de Chávez dizendo aos funcionários da empresa estatal de petróleo, a PDVSA, que eles deveriam se demitir se não apoiassem a agenda política do presidente.
Crédito, Ricardo Galvão / Arquivo pessoal
O físico Ricardo Galvão, ex-diretor do Inpe, foi demitido mesmo tendo um mandato
No Brasil, situações semelhantes têm acontecido. Uma das mais notórias foi a demissão, em 2019, do então diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) Ricardo Galvão. Embora tivesse um mandato, Galvão foi dispensado depois de divulgar dados sobre o desmatamento na Amazônia que desagradaram Bolsonaro.
Na ocasião, o presidente chegou a afirmar que Ricardo Galvão estava “agindo a serviço de uma ONG”. “Com toda a devastação que vocês nos acusam de estar fazendo e de ter feito no passado, a Amazônia já teria se extinguido”, declarou Bolsonaro.
Em outro caso com paralelo na Venezuela sob Chávez, Bolsonaro tem descumprido uma regra tácita, que vigorava desde os anos 1990, de nomeação do reitor de universidades federais. Historicamente, o nomeado é eleito pelos professores, funcionários e alunos das instituições. Bolsonaro, no entanto, tem optado por exercer o direito de escolher seus nomes preferidos, eventualmente até mesmo fora da lista tríplice elaborada pelas universidades.
Segundo cálculo da Folha de S.Paulo, isso já aconteceu ao menos em um quarto das nomeações. Embora não haja uma explicação oficial para tais decisões, a leitura das universidades é de que há interferência política na gestão universitária. Em março de 2019, Bolsonaro deixou claro que agiria conforme suas possibilidades e se justificou: “O ambiente acadêmico com o passar do tempo vem sendo massacrado pela ideologia de esquerda que divide para conquistar e enaltece o socialismo e tripudia o capitalismo. Neste contexto, a formação dos cidadãos é esquecida e prioriza-se a conquista dos militantes políticos”.
Também em 2019, o sucessor de Chávez, Nicolás Maduro, obteve uma vitória no Tribunal Supremo do país para alterar as regras de votação de reitores de universidades nacionais e retirar o peso dos professores na escolha. O ambiente acadêmico venezuelano é considerado pelo governo como um dos últimos bastiões de oposição à chamada revolução bolivariana.
Em maio de 2020, o governo de Nicolás Maduro anunciou o que foi tomado como um “absurdo” pela Universidade John Hopkins: a Venezuela teria tido, até então, apenas 10 mortos por covid-19. O líder venezuelano defendia que seu combate à pandemia — baseado em parte no uso da cloroquina, um medicamento cuja ineficácia foi comprovada e que também foi adotado por Bolsonaro como tratamento para covid-19 no Brasil — era um grande sucesso.
A médica da Universidade Jonh Hopkins Kathleen Page, que entrevistou equipes de saúde venezuelanas para o relatório da instituição sobre a pandemia, disse à AFP que se tratava de um dado falso. Em uma estimativa conservadora, segundo ela, o número de óbitos pelo vírus no país chegaria “em pelo menos 30 mil” naquele momento.
Crédito, Reuters
Maduro fala para militares em comemoração de revolta liderada por Chávez
Os dados sobre mortalidade da covid-19 se tornaram apenas o exemplo mais recente da falta de confiabilidade das estatísticas do governo Chávez-Maduro. O problema se acentuou conforme o país se aprofundava na crise. A Venezuela passou ao menos dois anos sem publicar dados sobre mortalidade infantil, por exemplo, para não dar munição aos que criticam o regime. Chávez chegou a expulsar do país integrantes de organismos internacionais, como a Human Rights Watch, que denunciavam os problemas nos dados, entre outras críticas ao governo venezuelano.
No caso brasileiro, o governo Bolsonaro foi duramente criticado quando, na gestão do ministro Eduardo Pazuello, tentou alterar o cálculo de vítimas da covid-19 no Brasil. Em junho de 2020, o governo deixou de divulgar os dados completos de mortalidade e o histórico de vítimas da pandemia, e manteve acessíveis apenas os dados sobre óbitos registrados nas 24h anteriores, o que reduzia drasticamente o dado. Alterou ainda o horário de divulgação dos boletins epidemiológicos, das 19h para as 22h. Ao comentar o assunto pela primeira vez, Bolsonaro afirmou: “Acabou matéria no Jornal Nacional.”
Crédito, Reprodução/Guardian
Jornal britânico The Guardian disse que governo brasileiro foi acusado de `totalitarismo e censura` ao mudar metodologia de números de covid-19
Diante do apagão de dados, o site da Universidade John Hopkins chegou a tirar o Brasil de sua contagem. E órgãos de imprensa criaram um consórcio para apurar os números junto aos Estados. Os dados do Conselho Nacional de Secretarias de Saúde (Conass) passaram a balizar as análises. Diante da pressão, o governo recuou.
Essa, no entanto, não foi a primeira vez que a gestão Bolsonaro se debateu com dados oficiais negativos. Como mostra o caso da demissão do diretor do Inpe, o governo federal tentou repetidas vezes alterar a forma de cálculo e divulgação dos dados sobre a devastação ambiental. Recentemente, chegou a anunciar que o monitoramento ficaria sob responsabilidade do Ministério da Agricultura. Diante das críticas — já que o desmatamento é impulsionado justamente por atividades de parcela do setor ruralista — o governo voltou atrás.
Há outros exemplos. No fim de julho, o ministro da Economia, Paulo Guedes, atacou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) diante da nova estatística de desemprego — que aponta 15 milhões de brasileiros sem emprego. Segundo Guedes, o IBGE “está na idade da pedra lascada” e seu dado não deveria ser considerado. O governo também não destinou recursos suficientes para realização do Censo populacional, atrasado em dois anos.
Militares no poder
“A chegada de Chávez e Bolsonaro à Presidência marca também o retorno, com força, dos militares à máquina do Estado. A verdade é que até esse momento, os militares já não faziam parte da política cotidiana nem no Brasil, nem na Venezuela”, afirma Fernando Bizzarro, da Universidade Harvard.
Tanto Venezuela quanto Brasil viveram períodos de ditadura militar. Mas no caso venezuelano, o regime havia se encerrado em 1958, o que significa que os militares estavam fora do centro nervoso político há mais de 40 anos quando Chávez ascendeu.
Crédito, AFP
Em um país marcado pela instabilidade política e escassez de bens básicos, militares controlam os mais diversos setores da economia
O histórico brasileiro é mais complexo. A ditadura se encerrou em 1984, e o retorno dos militares a funções centrais no Estado é iniciado pela gestão de Michel Temer. Impopular e diante de uma crise econômica, Temer recria o GSI, um órgão de segurança nacional que controla a Abin (Agência Brasileira de Inteligência) extinto em 2015. Para o comando da pasta, ele nomeou Sérgio Etchegoyen, que até então ocupava o cargo de Chefe do Estado-Maior do Exército e passou a ser uma das vozes mais influentes do círculo do presidente.
Esse teria sido o ponto de início de um processo que Bolsonaro aprofundaria de maneira que não encontra paralelos nem com a própria ditadura brasileira. Um levantamento feito pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em 2020 identificou 6.157 militares da ativa e da reserva em cargos civis no governo Bolsonaro. O número é mais que o dobro do que havia em 2018, na gestão Temer (2.765) e supera as cifras registradas durante os governos militares no período 1964-84.
Mais do que isso, em fevereiro de 2020 a BBC News Brasil mostrou que, naquele momento, o Brasil tinha mais militares na chefia de ministérios do que a própria Venezuela.
E embora esse número possa flutuar, o dado aponta o patamar de importância que as Forças Armadas adquiriram no governo de Jair Bolsonaro, já que a manutenção do regime chavista se fia hoje basicamente no apoio militar que ainda detém.
Segundo especialistas ouvidos pela BBC News Brasil, no entanto, a presença de militares na gestão Chávez foi aumentando ao longo dos anos, como resposta a diferentes crises que o governo enfrentava: a tentativa de golpe contra Chávez ou uma greve geral na PDVSA (a estatal petrolífera venezuelana). Em contraponto, eles afirmam, Bolsonaro já iniciou a gestão cercado de militares. O resultado, no entanto, é bastante semelhante.
Assim como Bolsonaro, Chávez também investiu no aumento da educação militar no país, nomeou um general para o comando da petroleira estatal, do mesmo modo que Bolsonaro, em 2021, com a Petrobras, e alocou um militar até no Ministério da Saúde, o que Bolsonaro repetiria anos mais tarde com Eduardo Pazuello à frente da pasta.
“Ambos também foram operando expurgos nas Forças Armadas para deixar em melhor posição os seus aliados”, afirma Daniela Campello, da FGV, citando o caso da demissão do então ministro da Defesa, Fernando de Azevedo e Silva, e dos três chefes das forças em março de 2021. Para o lugar de Azevedo e Silva, Bolsonaro indicou o general Walter Braga Netto.
Crédito, Getty Images
Com Bolsonaro, militares voltaram ao poder sem ruptura institucional
Braga Netto se envolveu em ao menos dois episódios recentes vistos por parlamentares e analistas políticos como intromissão das Forças Armadas na política brasileira. O primeiro, quando admoestou o senador Omar Aziz, por nota, junto aos demais chefes das forças, por comentários do presidente da CPI acerca da “banda podre das Forças Armadas”. A CPI investiga o possível envolvimento de militares que ocupavam cargos no Ministério da Saúde em esquemas fraudulentos de compras de vacina. O segundo quando se posicionou, também por nota, em favor do voto impresso, posição também apoiada pelos Clubes Militares.
Bolsonaro tem afirmado publicamente que se não houver voto impresso nas eleições de 2022, não haverá o pleito.
No caso da Venezuela, o preço do apoio dos quartéis a Chávez foi alto. Além do loteamento de cargos estatais, o chavismo franqueou aos comandantes aliados generosos espaços em diferentes setores da economia venezuelana.
O grupo de militares, chamado de “boliburguesia”, a burguesia bolivariana, assumiu o controle da cadeia de produção petroleira, além da extração de outros minérios, incluindo ouro. Empresas vinculadas aberta ou sigilosamente a comandantes militares firmaram contratos públicos para atuar em ramos tão diversos quanto produção de alimentos e bens de consumo a serviços de coleta de lixo. Esses laços ajudariam a explicar porque o regime se mantém, a despeito da enorme crise. A oposição venezuelana tem acenado com anistia para que os militares troquem de lado.
No caso do Brasil, os militares como classe já experimentam benefícios bem palpáveis: foram excluídos da reforma da previdência, que impôs mais anos de trabalho e menor benefício à população brasileira, e são a única categoria que poderá receber reajuste salarial em 2021. Em meio à crise fiscal, o orçamento do Ministério da Defesa tem sido relativamente preservado e chegou a patamares semelhantes ao do Ministério da Educação, por exemplo.
Os especialistas ouvidos pela BBC News Brasil afirmam ser impossível saber o grau de compromisso das Forças Armadas com o projeto de poder de Bolsonaro e o quão dispostas estariam em bancar alguma eventual tentativa de ruptura democrática. “Acredito que isso não aconteceria. Mas, veja, só o fato de estarmos discutindo aqui o que querem as Forças Armadas do Brasil, que deveriam ser totalmente subordinadas aos civis, já é extremamente preocupante”, aponta Trinkunas, da Universidade Stanford.
Braga Netto tem negado que haja uma politização das Forças Armadas.
“Hugo Chávez foi o primeiro presidente na América Latina a ter perfil consistente nas redes sociais, comunicação que Bolsonaro dominaria anos mais tarde”, afirma Campello, da FGV.
Crédito, Reuters
Chávez costumava comandar um programa televisivo dominical batizado de Alô, Presidente
Enquanto Bolsonaro tem encontro direto com o eleitor toda quinta-feira, em lives de Facebook, Chávez costumava comandar um programa televisivo dominical batizado de Alô, Presidente. Em 2020, a equipe de comunicação de Bolsonaro chegou a lançar um piloto de programa no qual Bolsonaro responderia a perguntas de eleitores, batizado igualmente de Alô, Presidente. A revelação pela imprensa de que os supostos entrevistados nesse piloto na verdade não existiam, e que suas fotos eram imagens genéricas compradas de agência, aliada à comparação com o programa de Chávez, no entanto, fizeram com que a Secretaria de Comunicação abandonasse a ideia.
Nos programas de Chávez e Bolsonaro, o governo se faz ao vivo. O presidente venezuelano chegou a anunciar, em 2008, na TV que enviaria batalhões do Exército para a fronteira com a Colômbia, gerando uma crise diplomática séria com o país vizinho. Já Bolsonaro usa seus programas para endossar aliados fustigados por denúncias, fornecer interpretações sobre fatos políticos que possam ser usados como propaganda por sua militância ou defender medidas que quer adotar no governo.
No fim de julho, passou mais de duas horas em uma live em defesa do voto impresso, para a qual não conta com votos no Congresso nem respaldo no Supremo, e apelou até para notícias falsas para argumentar que o atual sistema eleitoral brasileiro não é seguro, Por causa do episódio, Bolsonaro está sob investigação no inquérito das Fake News no STF.
Além disso, como o evento foi retransmitido pela emissora estatal TV Brasil, Bolsonaro foi alvo de notícia-crime enviada ao STF por parlamentares petistas, que o acusam de a improbidade administrativa, propaganda eleitoral antecipada e abuso de poder político e econômico. A ministra Carmen Lúcia qualificou as acusações como “graves” e pediu parecer à Procuradoria-Geral da República.
Crédito, Reprodução/Presidência da República
Bolsonaro ao lado do humorista Carioca, que tentou distribuir bananas a jornalistas em frente ao Palácio da Alvorada
A comunicação direta com o eleitor não é só uma preferência dos dois líderes, mas também uma forma de driblar perguntas incômodas da imprensa, com quem Chávez e Bolsonaro acumularam embates. Em 2020, Bolsonaro chegou a pôr em dúvida a renovação da concessão pública da TV Globo, emissora mais vista do país. “Vocês vão renovar a concessão em 2022. Não vou persegui-los, mas o processo vai estar limpo. Se o processo não estiver limpo, legal, não tem renovação da concessão de vocês, e de TV nenhuma. Vocês apostaram em me derrubar no primeiro ano e não conseguiram”, disse, acusando a cobertura de seu mandato de ser “porca”e uma “patifaria”.
Chávez foi mais longe. “Não será renovada a concessão para este canal golpista de televisão que se chama Radio Caracas Televisión (RCTV)”, anunciou em 2006, cumprindo ameaças que fazia não apenas porque o veículo trazia reiteradas denúncias contra seu governo como também porque não dava destaque às manifestações a favor de Chávez na cobertura. A emissora saiu do ar em 2007.
A RCTV chegou a ter alguma sobrevida como canal por assinatura, mas mesmo isso acabou em 2010. Uma determinação da Corte Interamericana de Direitos Humanos ordenou, em 2015, que a TV fosse reaberta, mas o regime chavista ignorou a decisão. O governo de Chávez também abriu investigações administrativas contra outros veículos de imprensa quando avaliava que a cobertura não lhe era favorável, segundo relatórios da ONG Human Rights Watch. Tais processos resultaram algumas vezes em sufocamento financeiro desses órgãos de imprensa. Em outras situações, o governo usou seu poder de financiamento por meio de compra de anúncios para obter a simpatia de veículos em sua cobertura.
Entre 2003 e 2019, ao menos 200 órgãos de imprensa, entre emissoras de rádio e televisão e jornais, tiveram seus trabalhos interrompidos. E, de acordo com o levantamento do Instituto Prensa y Sociedad, que monitora as condições de trabalho da imprensa no país, houve ao menos 213 violações ao trabalho jornalístico apenas no primeiro semestre de 2021, entre elas dez prisões arbitrárias de repórteres.
Pela primeira vez em 20 anos, o relatório da ONG Repórteres sem Fronteiras colocou o Brasil na zona vermelha, a mais restrita em termos de liberdade de imprensa, a mesma em que está a Venezuela. No relatório, no entanto, a ONG destaca que a situação venezuelana (em 148º lugar num ranking de 180 países) segue sendo pior do que a do Brasil (111ª posição). “O trabalho da imprensa brasileira tornou-se especialmente complexo desde que Jair Bolsonaro foi eleito presidente, em 2018. Insultos, difamação, estigmatização e humilhação de jornalistas passaram a ser a marca registrada do presidente brasileiro”, afirma o relatório de 2021 da organização.
As relações de Bolsonaro com a imprensa se revelam também por meio da maneira como o governo federal aloca seus recursos publicitários.
Um relatório do Tribunal de Contas da União de 2020 mostrou que, sem demonstrar os critérios para as decisões, a gestão Bolsonaro cortou em 60% a verba destinada à propaganda federal na TV Globo, líder de audiência. Por outro lado, os repasses para SBT e TV Record, cuja linha editorial é considerada menos crítica ao governo, aumentaram em cerca de 25% para cada uma delas.
Crédito, Facebook/Reprodução
Segundo investigadores, Tercio Arnaud Tomaz, funcionário do Planalto no chamado Gabinete do Ódio, passava vídeos do presidente para canais bolsonaristas no YouTube investigados
Além disso, investigações da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República sobre atos antidemocráticos apontaram que 12 canais no YouTube de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro receberam cerca de US$ 1,1 milhão em monetização dos vídeos. O valor, que vai de junho de 2018 a maio de 2020, corresponde a cerca de R$ 4,2 milhões em valores convertidos com o câmbio médio da época. Esses canais são conhecidos por disseminação de conteúdo falso e já sofreram diferentes sanções de plataformas como Youtube e Facebook.
Com todas essas semelhanças, o que impede o Brasil de ‘virar uma Venezuela’?
Ao menos 3 aspectos são centrais para entender os limites do uso do manual chavista por Bolsonaro: a popularidade presidencial, a quantidade de recursos disponíveis e a força das instituições desafiadas.
“Quando Bolsonaro chega ao poder, chega com bem menos do que os mais de 60% dos votos que Chávez teve em sua primeira eleição. E também teve o caminho facilitado na vitória porque Lula foi impedido de concorrer. Então há, de saída, uma diferença no grau de popularidade deles”, afirma Jorge Castañeda, da New York University.
Chávez aproveitou o embalo das urnas e a insatisfação popular no país para lançar uma Constituinte, na qual 9 em cada 10 membros eram aliados a ele. Era o início do que o cientista político Luis Vicente Léon chamou de um processo de “colonização das instituições”. O próprio Léon, porém, observa que a forte popularidade de Chávez nos anos iniciais do regime dispensou a necessidade de qualquer tipo de fraude eleitoral para que ele vencesse as eleições presidenciais de 2000, 2006 e 2012 e os pleitos legislativos de 2000, 2005 e 2010. Sua única derrota aconteceu em 2007, quando ele tentou aprovar por referendo popular um terceiro mandato. Dois anos mais tarde, o presidente refez a consulta e venceu.
Mas, afinal, o que fez de Chávez um presidente tão popular a despeito de seus ataques a instituições democráticas?
Crédito, Reuters
Chávez reduziu significativamente a pobreza, que retornou forte quando o preço do barril de petróleo voltou a cair
O período dele no poder coincide com uma alta histórica no preço do petróleo, base primordial da economia venezuelana e cuja receita se concentra na mão do Estado, já que o recurso é explorado por uma estatal. Chávez encaminhou a abundância de verba para a população mais pobre do país e de fato gerou impacto imediato na vida de milhões de pessoas.
De acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas, em 1999, 20,1% dos venezuelanos viviam na extrema pobreza. Em 2007, o índice havia caído para 9,5%. Suas políticas, no entanto, não eram estruturantes e quando o preço do barril de petróleo voltou a cair, a pobreza retornou com mais força do que antes ao país.
De forma semelhante, Bolsonaro experimentou o incremento de popularidade que a transferência direta de renda pode trazer. O auxílio emergencial federal de R$ 600 durante a pandemia alavancou seus índices de popularidade a 37% em agosto, segundo o Datafolha (ante aos atuais 24%).
Seis vezes maior que a economia da Venezuela, a do Brasil é também muito mais diversa, dinâmica e muito menos atrelada ao Estado. “Além disso, o governo enfrenta uma crise fiscal, o que reduz muito as possibilidades de gastos do governo”, afirma Daniela Campello, da FGV. Justamente o Orçamento apertado forçou a redução e interrupção do auxílio, que Bolsonaro tenta relançar até o fim do ano como um substituto ao programa Bolsa Família. Agora, o valor seria de R$ 400 (hoje é de R$ 190) e o nome do programa seria Auxílio Brasil.
Dada a falta de recurso público para fazer esse aumento, o ministro da Economia, Paulo Guedes, sugeriu que o governo estuda formas de não cumprir os pagamentos dos precatórios, dívidas do Estado chanceladas judicialmente, para bancar o programa, o que causou alarme nos mercados e derrubou a bolsa na semana passada.
“É importante lembrar que Bolsonaro partiu de uma pauta bastante elitista, de austeridade fiscal, e chegou a ser contra o auxílio emergencial de R$ 500, até que se deu conta de que isso lhe trazia ganhos de popularidade. Ele tenta agora uma reedição disso, mas é muito difícil dada a situação da economia”, afirma o cientista político Rafael Ioris, especialista em América Latina da Universidade do Colorado.
Crédito, ROSINEI COUTINHO/SCO/STF
Ministro do STF Alexandre de Moraes incluiu presidente Bolsonaro como investigado no inquérito das Fake News
Por fim, o Brasil possui instituições e uma oposição política consideradas mais sólidas do que as da Venezuela pelos especialistas. “Na Venezuela, o descrédito das instituições democráticas, da classe política, da elite empresarial entre 1999 e 2003 era muito maior do que hoje no Brasil. Logo, é mais difícil para Bolsonaro intervir nas regras do jogo”, afirma Castañeda, para quem as tentativas de Bolsonaro de lançar descrédito sobre as urnas eletrônicas têm poucas chances de levar a algum resultado prático em 2022.
No início de agosto, a Proposta de Emenda Constitucional do voto impresso, encampada por Bolsonaro, foi derrotada na comissão especial da Câmara onde era analisada. Ainda assim, deve ser levada ao plenário da Câmara, onde também se espera uma derrota.
Will Grant, da BBC, também chama a atenção para a condição da oposição tanto no Brasil quanto na Venezuela. Em quase todo o período que esteve no poder, de 1999 a 2013, Chávez contou com maioria folgada na Assembleia Nacional, o equivalente ao Congresso brasileiro, e com controle sobre a Suprema Corte do país. O que não conseguiu fazer manipulando os outros dois Poderes, ele fez por meio de referendos.
Bolsonaro, apesar de ter sido o presidente que mais liberou recursos para emendas parlamentares, segundo levantamento do jornal O Estado de S. Paulo, foi também o presidente que menos aprovou seus projetos no Congresso nos últimos 18 anos. No STF, a interlocução com os ministros foi interrompida após os insultos que o presidente lançou contra alguns membros da Corte.
E enquanto na Venezuela, os partidos contrários a Chávez tiveram que lidar com a quase impossibilidade de se financiar, já que a maior parte dos recursos que a economia girava passavam diretamente pelo governo, no Brasil, essa questão não existe. O fundo eleitoral público de R$ 4 bilhões será distribuído entre os partidos para o pleito de 2022 e o principal beneficiário dos recursos é o PT, partido do principal adversário de Bolsonaro nas urnas, o ex-presidente Lula.
Em forma de protesto contra as condições de competição política, a oposição venezuelana optou por boicotar eleições-chave, como ao Legislativo em 2005, o que na prática apenas facilitou a permanência de Chávez no poder. “Na Venezuela, Chávez passou a ser o próprio Estado. Ou os políticos e grupos de oposição da sociedade civil encontravam espaço político para operar dentro da revolução bolivariana, ou não havia espaço real fora dali. No caso brasileiro é diferente, Bolsonaro não tem o domínio das instituições e tem como antagonista um personagem forte, Lula. Em última instância, isso o impede de realmente ser capaz de assumir as rédeas do poder no Brasil por mais de dois mandatos”, afirma Grant.
Ioris, da Universidade do Colorado, vai mais longe. Para ele, a escalada de tensão do presidente brasileiro em relação às demais instituições por meio de ataques verborrágicos é um dos poucos recursos que sobram a Bolsonaro nesse momento. “Diferente de Chávez, o governo Bolsonaro sequer chega a ter uma agenda muito clara. Defende acabar com muitas coisas, mas não sabe bem o que colocar no lugar. Então escolhe questões pontuais pra defender. Devemos ver cada vez mais lives raivosas”, aposta.
Elas, no entanto, podem ter um efeito negativo para o próprio presidente. A live de duas horas em que defendeu o voto impresso e disseminou informação falsa sobre o sistema eleitoral renderam a Bolsonaro a abertura de inquéritos tanto pelo Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal. Se o Judiciário concluir que houve abuso de poder econômico e político e crime eleitoral, Bolsonaro poderá até mesmo ser barrado da disputa presidencial em 2022.
“Há mais consciência dos perigos do populismo autoritário na América Latina, do que havia com Chávez, no começo dos anos 2000. Todos nós já vimos esse filme. Sabemos como isso termina. E essa consciência, tanto dentro quanto fora do Brasil, é certamente uma das diferenças mais importantes entre as situações dos países de Chávez e Bolsonaro”, resume Jorge Castañeda, da New York University.
 Hoje Pernambuco Notícias a toda hora!
Hoje Pernambuco Notícias a toda hora!
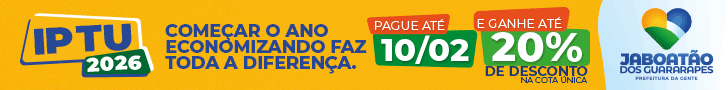




Você precisa fazer login para comentar.