Crédito, Getty Images
Círculo de Justiça Restaurativa em escola nos EUA; prática vem sendo adotada em vários países
Nas últimas décadas, a mediação de conflitos virou uma espécie de ciência. Hoje há vários cursos universitários e pesquisadores dedicados ao tema, e técnicas desenvolvidas por eles já ajudaram a encerrar guerras em vários países.
Esses métodos também vêm ganhando espaço em sistemas judiciais, onde são empregados como alternativas ao encarceramento e em conciliações entre vítimas e ofensores.
Será que essas práticas poderiam ser úteis para uma sociedade brasileira tão polarizada? Mediadores experientes teriam dicas a compartilhar com brasileiros que brigaram com parentes ou amigos por causa da política?
Esse é o tema do episódio do podcast Brasil Partido que vai ao ar nesta sexta-feira (19/05) no site da BBC, no YouTube e em plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcasts e Deezer.
Apresentado pelo repórter João Fellet, o podcast trata de conflitos que dividem a sociedade brasileira. Os episódios vão ao ar às sexta-feiras. Ouça um trecho:
As dicas de negociadores de paz para reconciliar Brasil polarizado
Afonso Celso Prazeres de Oliveira, de 83 anos, é um expert em mediação de conflitos, ainda que nunca tenha estudado o tema.
Ele é síndico desde 1993 de um dos maiores edifícios do Brasil, o Copan, no centro de São Paulo. O Copan tem 1.160 apartamentos e cerca de 5 mil moradores — ou seja, é mais populoso do que muitas cidades brasileiras.
Ele diz que o período mais difícil que enfrentou como síndico foram os anos 1990. Na época, o Copan era um grande ponto de tráfico de drogas e de prostituição.
Afonso Celso Prazeres de Oliveira é síndico do edifício Copan desde 1993
Afonso diz que o combate às atividades lhe rendeu ameaças, e ele teve até que passar um tempo usando colete à prova de balas.
Hoje, os problemas parecem ter sido superados, e o Copan se tornou um dos edifícios mais valorizados da região.
Mas há outra explicação para o sucesso do síndico, segundo moradores ouvidos pelo podcast Brasil Partido: a forma como ele lida com brigas entre condôminos.
“Aprendi ao longo do tempo a ouvir as pessoas. Quando é necessário o silêncio, ele permanece. Salvo o contrário, (faço) uma ou outra observação, nunca desfavorável”, afirma o síndico.
“Tento sempre conversar com os dois lados, porque só ouvir uma parte você não vai fazer juízo do problema.”
Ele diz que já viveu outros dois momentos de polarização intensa no Brasil: o segundo mandato de Getúlio Vargas (1951-1954) e a ditadura militar (1964–1985).
Para ele, o conflito político atual “é uma repetição da história com personagens novos”. Segundo Afonso, Lula e Bolsonaro são reflexos “de um passado recente que não mudou e talvez tão cedo não vai mudar”.
Mesmo sem jamais ter estudado mediação de conflitos, Afonso segue alguns preceitos dos especialistas nesse campo, como o de buscar ouvir, não fazer julgamentos sobre os interlocutores e jamais tomar partido numa disputa.
Crédito, Getty Images
Edifício Copan foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer e é um dos maiores prédios do Brasil
O que é comunicação não violenta
Esses preceitos são alguns dos pilares de uma filosofia hoje usada para mediar conflitos em diferentes ambientes: a comunicação não violenta.
Juliana Calderón é consultora em comunicação não violenta do Instituto Tiê, que dá treinamentos sobre esse tema em empresas.
Ela diz que chegou a esse campo depois de ajudar a mediar a separação de seus pais.
“Ali eu percebi essa minha aptidão para tentar conciliar”, conta.
Mas foi só após se formar na faculdade de Comunicação que ela conheceu a obra do psicólogo americano Marshall Rosenberg, o principal teórico da comunicação não violenta.
Morto em 2015, Rosenberg dizia que por trás de todo comportamento humano existe alguma necessidade: ser ouvido, respeitado, se sentir seguro, reconhecido, amado etc.
Para ele, uma pessoa agride outra quando sente que alguma necessidade dela não foi atendida. Nesse caso, o que uma pessoa que usa a comunicação não violenta faz é buscar as razões que levaram o outro a ser agressivo, em vez de retribuir a agressão.
Juliana conta que o emprego da comunicação não violenta numa discussão exige trocar julgamentos por fatos. Por exemplo: se uma pessoa está chateada com um amigo que não atendeu seus telefonemas quando ela precisava de ajuda, a pessoa deve evitar falas como “você não se importa comigo”, ou “você não tem consideração pelas pessoas”.
Em vez disso, diz Juliana, a pessoa deve citar fatos: “Tentei te ligar X vezes, precisava muito da sua ajuda, mas você levou tantas horas para me atender”.
Segundo Juliana, quando a conversa segue esses parâmetros, é mais fácil descobrir por que o amigo não atendeu os telefonemas e buscar uma conciliação que considere as necessidades das duas partes.
Para ela, muitas brigas sobre política poderiam ser evitadas se as pessoas seguissem os princípios da comunicação não violenta.
Juliana diz, inclusive, que a polarização política no Brasil é também um problema de comunicação.
“A forma como a gente vê o mundo dessa maneira binária, dualista, está impregnada na nossa comunicação. Tem um conflito de ideias entre duas pessoas e a gente já está assim: ‘Quem é o certo, quem é o errado?’”, afirma.
“Então a gente fica cada um na sua bolha, xingando a outra bolha e vivendo em realidades paralelas que não se afetam mutuamente.”
Crédito, Getty Images
Ambiente corporativo pode ser tão conflituoso quanto reuniões de condomínio
A comunicação não violenta também tem sido usada para lidar com conflitos graves que chegam à Justiça.
Joana Blaney e a Mariana Pasqual Marques trabalham no Centro de Direitos Humanos e Educação Popular (CDHEP), uma ONG que funciona há décadas num casarão azul no Capão Redondo, na zona sul de São Paulo.
A organização foi fundada em 1989 a partir de uma Comissão Pastoral da Arquidiocese de São Paulo.
Joana e Mariana não são apenas mediadoras de conflitos: os métodos que elas empregam também buscam reparar os danos causados pela violência e reconciliar as pessoas envolvidas no caso.
Depois de fazer Mestrado em Educação e de trabalhar como professora e diretora de escolas em Washington e na Filadélfia, Joana chegou ao Brasil no fim dos anos 90 como voluntária da Maryknoll, um dos principais órgãos missionários da Igreja Católica nos Estados Unidos.
No início, ela trabalhou em favelas de São Paulo, ajudando comunidades a se organizarem.
Alguns anos depois, Joana conheceu um projeto criado pelo padre colombiano Leonel Narvaez, as Escolas de Perdão e Reconciliação.
Nessas escolas, vítimas da guerra civil na Colômbia — inclusive ex-combatentes — aprendiam a ler e escrever ao mesmo tempo em que eram estimuladas a falar sobre emoções. Muitos deles já eram adultos, mas nunca tinham se alfabetizado.
As pessoas traziam para os encontros palavras que eram significativas para elas, como raiva, luta, medo e ódio. Então elas dialogavam sobre suas vidas e sobre os sentimentos que essas palavras despertavam.
Depois, conforme aprendiam a escrever, as palavras podiam ser desconstruídas: as letras eram reposicionadas para formar outras palavras que remetessem a sentimentos menos dolorosos e mais pacíficos.
As Escolas de Perdão e Reconciliação deram tão certo na Colômbia que se espalharam por vários outros países com altos índices de violência, incluindo o Brasil.
“Fomos treinados para ser facilitadores e vimos como este curso ajudou muito as pessoas a se recompor dentro e ir para frente com sua vida, depois lidando com as dores e os traumas de uma maneira bem saudável”, diz Joana.
A experiência com as Escolas de Perdão e Reconciliação aproximou a Joana de um campo em que ela se tornaria uma referência no Brasil: a Justiça Restaurativa.
Trata-se de uma filosofia de resolução de conflitos não punitivista e em grande parte inspirada em práticas de diferentes povos indígenas e comunidades tradicionais.
Crédito, Getty Images
Justiça Restaurativa se inspira em formas de resolução de conflito de povos indígenas e comunidades tradicionais
É o caso, por exemplo, dos Círculos de Construção de Paz, uma prática inspirada em tradições de povos indígenas canadenses. Nesses círculos, a pessoa que causou algum dano se reúne com as pessoas prejudicadas e outros membros da comunidade para debater sua ação e formas de remediá-la.
Nesse modelo, o ofensor não é punido nem apartado da sociedade. O foco desse sistema é a reparação do dano, e o ofensor inclusive participa da construção de um acordo com esse objetivo.
A reparação pode incluir trabalhos comunitários e uma indenização financeira às vítimas, além de demonstrações de remorso e arrependimento por parte do ofensor.
“Tem bem menos reincidência, porque, comparado com mandar todo mundo para o presídio, a pessoa entende melhor o impacto (de seu ato) e já vai reparar o dano fazendo esse acordo com a própria vítima ou a família da vítima”, diz Joana.
Segundo ela, como o ofensor não é preso, “tem condições de alugar um lugar para morar, de ter um emprego. Então, isso para mim é reabilitação”, afirma.
Vários países têm incorporado práticas desse tipo em seus sistemas de Justiça, normalmente para lidar com crimes de menor gravidade — e desde que todas as partes do processo concordem.
No Brasil, hoje pelo menos dez Estados têm tribunais com núcleos de Justiça Restaurativa onde atuam facilitadores formados pelo CDHEP.
“Nossa ideia realmente é parar o encarceramento em massa que estamos vendo aqui no Brasil”, diz Joana.
Para Mariana, no sistema de Justiça atual, que enfoca a punição, muitos infratores jamais têm de lidar com o impacto de suas ações nas vítimas.
Ela conta que, ao trabalhar com Justiça Restaurativa em presídios de São Paulo, conheceu muitos detentos que nunca tinham refletido sobre as consequências de seus atos.
“Claro, porque é um sistema de tanta reprodução da violência, que ele mesmo entra no lugar de vítima. Primeiro ele precisa ser reconhecido como vítima para depois ele entrar nesse processo de ‘olha, eu cometi um erro que não é aceitável e eu preciso reparar ele’. E aí alguns desses homens pediam para conversar com as suas vítimas”.
Crédito, Getty Images
Negociação de paz entre as FARC e o governo da Colômbia, em Cuba
É possível aplicar as técnicas que Joana e Mariana usam na Justiça Restaurativa para falar sobre política e reconciliar parentes que brigaram por causa desse tema?
“É possível”, diz Joana.
“O que me ajuda muito é lembrar que cada pessoa tem sua história, suas experiências e o direito de pensar e acreditar o que ela acredita, desde que não faça mal para a outra pessoa”.
“Por que eu preciso convencer o outro que eu estou certa? Por que eu não posso tentar dialogar com o outro fazendo perguntas?”, questiona.
Para Mariana, para que as pessoas saibam travar conversas difíceis, elas precisam aprender a nomear sentimentos.
Segundo ela, porém, nas escolas, “a gente não tem nenhum tipo de letramento mais sentimental, de lidar com as coisas, de identificar — muito pelo contrário”.
Mariana defende a construção de uma cultura de diálogo, o que envolve transformar instituições públicas como hospitais e escolas em espaços de diálogo.
“Vai na unidade básica de saúde ser atendido para ver se é um espaço democrático. Você não vai falar nada”, critica.
O Brasil não vive uma guerra civil, mas a história mostra que esse é um caminho possível quando uma sociedade se fragmenta. Foi o que aconteceu na Colômbia, onde décadas de conflitos entre guerrilhas e forças do governo provocaram cerca de 800 mil mortes, segundo a Comissão da Verdade da Colômbia.
O conflito ficou mais próximo de um desfecho em 2016, quando a principal guerrilha colombiana, as Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia), assinou um acordo de paz com o governo do país.
Negociado ao longo de quatro anos, o pacto mostrou que inimigos eram capazes de se sentar à mesa e chegar a um entendimento, mesmo depois de tantas mortes e tanta dor.
O Brasil teria algo a aprender com esse processo?
Sergio Jaramillo foi o chefe da delegação do governo colombiano que negociou o acordo de paz com as Farc. Ele cita ao podcast Brasil Partido três elementos que foram essenciais para o sucesso das negociações.
O primeiro foi definir regras para as tratativas de paz que atendessem todos os lados, algo que ajudou a aproximar as partes.
Crédito, Getty Images
Sergio Jaramillo (de branco) foi o chefe da delegação do governo colombiano que negociou o acordo de paz com as Farc
O segundo ponto foi estimular as partes, incluindo os militares colombianos, a reconhecer os impactos de suas ações e a lidar com as vítimas desses atos.
Jaramillo diz que essa diretriz não é válida só para crimes de guerra: quando alguém reconhece seus erros, quem foi prejudicado por esse erro também se sente reconhecido.
Por outro lado, quando uma parte se recusa a reconhecer as dores e necessidades da outra, o distanciamento entre elas tende a crescer até ficar intransponível.
O último ponto foi criar espaços de encontro entre grupos que normalmente não conversam uns com os outros.
Nas áreas da Colômbia mais afetadas pela guerra civil, sentavam-se à mesma mesa fazendeiros, sindicalistas e líderes religiosos — grupos com posições políticas diversas e muitas vezes antagônicas —, para debater formas de lidar com o conflito.
Os encontros foram batizados de Diálogos Improváveis.
A premissa era: não dava para encerrar o conflito por uma decisão de governo. As autoridades podiam ser facilitadoras, mas os diferentes segmentos da sociedade colombiana é que tinham de se entender.
Apesar das dificuldades, Jaramillo diz que lentamente a paz vai criando raízes na Colômbia.
Não por mérito das autoridades, mas porque “as pessoas nos territórios resolveram abrir espaços de diálogo, não se render às adversidades e tocar a paz adiante”.
 Hoje Pernambuco Notícias a toda hora!
Hoje Pernambuco Notícias a toda hora!
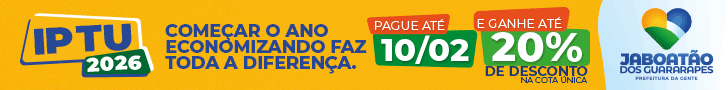




Você precisa fazer login para comentar.