Autora de ‘Memórias da plantação: episódios de racismo cotidiano’, Grada Kilomba teve em 2019 uma mostra individual na Pinacoteca de São Paulo
- Author, João Fellet – @joaofellet
- Role, Da BBC News Brasil em São Paulo
Na abertura da 35ª Bienal de São Paulo, numa quarta-feira de setembro, a artista e escritora portuguesa Grada Kilomba mal conseguia caminhar entre as obras de arte que havia ajudado a selecionar.
A cada poucos passos, Kilomba — que faz parte do coletivo de curadores da mostra — era interpelada por visitantes com pedidos de fotos, que atendia com paciência e sorrisos.
Numa das várias abordagens, um homem negro lhe disse: “Seu livro mudou a minha vida”. A artista retribuiu com um abraço e voltou a caminhar — até o pedido de foto seguinte, segundos depois.
A cena, presenciada pela BBC News Brasil, mostra o status de celebridade que Kilomba conquistou em certos grupos no Brasil — país onde seu livro Memórias da plantação: episódios de racismo cotidiano virou ao mesmo tempo best-seller e referência acadêmica, uma rara combinação.
Também abraçada por muitos militantes negros e feministas, a obra aborda temas que geram debates acalorados no país, como a associação entre linguagem e opressão (leia mais adiante).
O trabalho artístico da portuguesa também tem tido destaque por aqui. Ela expôs na 32ª Bienal e teve, em 2019, uma mostra individual na Pinacoteca de São Paulo, um dos principais museus do país.
“O Brasil é o lugar onde eu mais amo trabalhar”, diz Kilomba à BBC News Brasil em entrevista concedida ao lado de uma das instalações da 35ª Bienal — um milharal cultivado pelo artista indígena brasileiro Denilson Baniwa.
“É, assim, uma coisa inexplicável”, prossegue Kilomba, ao descrever como é tratada no país.
Sente-se mais aclamada aqui do que na Alemanha, onde vive desde 2008, ou que em sua terra natal, Portugal?
“Múltiplas vezes mais, mais do que em todo lugar”, ela diz.
Kilomba atribui seu sucesso no Brasil a uma série de características que vê em novas gerações daqui: uma combinação de saberes ancestrais, intelectuais e espirituais, e uma forma de encarar o tempo na qual passado, presente e futuro se fundem.
Essas leituras do mundo, segundo ela, derivam de tradições africanas e indígenas e fazem com que os brasileiros consigam “entrar nas minhas obras e nas obras de tantos artistas”.
“Isso não existe em lugar nenhum. Eu acho que (o Brasil) é uma cozinha do futurismo. Aqui está a acontecer o futuro”, afirma.
Grada Kilomba abraça mulher que a abordou na abertura da Bienal de São Paulo
Kilomba se define como uma “artista multidisciplinar”: em várias de suas obras há elementos de dança, teatro, fotografia, performances e vídeos. Muitas versam sobre o colonialismo e o racismo.
É o caso da instalação O Barco, na qual 140 blocos formam a silhueta de uma nau com 32 metros de comprimento. A obra é uma referência aos navios que transportaram milhões de africanos escravizados para as Américas e foi exposta em 2021 nas margens do rio Tejo, em Lisboa.
Obras sobre o racismo e o colonialismo também estão presentes na atual edição da Bienal de São Paulo.
Ela diz que a exposição, intitulada Coreografias do impossível, se contrapõe a “saberes ocidentais e patriarcais” que “já não conseguem dar respostas para o presente” — por exemplo, em relação à crise climática.
Há muitas obras de artistas indígenas, negros e LGBTQia na mostra — movimento também observado em outros grandes museus pelo mundo.
Segundo Kilomba, um dos objetivos desta bienal é “questionar o que não sabemos e por que — e como esse não-saber está intimamente ligado ao poder, à violência, ao apagamento, ao silenciamento de identidades e histórias”.
Elevador de serviço
Apesar dos elogios que faz ao Brasil, Kilomba não tem só visões positivas do país.
Ela conta que, em 2016, numa das primeiras vezes que veio expor aqui, se chocou com uma arquitetura que reserva “entradas diferentes para corpos diferentes: a entrada da frente, para os corpos normativos, e uma porta de serviço, com um elevador de serviço, para os corpos periféricos, marginais e secundários”.
O espanto de Kilomba foi ainda maior, diz ela, porque essa “hierarquização de humanos” não vigora só em prédios antigos, mas também em muitos recentes.
“Como é que a arquitetura pode ser desenhada hoje, neste tempo de agora, e ainda ter uma informação tão antiga, de séculos atrás, onde corpos diferentes são colocados em espaços diferentes?”, questiona.
Kilomba associa essa arquitetura a visões que, segundo ela, ganharam o mundo com o colonialismo europeu.
A escritora afirma, porém, que esse tipo de arquitetura já foi abandonado na Europa.
“Toda gente entra na mesma porta, toda gente sobe no mesmo elevador e senta na mesma cadeira.”
Crédito, Getty
Para Grada Kilomba, arquitetura brasileira continua reproduzindo modelos do passado
Impressões negativas como essa já a levaram a fazer a crítica de que o Brasil “é uma história de sucesso colonial”.
E um país onde atrasos e avanços convivem.
“O Brasil é como muitos lugares cheios de polaridade, onde não se sabe muito e sabe-se tanto ao mesmo tempo. Então tem essa negação, mas também tem uma nova geração que sabe muito e está tão pronta para aprender”, ela diz à BBC.
Logo no início do livro Memórias da Plantação, Kilomba trata de outro ponto de contato entre ela e o Brasil. Na seção de agradecimentos, Kilomba cita, entre várias pessoas, seu babalorixá, o brasileiro Fábio Maia, e os orixás Oxalá, Iemanjá, Oxóssi e Oyá.
As entidades são veneradas em religiões afro-brasileiras de influência iorubá, um povo que habita a atual Nigéria e nações vizinhas.
Kilomba também tem antepassados da África, mas de outras partes do continente onde esses orixás não são tão conhecidos: seus familiares migraram de Angola e de São Tomé e Príncipe para Portugal, onde ela nasceu em 1968, em Lisboa.
Ela diz que sua relação com os orixás de fato passa pelo Brasil, mas remonta a um laço anterior.
“Eu tenho uma relação aqui (Brasil), e esta relação daqui vem de lá (África), então há esse triângulo”, diz.
“Nós não podemos esquecer que, embora eu viva na Europa, os meus ancestrais vêm da África.”
“Esses orixás acompanham-me, esta ancestralidade me acompanha há muito tempo”, afirma.
Kilomba diz que não é fortuita a presença das entidades e de seu babalorixá na página de agradecimentos.
Ela conta que, quando escrevia Memórias da Plantação — fruto de sua tese de doutorado em Filosofia na Universidade Livre de Berlim, na Alemanha, em 2009 —, muitos a desencorajaram.
Diziam, entre outras coisas, que o trabalho não seguia à risca os métodos científicos e poderia desagradar muita gente.
Kilomba diz que só conseguiu concluir a obra após “tirar muitas pessoas do meu caminho” e recorrer a quem estava “além do meu tempo e sabia mais que eu” — grupo que, segundo ela, incluía “pessoas da espiritualidade” e da psicanálise.
Crédito, AFP
Obra de Grada Kilomba exibida na Casa das Culturas do Mundo, em Berlim, em 2023
Experiências pessoais
Em Memórias da Plantação, Kilomba compila depoimentos de mulheres negras na Alemanha e teoriza sobre o racismo, dialogando com autores como a crítica literária indiana Gayatri Spivak (1942-) e várias teóricas feministas americanas, entre as quais bell hooks (1952-2021), Patricia Hill Collins (1948-) e Audre Lorde (1934-1992).
O texto, no entanto, foge do estilo acadêmico tradicional: Kilomba também conta várias experiências pessoais, o que dá à obra um ar autobiográfico.
Num desses trechos, ela descreve uma visita a um consultório médico em Portugal quando tinha 12 ou 13 anos. A artista conta que, após examiná-la, o médico lhe fez uma proposta: acompanhá-lo numa viagem de férias em família para cozinhar e lavar as roupas do grupo.
“Eu realmente não me lembro se fui capaz de dizer algo. Acho que não. Mas me lembro de sair do consultório em um estado de vertigem e de vomitar, após ter me distanciado de lá algumas ruas, antes de chegar em casa”, Kilomba conta no livro.
A obra foi aprovada com summa cum laude (com a maior das honrarias, em latim), premiação que a universidade só havia concedido a outro aluno até então.
Lançado no Brasil só 12 anos depois, o livro foi o mais vendido na Feira Literária de Paraty (Flip) de 2019 e entrou na bibliografia de várias redes públicas de ensino, como na do Estado de São Paulo.
Para a historiadora e psicanalista Mariléa de Almeida, professora do Departamento de História da Universidade de Brasília (UnB), o livro de Kilomba teve grande impacto no debate de questões raciais não só no Brasil, mas em toda a diáspora africana.
Almeida diz à BBC que Kilomba “reforça e atualiza uma tradição de pensamento de vários intelectuais negros, negras e ‘negres’ que apontam que o racismo é um fenômeno complexo” e que está presente não só nas instituições, “mas também nas relações cotidianas e nos afetos”.
A historiadora diz que Memórias da Plantação tem paralelos com o clássico Pele negra, máscaras brancas, em que o filósofo martinicano Frantz Fanon (1925-1961) também trata de experiências pessoais com o racismo. Fanon, por sinal, é um dos autores mais citados no livro da portuguesa.
Crédito, AFP
Escritora brasileira Djamila Ribeiro diz ter sido bastante influenciada por Grada Kilomba
Grada Kilomba também é considerada uma referência por uma das vozes mais influentes no debate racial brasileiro hoje: Djamila Ribeiro, mestre em Filosofia pela Universidade Federal de São Paulo.
Em artigo em 2019, Ribeiro diz que os pensamentos de Kilomba “inspiraram uma parte fundamental” das reflexões que lhe fariam escrever o best-seller O que é lugar de fala?, de 2017.
‘Decisões radicais’
Durante a produção de Memórias da plantação, Kilomba diz que teve de tomar “uma série de decisões radicais”, entre as quais escrever o texto em primeira pessoa e em inglês, língua em que não é nativa.
A opção de Kilomba por redigir em inglês se relaciona com sua decisão de deixar Portugal, onde diz ter vivido vários anos “em grande isolamento” na juventude.
Na edição brasileira do livro, Kilomba conta que era a única estudante negra no curso de psicologia em Lisboa e que, ao trabalhar em hospitais portugueses, era rejeitada por pacientes e confundida com a “senhora da limpeza”.
Sair de Portugal para cursar o doutorado na Alemanha, diz no livro, foi um “imenso alívio”.
Não que a Alemanha estivesse livre de problemas: ela diz na obra que “a história colonial alemã e a ditadura imperial fascista deixaram marcas inimagináveis” no país.
Mas afirma que havia uma diferença.
“Enquanto eu vinha de um lugar de negação, ou até mesmo de glorificação da história colonial, estava agora num outro lugar onde a história provocava culpa, ou até mesmo vergonha”, conta no livro.
A mudança para a Alemanha, prossegue Kilomba, lhe permitiu ainda aprender “um novo vocabulário, no qual eu pudesse finalmente encontrar-me”.
Crédito, AFP
Pinturas do coletivo indígena MAHKU exibidas na 35ª Bienal de São Paulo
Kilomba diz à BBC que o português e outros idiomas latinos “são línguas muito binárias, que constroem sempre polaridades entre nós e um outro”.
Ela afirma que essa dinâmica se aplica, por exemplo, à atribuição de gêneros a grande parte das palavras — uma característica que inexiste em muitos idiomas.
Outro ponto da língua portuguesa que ela critica é o chamado masculino genérico, pelo qual palavras masculinas nomeiam grupos de pessoas de diferentes gêneros.
“A partir do momento em que nós dois estamos a falar e eu me identifico como mulher e tu como homem, nós passamos a ser ‘eles’, porque eu deixo de existir”, afirma.
Kilomba diz que teria sido um contrassenso escrever um livro crítico ao colonialismo e ao patriarcado usando uma língua que, segundo ela, “não só é extremamente patriarcal, em que tudo que existe pode ser apenas masculino, mas também é extremamente colonial, porque a maior parte das nossas definições está ancorada numa história colonial”.
Para contornar essas limitações, Jess Oliveira, tradutora da versão do livro em português, fez vários ajustes. Por exemplo: em vez do masculino genérico, o livro recorre a construções como “colonizada/o” e “negras/os”.
Já termos raciais em português que Kilomba associa ao colonialismo e que teriam, segundo ela, relação com nomenclaturas animais, como “mestiço” e “mulato”, são grafados apenas pelas iniciais.
Todas as palavras tidas como problemáticas são listadas num glossário na abertura da versão brasileira do livro, na qual a autora também lamenta a ausência em português de termos raciais “que noutras línguas, como a inglesa ou alemã, já foram criticamente desmontados ou mesmo reinventados num novo vocabulário”.
Kilomba conta que há muitos anos adotou o inglês como sua língua escrita e o alemão como língua falada. Ao português, diz ela, restou ser sua “língua sonhada”.
“Temos esta fantasia colonial de que a portuguesa é a língua mais bela do mundo”, diz Kilomba à BBC. “É muito importante compreender o que a língua oferece, mas também o que a língua não oferece, como a língua prende identidades e categoriza identidades.”
Crédito, Getty Images
Para Caetano Veloso, Brasil tem adotado modelos raciais ‘americanizados’
Controle da língua
Visões sobre linguagem e raça como as de Kilomba hoje são comuns entre movimentos de negros, feministas e pessoas LGBTQia associados à esquerda, grupos que são chamados por críticos de “identitários”.
Mas há na própria esquerda quem veja excessos nessas posições e considere que o Brasil está importando conceitos que não se aplicam à realidade local.
O movimento contrário inclui figurões da literatura e da música, como o cantor Caetano Veloso.
Em entrevista à Folha de São Paulo em 2022, Caetano disse que o Brasil estava adotando modelos raciais “americanizados demais”.
Em outra entrevista, no programa Roda Viva, em 2021, Caetano criticou quem o cobrava a abolir o termo “mulato” de seu vocabulário: “Não vejo qual o problema de mulato, meu pai era mulato, a pessoa que eu mais adorava e respeitava”.
Questionada sobre pessoas que se sentem envergonhadas ou constrangidas ao opinar sobre questões raciais por não dominarem os termos tidos como corretos pela militância, Grada Kilomba diz ver pontos positivos nessa reação.
“Que bom que as pessoas se sentem constrangidas finalmente”, diz Kilomba.
“O que significa quando alguém se sente constrangido quando fala? É perceber-se de que a fala, a linguagem e a terminologia que usa talvez seja habitada por muita violência”, afirma. “Isso é um momento fundamental de transformação”.
E quanto ao argumento, ecoado em partes da esquerda, de que o controle sobre a linguagem poderia alienar pessoas dessas causas e alimentar movimentos de extrema direita?
“Temos de ter cuidado, porque os opressores sempre se trataram como vítimas dos oprimidos”, afirma Kilomba.
Ela diz que Adolf Hitler (1889-1945) se valeu da vitimização para convencer o povo alemão a apoiar o nazismo.
“Temos de saber fazer uma leitura crítica de todos esses movimentos”, afirma.
‘Fora do lugar’
Em Memórias da plantação, Kilomba defende outra prática que acabou sendo incorporada por certos círculos de ativistas: a marcação de características raciais e sexuais de pessoas pertencentes a grupos tidos como dominantes.
O encadeamento de categorias como “homem”, “hétero”, “branco” e “cisgênero” se tornou comum em mensagens nas redes sociais. A descrição é muitas vezes usada para questionar comportamentos da pessoa citada e associá-la a supostos privilégios.
Kilomba diz que teve de tomar várias ‘decisões radicais’ para concluir doutorado
Kilomba aborda o tema das marcações no livro quando narra momentos em que diz ter se sentido “fora do lugar” — como quando cursava a universidade na Alemanha.
Segundo Kilomba, enquanto era sempre cobrada a comprovar que realmente estudava ali, estudantes brancos podiam circular livremente pelo edifício porque não eram “marcados pela negritude” nem vistos como “diferentes”.
Ela diz que esses colegas eram vistos “apenas como pessoas”, sem adjetivos.
Daí, segundo Kilomba, a necessidade de subverter o sistema, marcando a branquitude e fazendo a seguinte pergunta: “Quem é ‘diferente’ de quem? É o sujeito negro ‘diferente’ do sujeito branco ou o contrário, é o branco ‘diferente’ do negro?”
Mas a marcação de identidades não pode acabar por nos encaixotar, nos amarrar a categorias que não respondem por nossa totalidade? O que Grada Kilomba tem a dizer a quem se sente reduzido por essas classificações?
“Nós vivemos durante muito tempo com a constante ideia normativa de uma identidade que é apresentada como universal, como normativa, como norma, como centro”, diz Kilomba.
“Isso tem que ser questionado. Por que as pessoas que são vistas como humanas aparecem como pessoas e aquelas que são desviadas de humanas são marcadas com adjetivos?”, questiona.
Fonte: BBC
 Hoje Pernambuco Notícias a toda hora!
Hoje Pernambuco Notícias a toda hora!
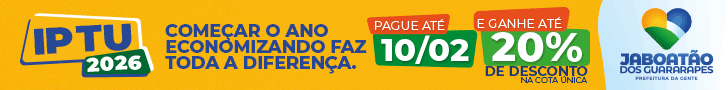




Você precisa fazer login para comentar.