- Fernando Silva
- De São Paulo para a BBC News Brasil
Crédito, Divulgação
Cássio Gabus Mendes e Malu Mader protagonizaram a minissérie
Hoje, Malu Mader não tem dúvidas em relação a Anos Rebeldes, minissérie protagonizada por ela e que estreou há 30 anos. “A importância dela é relembrar às pessoas quão horroroso e trágico é um período em que não existe liberdade”, diz em entrevista à BBC News Brasil.
Quando leu o roteiro em casa, em Penedo, no Rio de Janeiro, uma incerteza ainda pairava no ar sobre qual personagem a atraía mais, enquanto vibrava com os diálogos e a sinopse da criação de Gilberto Braga (1945-2021).
“Lembro de ter pensado ‘puxa, queria fazer a Heloísa'”, conta a atriz, referindo-se à jovem da alta sociedade carioca que adere à luta armada para combater a ditadura militar brasileira na década de 1960, vivida por sua colega de elenco Cláudia Abreu.
Logo, porém, Maria Lúcia, a personagem que acabaria interpretando na trama, a conquistaria com seus atrativos dramatúrgicos.
“Sempre brincava com os meus colegas que tem personagem de remar e outros de surfar. Uns que parece que você vai entrar numa onda – não que sejam fáceis, mas fluem mais. E outros que tem de ir buscar, laçar”, explica.
“E a Maria Lúcia tinha um sentimento de ser muito individualista em uma época em que era bacana você pensar no coletivo, no todo. Então, eu tinha de compreendê-la, ter empatia para poder fazê-la e gerar empatia nas pessoas. Remar um pouquinho.”
Naquele ano de 1992, Malu já era um dos maiores nomes da TV brasileira, tendo estrelado as novelas Fera Radical (1988) e Top Model (1989), e sua escalação como a mocinha de Anos Rebeldes não causou surpresa.
No programa da Globo, que colocaria o período da ditadura, a repressão dos governos militares à oposição e a guerrilha urbana no centro das ações, ela faria uma jovem que buscava segurança, contrária a arroubos políticos e apaixonada justamente por um militante do movimento estudantil, João Alfredo, interpretado por Cássio Gabus Mendes.
Crédito, Divulgação
André Pimentel, Pedro Cardoso e Claudia Abreu em cena de ‘Anos Rebeldes’
O papel de destaque na minissérie remetia a outro folhetim do mesmo formato exibido pela emissora, em repetição de uma antiga parceria de sucesso com Gilberto Braga.
Em Anos Dourados, exibida em maio de 1986, levando às telas o Rio de Janeiro da década de 1950, com seus bailes de gala, preconceitos e repressões sexuais, a atriz interpretava Lurdinha. Principal personagem feminina da narrativa, ela era a normalista do Instituto de Educação que se envolvia com Marcos (Felipe Camargo), aluno do Colégio Militar.
Rejeitada pela família de Lurdinha na trama, que não queria saber da garota namorar um “filho de pais separados”, a história de amor proibido do casal ganhou o público. Contada em 20 capítulos, alcançou segundo pesquisa do Ibope, uma audiência média de 38,3% dos domicílios sintonizados no programa no Rio de Janeiro e de 35,3% em São Paulo no horário das 22h.
Tal êxito rendeu a Braga uma proposta que o deixou intrigado. Como o autor conta em seu livro Anos Rebeldes – Os bastidores da criação de uma minissérie (Rocco, 2010), os telespectadores passaram a lhe pedir uma continuação, desta vez situada nos anos 1960. “Sugeriam até o título da minissérie, Anos de Chumbo ou Anos Rebeldes.”
A ideia pegou de vez em sua cabeça quando notou que ela poderia ser o elo final de uma trilogia começando em Anos Dourados e terminando na novela Vale Tudo, outro arrasa-quarteirão de sua lavra, apresentado pela Globo de junho de 1988 a janeiro de 1989 como um painel do país no período logo após a redemocratização.
Como Braga também havia gostado do nome Anos Rebeldes foi, “ainda sem compromisso algum”, atrás de O que é isso, companheiro?, livro de 1979 escrito pelo político e ex-guerrilheiro Fernando Gabeira, no qual ele conta suas experiências na luta contra a ditadura. Adorou a leitura e, aconselhado pelo psicanalista, partiu para a próxima. Era a vez de Os Carbonários, de 1980 e autoria de outro ex-militante da luta armada, Alfredo Sirkis (1950-2020).
Descortinava-se assim um novo mundo para Gilberto Braga, em suas próprias palavras, um “alienado” do ponto de vista político nos anos 1960, alguém que à época “estava dentro de uma sala escura assistindo a um filme por dia”.
Já com grande vontade de escrever uma história passada no período em que o Brasil fora governado por militares, procurou o então vice-presidente de operações da Rede Globo e responsável pela direção da emissora, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, para saber o que achava da ideia de ele trabalhar com o tema da ditadura.
Boni gostou e disse a Braga para prosseguir.
Crédito, Divulgação
Os atores Gianfrancesco Guarnieri, Emílio de Mello, Marcelo Serrado em cena da série
Se o projeto poderia ser visto como uma continuação de Anos Dourados, o autor tinha na ponta da língua a diferença entre as duas.
“Anos Dourados é uma história contra a hipocrisia. Anos Rebeldes é contra o autoritarismo e a intolerância, exemplificados pela ditadura militar”, disse ele em entrevista ao repórter Luís Antônio Giron, publicada em 14 de julho de 1992, dia da estreia do programa, no jornal Folha de S.Paulo.
A ditadura e a perseguição política na TV
No livro sobre Anos Rebeldes, que contém o roteiro integral da minissérie, uma lista de cenários e locações e até pequenos perfis dos personagens, além de depoimento do autor, Gilberto Braga comenta que Boni teria dado o aval por saber que ele não era nada politizado.
“Não acredito que ele desse sinal verde, por exemplo, para Dias Gomes [1922-1999]”, escreve Braga, citando o dramaturgo de formação comunista e responsável por tramas como O Bem-Amado, O Pagador de Promessas e Roque Santeiro, esta proibida de estrear na Globo pela ditadura, em 1975, já com 36 capítulos gravados e editados.
“Creio que com Dias ele teria medo. Comigo, ele deve ter pensado que a possibilidade de haver problemas seria menor.”
O regime militar tinha chegado ao fim com a eleição do civil Tancredo Neves (1910-1985) para a Presidência da República e a posterior posse de José Sarney, e a TV começava a abordar a ditadura de forma mais aberta.
Antes de Anos Rebeldes, por exemplo, a novela Roda de Fogo (1986) tivera entre seus personagens uma ex-guerrilheira e perseguida política chamada Maura Garcez, interpretada por Eva Wilma (1933-2021), e o secretário de um advogado, Jacinto (papel de Cláudio Curi), que fora um torturador. No folhetim de Lauro César Muniz exibido pela Globo, no entanto, os anos de chumbo não estavam no centro do principal conflito narrativo.
Crédito, Divulgação
Mila Moreira, Cássio Gabus Mendes, Bete Mendes e Malu Mader integram o elenco
O professor do programa de pós-graduação em Comunicação e Cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e autor de livros como Dias Gomes: Um intelectual comunista nas tramas comunicacionais (Pedro & João Editores, 2015) Igor Sacramento lembra ainda de Mandala (1987), novela de autoria do escritor baiano que foi ao ar também na Globo.
“A personagem de Jocasta, na primeira fase interpretada por Giulia Gam, é estudante de Sociologia muito envolvida com o movimento estudantil e filha de um militante comunista [vivido por Gianfrancesco Guarnieri (1934-2006)]. Há [na trama], além de imagens da ditadura, certo conflito de geração entre formas de esquerda”, diz ele à BBC News Brasil.
Mas, no novo projeto de Gilberto Braga, a situação política da época retratada estava exposta.
Produzida após a promulgação da Constituição de 1988, que garantia a liberdade de expressão “da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença”, a minissérie já começava com uma cena de assalto a banco, típica dos tempos da guerrilha urbana.
Para contar essa história, Braga decidiu convocar o amigo e roteirista Sérgio Marques, ex-aluno de Direito da UFRJ e militante do movimento estudantil nos anos 1960.
Os dois a escreveram entre 1990 e 1992, para o horário das 22h30. Em 20 capítulos, com direção geral de Dennis Carvalho, o programa cobriria o turbulento período do Brasil que vai de 1964, ano do golpe militar, a 1979, quando foi assinada a Lei da Anistia.
Nos créditos da atração havia ainda o documentarista Silvio Tendler, encarregado de fazer os clipes filmados em película de 16mm, em preto e branco, e que mesclavam sequências dos personagens com imagens de arquivo da época, uma mistura da ficção com a história.
Nestes painéis, acompanhados por músicas daquele momento, apareciam registros como a eleição de Emílio Garrastazu Médici (1905-1985) para a Presidência da República e a morte do líder da organização Ação Libertadora Nacional, Carlos Marighella (1911-1969).
Em entrevista aos pesquisadores Eduardo Morettin e Mônica Almeida Kornis, para o projeto “Cinema e História no Brasil: estratégias discursivas do documentário na construção de uma memória sobre o regime militar”, em 2015, o cineasta conta que sua entrada na equipe se deu graças a um encontro casual com Dennis Carvalho, a quem já conhecia, emum café em Copacabana, no Rio de Janeiro.
“Ele devia estar saindo do psicanalista, completamente encucado. Eu: ‘E aí, Denis, tudo bom?’. Ele: ‘Tudo bom’. Me tratou como um transeunte puxando o saco de uma estrela de TV. Fiquei na minha, e aí ele virou e disse: “Silvio Tendler?! Rapaz, eu estava precisando falar contigo! A gente vai fazer uma minissérie e quer trabalhar contigo!”
Era o começo dos anos 1990, ainda assim Gilberto Braga teve de lidar com interferências internas na Globo. Ele mesmo admitiu em entrevistas, na época, que reescrevera partes de alguns capítulos. No livro sobre Anos Rebeldes, ele detalhou o processo.
Escalado por Roberto Marinho (1904-2003) para ler o roteiro, o jornalista e então assessor da presidência da Globo Cláudio Mello e Souza (1935-2011) havia dado um parecer que, do décimo ao décimo quarto capítulo, os autores estavam carregando nas tintas políticas.
Braga, então, negociou com Boni e fez ajustes em passagens da trama. Em uma delas, que o autor lamenta ter cortado, a personagem Maria Lúcia era parada em uma blitz e, na abordagem, um policial erguia um pouco de sua saia com o cassetete quase até a calcinha.
De modo geral, porém, Gilberto Braga não considerava grandes as alterações. “O que mudamos não prejudicou o programa em nada.”
Sessão de filmes e depoimento de Bete Mendes
Crédito, Divulgação
A atriz Bete Mendes (à esquerda) participou da organização VAR-Palmares, que lutava contra a ditadura, e viveu Carmen na série, a mãe de Maria Lúcia
Anos Rebeldes não se inspirou só nos livros de Fernando Gabeira, de Alfredo Sirkis e em 1968: O Ano que não terminou (Objetiva, 1988), do jornalista Zuenir Ventura.
Gilberto Braga recorreu também ao cinema, sua grande paixão desde a infância.
Um dos filmes era Desaparecido: Um Grande Mistério (com o título original de Missing), de 1982, dirigido por Costa-Gavras e que contava a história da busca por um escritor americano que sumia em meio ao golpe de Estado no Chile, em 1973.
O outro era dos preferidos de Malu Mader. “Parece Sessão da Tarde, mas é uma graça, com Barbra Streisand e Robert Redford, chamado Nosso Amor de Ontem, [de 1973, direção de Sidney Pollack (1934-2008)]”, conta à BBC News Brasil.
“Era exatamente um casal que se ama loucamente, mas um era mais individualista, e ela, mais ativista. Aquilo virava um conflito intransponível”, diz, comparando as divergências que os personagens Maria Lúcia e João Alfredo também tinham.
Ela destaca ainda uma reunião ocorrida na casa de Dennis Carvalho, em que Bete Mendes falou a respeito de sua militância política na época retratada no folhetim. A atriz havia integrado a organização VAR-Palmares e, na minissérie, viveu Carmen, a mãe de Maria Lúcia.
“Sempre amei a Bete Mendes. Sabia que ela tinha participado do combate à ditadura, que tinha sido presa, torturada, mas nunca tinha escutado ela contando”, recorda-se Malu.
A conversa marcou Cássio Gabus Mendes. “A Bete passou um inferno e se dispôs a fazer um depoimento para um grupo de pessoas. Foi impressionante”, relembra o ator em entrevista à BBC News Brasil. “Quando você se aproxima dessas pessoas e elas se dispõem a isso, aquela história toda volta na cabeça dela. Então, ela tem uma emoção e uma dor impressionantes.”
Heloísa, a personagem redonda
Em 14 de julho de 1992, uma terça-feira, o primeiro capítulo entrou no ar, acompanhando quatro alunos do colégio Pedro 2º, onde o próprio Gilberto Braga havia estudado.
Os amigos João Alfredo, Edgar (Marcelo Serrado), Waldir (André Pimentel) e Galeno (Pedro Cardoso) sonhavam com o cinema, uma vida melhor, o homem na Lua, a estabilidade econômica e a revolução, cada um à sua maneira, conforme a trama avançava.
A abertura era acompanhada de Alegria, Alegria, de Caetano Veloso, e o programa ainda tocava clássicos como Monday, Monday, da banda The Mama’s & The Papa’s, e Call Me, cantada por Chris Montez.
Sem contar a incursão de faixas em alguns momentos específicos da trama, caso de Como Nossos Pais, de Belchior (1946-2017), na voz de Elis Regina (1945-1982).
“A trilha sonora é fundamental, porque ambientaliza a ação no tempo e no espaço, e cria o clima perfeito para as cenas”, afirma o crítico de TV Nilson Xavier à BBC News Brasil.
Para a professora da Escola de Comunicações e Artes, da Universidade de São Paulo (ECA-USP), Maria Cristina Mungioli, Anos Rebeldes fez parte de “um momento de ouro da televisão brasileira”. Nem por isso ganha o rótulo de datado.
“Acho que a atualidade da minissérie está em manter vivo aquele período de contestação, de luta armada diante de um governo opressor”, diz à BBC News Brasil. “Refresca a nossa mente e nos faz perceber que muitas formas de conduzir a política se mantêm.”
Crédito, Divulgação
Cláudia Abreu viveu Heloísa, uma das personagens mais emblemáticas da série
Autora de uma tese de doutorado em Ciências da Comunicação a respeito de outro folhetim de mesmo formato, Grande Sertão: Veredas, exibido pela Globo em 1985, a professora assistia a Anos Rebeldes de olho nas aventuras de uma personagem em especial. “Ficava querendo saber muito mais o que estava acontecendo com a Heloísa.”
A moça interpretada por Cláudia Abreu era uma personagem “redonda”, nas palavras de Mungioli.
“Ela tinha um apelo muito forte por esse fator de transformação. Tinha uma vida de glamour, andava com roupa da moda e, então, começa a se despir desse figurino”, diz a professora. “E a minissérie mostra a transformação dela. De talvez um pouco individualista para a aquisição de consciência do momento histórico em que vive.”
A guerrilheira sofreu tortura ao ser presa e não teve final feliz. A cena em que abre a camisa e mostra os seios com queimaduras de cigarro a seu pai, o empresário Fábio, financiador do golpe militar – vivido por José Wilker (1946-2014) – foi uma das mais marcantes da atração.
Em artigo publicado na edição de 24 de agosto de 1992 da Folha de S.Paulo, Cláudia Abreu discorreu sobre como criou a heroína que ganhou o coração de boa parte da audiência que, de acordo com o Ibope, tinha média de 24 pontos na Grande São Paulo (cada um dos pontos correspondendo a 39.790 domicílios à época).
“Quis fazer uma Heloísa alto astral para mostrar que ninguém é uma coisa só. Ela pode ser engajada, passar por altas barras, mas sem perder a alegria de viver. Pode virar militante sem perder o humor, sem ficar amarga”, explicou a atriz.
Assinado por ela e sob o título “Minha geração está mostrando a sua cara”, o texto também trouxe sua visão em relação aos protestos de estudantes que pediram a saída de Fernando Collor do Planalto e sacudiram as capitais brasileiras em meio ao avanço da CPI que investigou o presidente.
Cláudia escreveu estar “arrepiada” e “honrada” com as manifestações, sem pretensão de achar que havia causado a movimentação. “Podemos até ter contribuído de alguma forma. Mas quem provocou isso tudo foi o momento político e moral do país. Foi ele quem levou as pessoas às ruas.”
Pelo papel, Cláudia Abreu recebeu o troféu da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), na categoria Televisão, em 1992, de melhor atriz.
Das telas para as ruas
Ficou famosa uma imagem feita pela fotógrafa Luciana Whitaker em protesto no dia 14 de agosto de 1992, na avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro. Em meio aos manifestantes, havia uma faixa com a inscrição “Anos Rebeldes, Próximo Capítulo: Fora Collor! Impeachment já!”
Aquela sexta-feira era o último dia de exibição da minissérie e, na quinta-feira anterior, em solenidade no Palácio do Planalto, o presidente Fernando Collor havia conclamado a população a vestir no domingo “alguma peça de roupa numa das cores da nossa bandeira” para apoiá-lo.
Collor acabou afastado do cargo pela Câmara com o placar de 441 votos a 38, em 29 de setembro, em meio às denúncias e pressão cada vez maior das manifestações nas ruas.
Naquele clima, apesar de ter sido convidado para um dos protestos, Cássio Gabus Mendes não aceitou. “Eu falei ‘olha, desculpa. Primeiro, estou trabalhando para caramba, não tenho como fazer isso. E segundo, que tem uma confusão aí, né?'”, conta ele.
Crédito, Divulgação
Minissérie marcou as carreiras de Cássio Gabus Mendes e Malu Mader
“Eu era absolutamente a favor do movimento, sem dúvida nenhuma. Mas, na minha posição, ficava uma coisa quase ficcional. Eu não podia realmente participar. Podia até não ser produtivo pra esse movimento. ‘Ô, fulano, olha o João Alfredo aí’. Sabe?”, recorda-se.
O ator vê a exibição da minissérie casada à explosão de protestos como uma coincidência. Afirma, contudo, perguntar-se até hoje da real influência do programa. “Será que isso pode ter colaborado um pouco? Acredito que sim, mas acho que ali a consciência das pessoas era mais forte do que isso.”
Para Malu Mader, foi um momento de surpresa e satisfação. “Acho que nós não fomos os responsáveis por essa mudança, por esse pedido de impeachment. Mas, de alguma forma, contribuímos”, diz. “Aquilo deu uma sensação tão boa como artista, como atriz de televisão.”
Questionada se também foi convidada a ir às ruas, ela afirma não se lembrar, não sem antes brincar com a fama de individualista de Maria Lúcia, seu papel na atração. “Eu não podia estar na passeata. Não merecia”, diz, aos risos.
Engana-se, porém, quem imagina que os caras-pintadas foram os únicos a utilizar o programa de forma política. Em 17 de julho, apenas três dias depois da estreia da minissérie, os militares soltaram uma nota com o título “A história que não foi contada”.
Ainda que não fizesse qualquer referência ao nome da minissérie, o texto do Centro de Comunicação Social do Exército criticava os “revisionistas de plantão” e defendia a “Revolução Democrática de 1964” como um “movimento que, cumpre enfatizar, foi deflagrado pelo clamor popular”. De acordo com as Forças Armadas, tais momentos vinham sendo “reescritos segundo ótica deturpada, porquanto tendenciosa”.
No livro sobrer Anos Rebeldes, Gilberto Braga escreveu a respeito das reclamações do Exército. “Embora não seja panfletário, tende nitidamente para o lado da antiga esquerda, ou seja, contamos uma história a partir do ponto de vista dos esquerdistas, e não me envergonho disso. Era a primeira vez que uma emissora de TV se dispunha a levar ao ar, na dramaturgia, uma abordagem séria sobre a ditadura militar brasileira. Não seria eu a dar a versão da direita, que até hoje chama o golpe de ‘revolução’.”
No último capítulo, a personagem Heloísa foi metralhada por um militar ao tentar passar por uma blitz e se identificar, em meio ao movimento de buscar um documento na bolsa.
O episódio final emociona Malu Mader até hoje. “Acho um acerto no alvo. E ainda tem aquele desfecho da Maria Lúcia com o João Alfredo”, relembra.
“Ele fala ‘numa coisa eu acho que você tinha razão’, e ela se enche de animação pra falar ‘puxa, ele vai me dar razão ao menos uma vez’. E ele fala Sabiá [canção de Chico Buarque e Tom Jobim (1927-1994), que ganhou o Festival Internacional da Canção de 1968] era mais bonita [do que Pra Não Dizer que Não Falei das Flores, de Geraldo Vandré]”.
Na visão dela, era o ponto alto da trama. “Ali, o Gilberto resume a minissérie inteira. Na última fala do João Alfredo. Esse era o conflito deles. Não era só ético, era estético também.”
Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!
 Hoje Pernambuco Notícias a toda hora!
Hoje Pernambuco Notícias a toda hora!
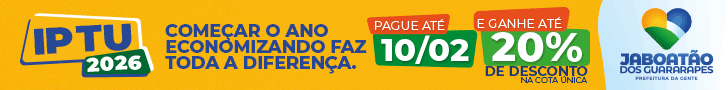




Você precisa fazer login para comentar.