Crédito, Daniel Arce-Lopez/BBC
- Author, Laís Alegretti
- Role, Da BBC News Brasil em Londres
Atenção: a reportagem a seguir contém relatos de violência.
Num fim de tarde em que o marido estava fora da cidade, Patrícia* foi visitar um casal de amigos brasileiros que também vivia nos Estados Unidos. Ela estava decidida a, depois de anos, revelar o que acontecia na casa dela.
A conversa que foi até a madrugada daquele dia de 2021 terminou com uma decisão que transformaria a vida da família dali algumas horas — e geraria uma disputa internacional que persiste até hoje.
“Eram umas 4h da manhã e meu amigo disse: você não vai sair daqui sem tomarmos uma ação. Vou te dar duas opções: vamos ligar para a polícia agora ou você volta para o Brasil”, diz ela.
A seguir, você conhecerá a história de duas famílias que, em diferentes contextos, relatam os efeitos da chamada subtração internacional de crianças — prática ilegal em que uma criança é transferida de país sem consentimento de um dos responsáveis. Também confere os alertas sobre os riscos envolvidos e as recomendações e alertas do governo brasileiro para os casos que envolvem violência doméstica, como a orientação para reunir provas do abuso sofrido e reportá-los, “na medida do possível”, às autoridades locais.
‘Isolada numa ilha’
Dez anos antes, a história de Patrícia com o ex-marido, Leandro*, começou ainda no Brasil, onde nasceu o primeiro filho do casal.
Patrícia descreve que o relacionamento foi “muito oito ou oitenta” desde o início, quando eles tinham cerca de dez anos de diferença de idade. “Foi mergulhado em muita paixão, doação, mas, ao mesmo tempo, em muita confusão mental e traições”, diz.
“Grávida de 8 meses, tive que sentar frente a frente com a amante com quem ele tinha há 3 meses um relacionamento sério. Ela ficou abalada também de saber ‘como assim meu namorado é teu marido e você tá grávida?’”
Em seguida, com o nascimento prematuro de Gabriel*, Patrícia diz que as brigas foram relevadas. “Eu estava realizando meu maior sonho: ser mãe e ter minha família.”
Ao mesmo tempo, ganhou espaço a ideia de viver no exterior, o que o trabalho de Leandro poderia proporcionar. “O sonho da vida dele era morar nos Estados Unidos”, diz Patrícia.
Eles se mudaram inicialmente para um país da América Central. E foi longe da família e dos amigos que “as violências se intensificaram”, conta Patrícia.
“Eu tava longe de todo mundo. Vivia isolada numa ilha — não dirigia, não falava inglês, não tinha amigos. Era mãe de primeira viagem de um bebê de 7 meses num país onde nunca tinha pisado antes”, afirma. “E lá aconteceu a primeira agressão física.”
Com roxos no pescoço e nos braços, Patrícia diz que tentou o divórcio pela primeira vez.
Voltou para o Brasil, matriculou o filho na creche e estava em busca de trabalho na cidade da família no sul do país.
Procurou um advogado e a decisão foi de negociar a guarda e o divórcio, sem fazer boletim de ocorrência. “Eu não tinha nem noção de que aquilo que eu vivia era violência doméstica. Hoje faria tudo muito diferente”.
Semanas depois, Leandro reapareceu pedindo perdão.
“Ele descobriu o endereço novo dos meus pais e apareceu na rua. Ele se ajoelhou aos meus pés e chorava muito, dizendo que tinha se convertido — eu sou cristã, então ele usou muito da minha fé, falou que ele conhecia agora Deus, que eu tanto falava, e Jesus, e que ele era um novo homem.”
“Chorei, falei ‘glória a Deus’, e voltei para ele”.
Não sem colocar condições. Desta vez, Patrícia disse que o filho iria para a creche, ela dirigiria e procuraria um trabalho. “Eu ia ter minha vida.”
Patrícia engravidou pela segunda vez.
“Foi bem quando comecei a ter minha independência, então tenho desconfiança sobre os dias em que, do nada, ele trazia o anticoncepcional até minha mão, dizendo que eu podia ficar deitada que ele pegaria.”
No fim da segunda gravidez, eles deixaram a América Central e se mudaram para os EUA — onde Patrícia teve a filha, Olívia*, e também os piores anos da relação com Leandro.
Quando a bebê tinha poucos dias de vida, o filho mais velho era uma criança pequena e o casal tinha poucos meses nos EUA, Leandro avisou que precisaria fazer uma viagem de 40 dias para uma conferência na Europa.
“Eu teria que ficar ali sozinha, sem rede de apoio, morando havia três semanas naquela casa, sem conhecer ninguém. Foram 40 dias no deserto. Eu tinha recém tirado os pontos da barriga.”
Desde que tinha saído do Brasil, foi a primeira vez que Patrícia teve acesso a um cartão bancário para consumir algo – como uma compra no mercado – sem pedir ao marido. O cartão era de débito e tinha o suficiente “para sobreviver”, ela diz.
“Até então, nunca tive acesso a dinheiro ou ajuda como de uma faxineira. E nós sempre tivemos uma condição financeira muito boa — ele ganhava muito bem, mas o dinheiro era todo para relógios, carros… A ponto de comprar iate. Mas ajuda para mim nunca teve. Ele usou muito do meu sonho de ser mãe e dona de casa. Quer? Então se vira.”
Patrícia diz que as agressões aumentaram e relatou diversos episódios de forte violência à reportagem.
Em um deles, ela chegou a ser levada ao hospital, ficou temporariamente sem conseguir andar e perdeu a memória por um período.
“Eu tava fazendo sanduíche na sala e lembro que naquela hora ele queria sexo. Mas a gente tinha voltado da praia, eu tava exausta, com maiô molhado, cheia de areia, falei não. Começamos uma discussão e eu lembro de tomar um tapa muito forte e cair no sofá. Lembro depois de ver sangue saindo do meu nariz e sentir muita dor de cabeça.”
Essa lembrança, diz Patrícia, só veio meses depois — antes, o marido dizia que ela estava confusa e que, na verdade, teria gritado por ajuda, desmaiou, e ele a teria salvado.
“As peritas dizem que [a falta de memória temporária] foi um pós-traumático. O cérebro desligou para sobreviver”, diz.
Crédito, Getty Images
‘Meu coração de mãe começou a rasgar’
A violência, inicialmente direcionada a ela, passou a ter os filhos como alvos.
“O Leandro começou a se transformar na questão de agressão às crianças”, diz. “Meu coração de mãe começou a rasgar. A violência com as crianças começou muito sutil, como disciplina — essa era a palavra que ele usava, da origem militar dele.”
“Por exemplo, a Olívia começou querer balbuciar a voz, dava uns gritinhos, e ele começou a dizer que tinha que passar pimenta na boca para disciplinar. Eu disse: não vai passar, jamais. E ele passava vinagre. Pegava tampinha de garrafa de Coca-Cola, colocava vinagre, e deixava perto do carrinho. Quando ela gritava, ele molhava o dedo e passava na boca”, diz. “Ele dizia que mulher falava demais e que a filha dele não seria essa mulher que ficava falando sem parar.”
Com Gabriel, “o chinelo já ficava perto para ele entender que ia apanhar se não comesse tudo em 20 minutos”.
“Como eu nunca apanhei dos meus pais, ele dizia que eu era mimada, que eu não sabia disciplinar e educar filhos.”
Em busca de alguma independência financeira, Patrícia retomou o plano de buscar um trabalho e falou com uma amiga que tinha experiência com faxina na cidade.
“Era a família linda, todo mundo bem vestido, ele usava Rolex, tinha Porsche e a mulher dele vai fazer faxina? Ela não entendeu nada.”
E a reação do marido? “Se você for trabalhar, vai ter que arrumar um emprego em que vai conseguir pagar a escolinha da Olívia — porque eu não vou pagar a escola dela, o dever de ficar com ela é seu — e o dinheiro que sobrar você fica”, disse ele à esposa.
Patrícia assumiu a faxina de uma loja na madrugada, antes de o comércio abrir, de domingo a domingo. “Ele deixou porque tava dormindo: eu saía 3h da manhã, voltava 7h, e as crianças ainda estavam dormindo.”
No dia do aniversário, Patrícia encontrou no trabalho o banheiro mais sujo que já tinha visto. “Botei luva, máscara e fui”, diz.
“Chorei muito limpando aquele banheiro, eu falava muito para Deus que aquele banheiro era minha vida e que eu ia limpar aquele banheiro, mas eu ia limpar minha vida também.”
Patrícia diz que permaneceu na relação por muito tempo porque achava que seria possível mudar o comportamento de Leandro. E relata um sentimento de farsa.
“A vida que eu vivia dentro de casa não era a que eu vivia fora de casa”, diz. “Nós vivíamos na igreja, e ele teve uma posição dentro da igreja onde ele era diácono. Mas, ao mesmo tempo em que estávamos no domingo de manhã na igreja, ele dava socos no Gabriel antes de ir. Aquilo ali me machucava muito, porque eu não conseguia entender, eu não conseguia realizar dentro de mim como eu faço para ter uma família igual à que eu tive”, diz, em comparação à relação dos pais dela.
‘Fugi para salvar meus filhos’
A violência do então marido, um homem de quase 2 metros de altura, contra as crianças se intensificou.
Foi aí que Patrícia abandonou a ideia de que poderia “salvar a relação”.
“Se não tivesse tido essa intensidade de violência com as crianças, eu não teria arrumado forças para sair. Fugi para salvar meus filhos.”
Patrícia relata que Leandro chegou a deixar o filho — depois de ter apanhado e com marcas de sangue na perna — trancado no quarto por um dia todo.
“Fiquei deitada do lado de fora, chorando na porta. Eu queria arrombar a porta, mas eu tinha uma bebê também, e tinha medo do que poderia acontecer”, diz.
O pai não quis que a criança fosse levada ao médico, segundo Patrícia, “porque o médico ia ver as marcas e entender o que aconteceu”. Em vez disso, ele comprou passagens para a Disney.
Em outra ocasião, “as duas crianças começaram a discutir e ele deu um soco na boca do estômago do Gabriel”. “Olhei pra trás, vi meu filho sem respirar, com a boca roxa. Eu não sabia se eu pulava no Leandro ou se eu salvava o Gabriel.”
Patrícia filmou uma agressão do ex-marido ao filho, que ocorreu, segundo ela, depois que a criança não conseguiu pronunciar uma palavra corretamente.
A gota d’água veio quando Patrícia viu Leandro segurar uma faca.
“No último dia que dormi naquela casa, ele arrombou a porta segurando uma faca. Ele subiu, tentou abrir e tava trancado [o quarto]. Coloquei um andador prendendo a maçaneta, por dentro, pra ele não abrir. Ele arrombou — tenho filmado”, diz. “Ele veio com uma faca na cama, não falou uma palavra. Ele só olhou pra mim com a faca na mão, pegou o travesseiro dele e saiu. Pensei: não vou ficar mais um dia aqui porque vai acontecer uma tragédia.”
Crédito, Getty Images
Sem acesso a dinheiro e sem dominar a língua de onde vivia, Patrícia diz que sentia necessidade de tomar uma atitude há muito tempo, mas se via com poucas opções.
“No episódio em que dormi no lado de fora da porta do Gabriel, foi um dia que pensei na polícia. Visualizava a polícia entrando ali, vendo sangue, e levando ele preso. Mas aí imaginava ele recebendo a polícia, falando inglês fluente com a polícia, dizendo que eu tava louca. E estávamos em processo de Green Card [visto permanente de imigração para os EUA] e ele falava muito pra mim: ‘Se a gente perder esse processo, eu mato você’. Ele dizia que era brincadeira, mas eu sabia que era sério.”
‘Nunca imaginei que no dia seguinte estaria no Brasil’
Sem vislumbrar uma saída, Patrícia foi visitar um casal de amigos dela e de Leandro, assim que o então marido havia partido para uma viagem de fim de semana.
“Eles eram da igreja, eu confiava muito neles, eram meus pais lá”, diz. “Mas nunca imaginei que no dia seguinte estaria no Brasil. Deixei roupa batendo na máquina.”
Ela relatou o que acontecia dentro de casa — não sem correr algum risco, já que o casal também era muito próximo a Leandro.
“Ele [o amigo] chorava, não acreditava que tinha sido enganado. Deus colocou eles ali porque não sei sozinha o que faria.”
Patricia diz que ouviu do amigo: “O que você tá contando é crime e eu não vou acobertar um crime.”
E foi aí que ela foi questionada se queria, naquele momento, chamar a polícia ou voltar para o Brasil.
“Não pensei duas vezes. Falei ‘obviamente quero ir para o Brasil’. Vão levar ele preso e eu vou ficar nos EUA? Nunca tive senha de banco, não sabia nem o nome do advogado do Green Card, não sabia quanto ele ganhava”, diz. “Se eu perguntava de alguma coisa, ele respondia perguntando se tava faltando alguma coisa, de forma sarcástica e ameaçadora.”
Às 4h da madrugada daquele dia de 2021, os amigos compraram a passagem para Patrícia e as crianças embarcarem ao meio-dia.
“Ali no aeroporto foram horas muito difíceis, de entender o que eu estava fazendo. Eu não tinha a mínima noção de todo esse processo que agora tô enfrentando. Meu amigo falava: Patrícia, vai em paz, você tá segura agora. Deixa comigo que vou avisar o Leandro. Quando você decolar, prometo que vou ligar pra ele, dizer onde estão indo e que a gente sabe de tudo.”
(Leia mais abaixo sobre os riscos de natureza legal da decisão de se mudar de volta para o Brasil com menores, sem o consentimento do pai ou responsável pela criança, segundo o governo brasileiro e a ONG Revibra Europa.)
Convenção de Haia e a subtração internacional de crianças
Ao chegar ao Brasil com os filhos, Patrícia recebeu uma foto de Leandro.
“Era uma selfie dele com a corte americana atrás, dizendo: ‘vou buscar meus direitos e você vai se arrepender disso’”, diz. “Eu não tinha noção da Convenção de Haia.”
A Convenção de Haia de 1980 e a Convenção Interamericana de 1989 abordam a chamada subtração internacional de crianças e adolescentes — quando são levados, sem consentimento do outro genitor, do país onde costumam viver.
Até agosto, o Brasil já tinha 110 pedidos de retorno ao Brasil ou de repatriação de crianças para outros países neste ano por subtração internacional, segundo o governo brasileiro.
Um dos casos mais conhecidos no Brasil nas últimas décadas foi o de Sean Goldman, nascido nos EUA em 2000, de mãe brasileira e pai americano. Após a morte da mãe, o pai biológico pediu — e conseguiu — o retorno dele aos EUA.
Os tratados internacionais preveem que as nações devem colaborar para que uma criança subtraída possa voltar de forma imediata e segura ao país onde costumava viver.
A intenção é proteger crianças e adolescentes até 16 anos que passam por situações de ruptura familiar e que são deslocadas de forma repentina para outro país.
Há, no entanto, exceções para essa regra geral de retorno da criança ao país de residência habitual.
Não há obrigação de devolver a criança ao país de origem quando “existe um risco grave de a criança, no seu retorno, ficar sujeita a perigos de ordem física ou psíquica, ou, de qualquer outro modo, ficar numa situação intolerável”, prevê o tratado internacional.
Além disso, organizações civis e autoridades brasileiras que atuam no tema vêm defendendo que casos de violência doméstica contra a mãe ou pai também passem a configurar como exceção.
No Brasil, a previsão é que o tema seja votado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), onde uma ação pede que em casos de “suspeita ou evidência de violência doméstica em país estrangeiro”, a criança não seja repatriada ao “lar do agressor” no país onde vivia antes de ser levada a território brasileiro.
Pedido de retorno de Olívia e Gabriel aos EUA
No caso de Patrícia, não demorou para que ela recebesse uma comunicação da Autoridade Central Administrativa Federal (Acaf) sobre o pedido de retorno das crianças para os EUA — o país é, aliás, o que tem mais pedidos relacionados à subtração internacional em trâmite no Brasil.
A Acaf, vinculada ao Ministério da Justiça, é o órgão que recebe pedidos de outros países para devolver crianças que estão no Brasil — e que se comunica com autoridades de outros países para pedir o retorno de crianças ao Brasil.
Michelle Najara, que chefiava a Acaf em julho, quando conversou com a BBC News Brasil como coordenadora-geral de Adoção e Subtração Internacional de Crianças e Adolescentes do Ministério da Justiça, disse que o órgão busca, quando possível, resolver os casos de forma administrativa.
Se não há acordo, a Acaf encaminha o caso à Advocacia-Geral da União (AGU), responsável por ajuizar a ação de subtração internacional na Justiça Federal.
É comum que a AGU seja vista, nesses casos, como a defesa do genitor deixado em outro país. No entanto, o procurador nacional da União de Assuntos Internacionais da AGU, Boni de Moraes Soares, diz que o papel da AGU é atuar em nome da União e não do genitor abandonado.
“O importante é exercer a nossa obrigação para com os demais países que são parte do tratado — seja para devolver a criança, seja para aquela criança fique aqui”, diz, em referência aos dois possíveis desfechos.
Patrícia diz que, depois de ela ter vencido a ação em primeira instância (ou seja, ter decisão favorável para que as crianças permaneçam no Brasil), a AGU saiu do processo.
Patrícia teve decisão favorável a ela (ou seja, pela permanência das crianças no Brasil) na primeira instância e conta que, depois disso, a AGU saiu do processo e ela venceu também na segunda instância. Sem a atuação da AGU, Leandro precisou recorrer da decisão com advogado particular.
Sem identificar o caso específico de Patrícia, a BBC News Brasil questionou a AGU sobre cenários em que o órgão deixa de atuar.
Soares explicou que isso de fato acontece em alguns casos, como quando o juiz constata que houve violência doméstica e identifica risco para a criança se ela voltar.
“A partir do momento que há prova e que o juiz constata violência e risco para a criança, passamos a concordar com o juiz e não mais recorremos. Aí, de fato, o pai ou mãe que tiver perdido a criança pode recorrer por sua conta e risco.”
E quão provável é que um pai ou mãe consiga reverter a decisão judicial, em um caso com essas características, após a AGU deixar o caso?
“Muito baixa [a chance]. Se a União sai do processo, isso envia uma mensagem para o sistema de Justiça: olha, o autor original já não persegue o direito que queria, ele já se convenceu de que o juiz de primeira instância tem razão e que há uma hipótese não retorno”, diz Soares.
Crédito, Getty Images
Violência doméstica no exterior
A advogada e mediadora Janaína Albuquerque, que atua baseada na Europa, diz que mulheres migrantes estão “mais suscetíveis a violência” e “muito mais suscetíveis a aceitar que as coisas cheguem a um nível muito pior justamente pela falta de suporte e de recursos”.
Coordenadora jurídica da ONG Revibra Europa, que oferece assistência gratuita para migrantes vítimas de violência doméstica, Albuquerque enumera dificuldades enfrentadas por elas.
A advogada cita a recorrente dependência financeira em relação a parceiros, a dificuldade de acessar abrigos (principalmente com crianças), o “medo de deportação” nos casos em que o status migratório depende do vínculo com o marido, a inexistência de uma lei como a brasileira Maria da Penha, a dificuldade de acessar serviços equivalentes ao que seria um exame de corpo de delito no IML no Brasil em casos de agressões físicas, entre outros.
“Quando você acrescenta a migração, a classe social, a raça, tudo isso combina para que a mulher seja mais descredibilizada ou não”, diz a especialista, que participou de debate no Fórum Global sobre Violência Doméstica em casos de Subtração Internacional de Menores de 2024 na África do Sul.
Albuquerque também fez sustentação oral na votação do Supremo sobre o tema, representando a Revibra Europa e outros institutos como amicus curiae.
A possibilidade de que casos onde há “suspeita” de violência doméstica (e não “violência comprovada”) sejam considerados exceção para repatriar crianças — como pede a ação no Supremo — não poderia levar pessoas mal intencionadas a alegar violência doméstica quando ela não tiver de fato ocorrido?
“Entendo a preocupação reversa, de que falsas denúncias podem acontecer, mas acho que, na proporção das coisas, é muito mais preocupante que tantos casos [de violência doméstica] passem batidos, que essas situações e essas dificuldades sejam ignoradas”, diz ela, em relação às barreiras para conseguir comprovar violência doméstica.
Albuquerque destaca a dificuldade de conseguir provas no exterior e de levá-las ao Brasil. “Você não consegue ter uma cópia do boletim de ocorrência, porque eles não dão; você não tem uma cópia do inquérito policial e, muitas vezes, eles são arquivados por falta de provas ou falta de testemunhas”, exemplifica.
A advogada menciona, por exemplo, que gravar um vídeo ou áudio sem consentimento pode ser crime, dependendo do país onde essa pessoa estiver.
“Conseguir essas provas é muito, muito difícil, ainda mais quando a violência não é física, e é psicológica ou administrativa, por exemplo, de ameaça ou de esconder documento”, diz.
Crédito, Getty Images
Levantamento da AGU ao qual a BBC News Brasil teve acesso mostra que das 173 ações sobre subtração internacional de crianças que chegaram à instituição nos últimos seis anos, aproximadamente metade envolveu alegação de violência doméstica.
O reconhecimento judicial da violência, no entanto, só aconteceu em uma em cada cinco dessas ações, segundo o órgão.
A AGU não detalhou a proporção de gênero nessas ações, mas disse que “no geral, as mães são as principais vítimas desse tipo de violência”.
Em um artigo na Folha de S.Paulo, no qual defende que a violência doméstica deve ser exceção de retorno, o desembargador Guilherme Calmon Nogueira da Gama, presidente do TRF2 e coordenador nacional do Grupo de Juízes de Enlace para a Convenção de Haia, diz que “o tema tem um viés de gênero”.
“Cerca de 80% dos casos de subtração de filhos são pelas mães que voltam do exterior sem a autorização do pai”, escreveu.
Michelle Najara, que estava à frente da Acaf, disse que a convenção “tem que se adaptar à realidade brasileira”. “Não se pode tentar aplicar uma convenção considerando uma realidade de 40 anos atrás, em que não se discutia sobre violência doméstica”.
Embora defendam atualizações na convenção, todas as autoridades e os especialistas ouvidos pela BBC News Brasil destacaram a importância da Convenção de Haia.
Najara aponta que, se não fosse a convenção, “os pedidos passariam por embaixadas, e os pedidos diplomáticos são feitos e atendidos com base na voluntariedade — o país pode ou não querer”.
‘Não desconfiei que ele não voltaria’
Crédito, Daniel Arce-Lopez/BBC
Foi a Convenção de Haia que permitiu que a brasileira Amanda*, que vive no Canadá, recuperasse o filho, Vicente*.
Amanda, o ex-marido e Vicente — todos brasileiros — viviam em Quebec desde 2015.
Imigraram juntos e se divorciaram anos depois. Amanda diz que, na época da pandemia, os planos do casal ficaram descoordenados — ele queria voltar ao Brasil e ela pretendia continuar no Canadá. Após “alguns episódios de violência verbal, psicológica e financeira”, o casamento terminou.
Até que em 2022, oficialmente separados e vivendo na mesma cidade, Amanda e o ex-marido negociaram autorização de viagem para que Vicente viajasse nas férias com a mãe, primeiro, e depois com o pai.
“Viajei para os EUA com meu filho pra encontrar minha família, que tinha viajado pra lá. Ficamos 15 dias — fui no dia que falei que ia e voltei no dia que falei que voltava.”
Em seguida, o garoto, então com 11 anos, viajaria com o pai para o Brasil.
“Quando ele [o ex-marido] me pediu uma viagem de 40 dias, eu autorizei — até entrei em contato com a escola para ver se teria problema, foi tudo muito organizado”, diz. “Dei [autorização] — porque sabia que ele ia e voltava. A vida dele era aqui, ele tinha aluguel, carro… Em momento algum desconfiei da possibilidade de ele ficar no Brasil.”
Mas Vicente não retornou dessa viagem de férias com o pai.
Amanda tem na ponta da língua as datas: a que o filho viajou e a que ele deveria ter voltado, escritas na autorização que ela assinou — documento que depois virou a prova da subtração internacional.
Inicialmente, o ex-marido disse que tinha contraído covid e retornaria alguns dias depois com filho. Depois, no entanto, comunicou pelo WhatsApp que não tinha previsão de retorno.
“Ele me enviou uma mensagem de texto pelo WhatsApp simplesmente comunicando a decisão de ficar no Brasil e dizendo que era um desejo do meu filho ficar no Brasil, que eles seriam muito felizes lá e eu ia ver isso.”
Era o fim da tarde de uma sexta-feira. “Desmoronei”, diz Amanda, que ligou para a polícia e fez boletim de ocorrência.
Em seguida, ela buscou ajuda da irmã, de grupo de brasileiras no Canadá, além de um serviço de aconselhamento jurídico da empresa onde trabalha. Foi quando descobriu como funciona a Convenção de Haia e iniciou o processo para ter o filho de volta ao Canadá.
“Tive que provar que a residência habitual do meu filho era aqui — escola, médico, entradas e saídas de viagens daqui”, diz. “É uma luta contra o tempo.”
Amanda depois descobriu que, durante as supostas férias no Brasil, o ex-marido viajou ao Canadá e “se desfez do carro, de tudo dele, pediu demissão, e voltou ao Brasil”. “Tudo premeditado”, diz.
Após meses de burocracia e briga internacional, Amanda conseguiu no início deste ano a decisão da justiça no Brasil que determinou o retorno do filho ao Canadá. O ex-marido recorreu da decisão.
“Nem sei se tenho religião, mas eu tinha fé de que ia conseguir… Uma certeza de que poderia demorar o tempo que fosse, mas meu filho ia voltar, e de que eu lutaria por ele até o fim.”
Ela buscou o filho na casa do pai no interior de São Paulo, em uma operação com dois oficiais de justiça, que entregaram o garoto a ela.
Amanda diz que o filho chorou no caminho até o hotel e, no dia seguinte, acordou animado porque andaria de avião.
Ela diz que não foge do assunto com o filho e que, desde o começo, diz que ele poderia voltar ao Brasil se desejasse.
“Eu falei ‘Aconteceu uma coisa de muito errado, a mamãe tá tentando consertar. Mas se o seu desejo for de ficar no Brasil, você vai ficar no Brasil, mas a gente tem que consertar as coisas’”, diz. “Meu papel sempre foi esse na vida do meu filho: falar a verdade e respeitar a vontade dele, mas eu não podia deixar as coisas do jeito que estavam.”
Amanda e Vicente seguiram para o Canadá, com a bebê que Amanda teve nesse período — ela diz que foi do nascimento da filha, aliás, que ela tirou forças para acreditar que repatriaria Vicente. “Foi ela que me deu toda fortaleza pra lutar pelo meu filho até o fim.”
‘Cicatrizes emocionais’
A saída repentina do ambiente em que a criança está acostumada a viver pode gerar um “estresse tóxico” para ela, diz o psiquiatra da infância e adolescência Guilherme Polanczyk, professor da Universidade de São Paulo (USP).
É uma situação diferente do que ocorre em uma mudança de país numa situação ideal, preparada pela família— que, explica o psiquiatra, “gera um estresse, mas pode ser um estresse positivo, que vai fazer com que essa criança desenvolva uma nova língua”, por exemplo.
“Mas algo sem essa preparação, traumático e abrupto, vai gerar um estresse tóxico que, provavelmente, a partir daí, haverá ansiedade, sintomas emocionais, irritabilidade e outros sinais de que o equilíbrio emocional da criança foi atingido.”
Ao mesmo tempo, Polanczyk pondera que “se essa criança saiu de um ambiente nocivo e vai para um ambiente que a protege, isso pode ser positivo para o desenvolvimento dela a médio prazo”.
Do ponto de vista do desenvolvimento infantil, ele diz que “faz todo sentido” que uma situação comprovada de violência contra a mãe — ainda que não diretamente contra a criança — seja considerada uma exceção para o retorno da criança para aquele ambiente. Isso porque, segundo ele, esse tipo de situação gera um “efeito gigante” para a criança, com riscos de problemas de saúde mental e de desenvolvimento.
E quais devem ser os cuidados com as crianças e adolescentes subtraídos de um país?
Os desafios mudam não só com as características de cada situação, mas também com a idade dessas crianças e adolescentes.
De forma geral, a recomendação do psiquiatra é que o assunto não seja empurrado para baixo do tapete depois de uma mudança de país. Não falar sobre o tema, diz Polanczyk, pode “gerar cicatrizes emocionais”.
“É preciso falar o que aconteceu, integrar aquela vida anterior naquele outro país, naquele outro contexto, com a vida atual”, diz. “É importante trabalhar o que vinha acontecendo naquele outro ambiente, por que isso aconteceu, quais são os sentimentos que a criança tem”.
Ele diz que uma resposta possível, por exemplo, é que a criança que deixou um ambiente nocivo fique, por um lado, aliviada por ter saído, mas ao mesmo tempo tenha um sentimento de culpa pelo pai ou mãe que ficaram — e até sinta que teve alguma responsabilidade.
“Os pais têm a tendência, em geral, de achar que é melhor não falar, que a criança não tá entendendo, e que tá tudo bem. Mas elas entendem alguns elementos e muitas vezes interpretam de formas muito equivocadas e variadas — que às vezes são formas prejudiciais”, diz. “A verdade é muito importante.”
Um dos pontos que tornam esses casos ainda mais desafiadores é que não é só a saúde mental das crianças em jogo. “É uma situação de super trauma para os pais também. A insegurança que esses pais passam, e as mães principalmente, será transmitida para a criança”.
Ajuda no exterior
O Itamaraty não deu entrevista sobre a subtração internacional de crianças. Apenas informou que é responsável pelos serviços de assistência consular.
A cartilha alerta, por exemplo, para o fato de a retirada das crianças ser considerada crime em alguns países, o que pode levar a um pedido de prisão do genitor acusado de subtrair a criança.
Também orienta que a mãe vítima de violência doméstica reúna o maior número de provas do abuso sofrido e sugere que sejam reportados, “na medida do possível”, às autoridades locais, antes da decisão de deixar o país.
Entre as provas que podem ser consideradas, segundo a cartilha, estão laudos médicos, relatos para organizações estatais de apoio a vítimas de violência doméstica, notificações e denúncias para a polícia.
A sugestão é que as denúncias sejam preferencialmente feitas na companhia de uma pessoa de confiança, com conhecimento da língua e cultura locais.
Em situação de emergência, a recomendação é chamar a polícia ou ambulância.
*Os nomes foram alterados para preservar a identidade das crianças envolvidas.
Fonte: BBC
 Hoje Pernambuco Notícias a toda hora!
Hoje Pernambuco Notícias a toda hora!
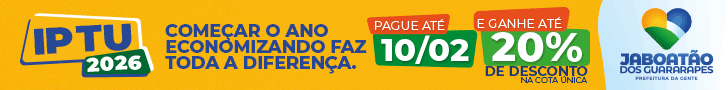




Você precisa fazer login para comentar.