- Daniel Salomão Roque
- De São Paulo para a BBC News Brasil
Crédito, Alice Brill / Instituto Moreira Salles
Aurora foi lobotomizada em 1955 e morreu quatro anos depois
Dentro do quadro, tudo o que vemos é uma esquina do Largo São Francisco de Paula. Quase nada escapa ao brilho dos postes elétricos — o piso, as árvores e os prédios estão mergulhados num mesmo clarão amarelo, que se irradia rumo às janelas da loja Brasileira, notório estabelecimento da Belle Époque carioca.
“Ali se encontra o que há de bom e elegante em fazendas de luxo e roupa branca para senhoras e meninas”, diz um anúncio veiculado pela casa no início do século 20. As consumidoras, todavia, não dão as caras nesta imagem — agora elas dormem, e o centro do Rio de Janeiro permanece deserto.
Ao fundo, nos deparamos com José Bonifácio, o Patriarca da Independência. Mas sua estátua, tragada pelas sombras noturnas, parece pequena diante da figura feminina que o examina. Com as mãos na cabeça e um vestido negro de mangas vermelhas, ela ostenta um semblante cético — afinal de contas, nenhuma outra mulher se atreveria a disputar o espaço público naquele horário.
O crepúsculo, então, se abate sobre as ruas da metrópole. Não sabemos se a tarde chegou ao fim, ou se uma nova manhã se inicia. Entretanto, o cenário permite que se especule a natureza desta pintura. Trata-se, possivelmente, de um autorretrato.
A autora, Aurora Cursino dos Santos, foi uma artista plástica sem reconhecimento de seus pares.
Pintou mais de duzentos quadros e desenvolveu um estilo próprio, em permanente diálogo com as vanguardas de sua época.
Não conseguiu, porém, se desvencilhar de dois estigmas — era prostituta e portadora de transtornos psiquiátricos. Toda a sua obra foi desenvolvida nas dependências de um manicômio, onde recebera diagnósticos de “psicose paranoide”, “personalidade psicopática amoral”, “esquizofrenia parafrênica” e “autismo intenso”.
Dezenas dessas pinturas acabam de ser reunidas no livro Aurora: Memórias e Delírios de uma Mulher da Vida (Editora Veneta), fruto de um estudo levado a cabo por Silvana Jeha, doutora em História pela PUC-Rio, e Joel Birman, professor titular do Instituto de Psicologia da UFRJ. A dupla enxerga na própria pesquisa uma oportunidade de se confrontar um certo imaginário social.
“As prostitutas sempre foram colocadas na mesma categoria que os assassinos, traficantes e ladrões”, afirma Jeha à BBC News Brasil.
“Isso faz parte de um problema maior, contra mulheres que reivindicam a liberdade sobre o próprio corpo. É como se elas estivessem matando, roubando, ferindo muito gravemente alguma lei humana.”
Para Birman, o caso de Aurora sintetiza um martírio inerente a todo indivíduo violentado pelo sistema judiciário: “São vidas protocoladas por registros clínicos e policiais, entre outras leituras supostamente crítico-negativas”, diz o psicanalista.
“Nesse sentido, procuramos tirar Aurora do terreno da infâmia, dando a ela uma luminosidade que explicite os impasses de sua história, e também os da nossa. É uma personagem muito atual, se considerarmos a ênfase do discurso bolsonarista e da extrema-direita na questão dos costumes.”
Crédito, Museu de Arte Osório Cesar
Aurora citava diversas personalidades do mundo artístico e literário; neste quadro, ela faz alusão ao compositor Frédéric Chopin, de quem era fã
A noite desce
Aurora nasceu em 1896, no município paulista de São José dos Campos. Filha de um pequeno comerciante, casou-se a contragosto, obrigada pelo pai.
O matrimônio, porém, duraria menos de 24 horas — no dia seguinte, a jovem interiorana optou pela separação. Não gostava do marido, e atribuía ao casamento-relâmpago a origem de todo o seu suplício.
Entre as décadas de 1910 e 1930, se prostituiu nas ruas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Com o dinheiro do trabalho sexual, viajou à Europa. Só havia estudado até o terceiro ano do primário, mas apreciava literatura, artes plásticas, música popular e erudita.
Indícios sugerem que, além de pintar, também tocava piano. Zequinha de Abreu, compositor do choro Tico-Tico no Fubá, dedicou-lhe uma valsa, intitulada A Noite Desce. Na Lapa, epicentro da vida noturna fluminense, foi vizinha do transformista Madame Satã e do poeta Manuel Bandeira.
Sua convivência com figurões nem sempre era tranquila. Em 1919, prestou queixa contra um repórter, a quem fora apresentada por José Eduardo Macedo Soares, dono do jornal Diário Carioca.
Aurora, não correspondendo às investidas do possível cliente, teve os cabelos puxados, a blusa arrancada e os lábios mordidos. Salva por uma amiga, denunciou o agressor numa delegacia, sem saber seu nome.
Um exame de corpo de delito confirmaria o ataque. Macedo Soares, no entanto, recusou-se a prestar depoimento, e o processo foi arquivado.
Vigorava então o Código Penal de 1890, cujo artigo 268 impunha até seis anos de cadeia para quem estuprasse mulheres “honestas” — caso a vítima fosse “mulher pública ou prostituta”, a pena não ultrapassava dois anos. Desiludida, Aurora se afastaria progressivamente da boemia.
Em São Paulo, matriculou-se num curso de enfermagem para atender os soldados que se entrincheiravam na Revolução Constitucionalista de 1932.
Posteriormente, trabalharia como doméstica em diversas casas, não se fixando em nenhuma delas. Sem dinheiro, migrou para os albergues noturnos da cidade. Por fim, caiu nos manicômios.
Em 1941, foi internada no Hospital Psiquiátrico de Perdizes. Três anos depois, adentrou o Complexo Hospitalar do Juquery, a 27 quilômetros da capital paulista.
Ali, frequentaria assiduamente um ateliê improvisado pelo psiquiatra Osório Cesar, pioneiro da arteterapia no Brasil. Por uma década, extravasou seus tormentos mais íntimos com pinceladas de tinta a óleo sobre folhas de papel-cartão.
“O trabalho artístico expandia a capacidade simbólica dos internados”, explica Birman.
“Eram práticas de linguagem que estimulavam a autoexpressão dos ditos pacientes, de seus conflitos, suas dores. Partia-se do pressuposto de que a arte havia sido fundamental na construção do espírito humano e que, portanto, ela seria igualmente importante na reconstrução desse espírito, em casos de perturbação mental grave.”
“Aurora pôde assim desenvolver certas habilidades, descobrir dentro de si um talento pictórico. E a maneira como trabalhava os temas da própria vida sinaliza uma radicalidade, um desejo existencial de se rebelar contra o patriarcado.”
Crédito, Museu de Arte Osório Cesar
Uma das duzentas telas produzidas por Aurora Cursino dos Santos no Complexo Hospitalar do Juquery: sob o crepúsculo, uma prostituta observa a estátua de José Bonifácio no centro do Rio de Janeiro
Quadros que gritam
O ateliê de Osório Cesar, aberto em 1949, deu origem à Escola Livre de Artes Plásticas do Juquery, cujas atividades se encerrariam em 1964 — no ano seguinte, o médico paraibano foi exonerado pela ditadura militar.
Osório era militante comunista, e junto a outros intelectuais de esquerda, como o crítico Mário Pedrosa e a psiquiatra Nise da Silveira, esteve entre os primeiros autores a investigar as relações entre arte e loucura.
Para além da rotina terapêutica, suas pesquisas se desdobravam em livros, artigos e curadorias nos grandes museus.
“Há trabalhos aqui (…) que não só se assemelham às produções artísticas dos povos primitivos, como também se identificam sobremodo com a chamada arte de vanguarda”, escreveu ele em 1948, a respeito de uma exposição que organizava no Museu de Arte de São Paulo, o Masp.
“Temos também quadros que são de impressionante surrealismo, apresentando as mais sugestivas ideias.”
Em 1950, a obra de Aurora foi exibida pela primeira vez — Osório levara alguns de seus trabalhos para a Exposição Internacional de Arte Psicopatológica, na França.
Naquele mesmo ano, a escritora modernista Patrícia Galvão, vulgo Pagu, descreveu no Jornal de Notícias um quadro da prostituta: “É desenho de artista acidentalmente alienado, ou de alienado acidentalmente artista, empurrado pela deformação das normas comuns”.
São pinturas de cores fortes, marcadas por uma insólita combinação de texto e imagem. A caligrafia de Aurora é espessa, e suas letras, geralmente maiúsculas, circundam figuras humanas, esmagando-as com sentenças verborrágicas.
Em determinado quadro, um frágil rosto feminino chega a se perder entre frases soltas: “Deus me livre, senhor Jesus”; “Enfermeiras me asfixiaram nas águas e me apunhalaram”; “Derramei sangue muitas vezes”, “Caí no chão quase morta, tanto fazia eu vir da rotunda ou de baixo”.
Noutros trabalhos, lembranças pessoais e delírios persecutórios se misturam a referências do mundo externo — os escritores Anatole France, Émile Zola e Alexandre Herculano; os compositores Ludwig van Beethoven e Frédéric Chopin; reis, papas e imperadores europeus; delegados e políticos brasileiros.
Jeha os interpreta como imagens nebulosas de um tempo passado — real ou imaginário.
“Não sei muito bem o que é ficção e o que é realidade no meio disso tudo”, afirma a historiadora.
“Mas tanto faz, pois Aurora nos fornece um testemunho sobre a condição da mulher na primeira metade do século 20. Ela aborda o feminicídio, a violência de gênero e outras questões que somente agora têm sido nomeadas. Hoje em dia, existe todo um vocabulário novo para designar aquilo que a mulher sofre desde sempre.”
Menções a São José dos Campos, no entanto, atestam o caráter autobiográfico dessa obra.
Numa série de pinturas, o município surge em tons harmônicos e verdejantes, com agricultores trabalhando em meio a casebres e milharais. Noutros quadros, Aurora se afasta da nostalgia e mergulha em tintas fúnebres sua terra natal.
“Meu bisavô, pai do papa Corsini, foi esfaqueado três vezes em um só instante, na frente dos netos e filhos”, escreve a artista numa representação do suposto assassinato.
Outra imagem nos mostra uma charrete que desfila impunemente pelas ruas da cidade, sob a inscrição: “O rapto de Aurora Cursino”.
Num terceiro quadro, vemos um sujeito de batina preta e olhos malignos, arrastando uma garota em direção a um poço: “Fui jogada lá dentro e amarrada pelo padre”, diz a legenda.
Para Jeha, tais narrativas sinalizam violências bastante concretas: “Esse lugar de subalternidade é bem traumático, e está na raiz de muitas trajetórias femininas em hospícios”, observa.
“A mulher sai do lar, apresenta-se ao mundo e precisa lidar o tempo inteiro com uma mira que é colocada sobre ela. Isso enlouquece a gente.”
Crédito, Museu de Arte Osório Cesar
“Eletricidade sensual”: ao transar com o músico Zequinha de Abreu, Aurora tem suas entranhas destruídas pela máquina
Inconsciente coletivo
Boa parte da obra de Aurora é composta por registros pictóricos de sua vida no manicômio. Em certos quadros, a barbárie institucional se mescla às antigas memórias de prostituição.
É o caso de uma tela que retrata os interiores do Hotel Piratininga, no centro de São Paulo. Aurora e Zequinha de Abreu fazem sexo sobre uma cama suja, enquanto um médico os observa no canto do quarto.
A prostituta é penetrada por fios, que acendem lâmpadas multicoloridas numa espécie de rádio gigante. O maquinário parece extirpar seus membros e órgãos internos, com engrenagens específicas para o coração, estômago, pulmões, fígado, cabeça, pescoço, ventre, seios, pernas e pés.
“O quadro expõe, nos mínimos detalhes, a destruição de seu corpo pela tecnologia”, afirma Birman.
“Durante uma relação amorosa com Zequinha, ela tem a intimidade aniquilada pelas práticas abomináveis do poder psiquiátrico. Mas essa mulher não tolerava o abuso, nem como trabalhadora sexual, nem como interna de um manicômio”.
Em 1955, Aurora foi lobotomizada. Ela morreu no dia 30 de outubro de 1959, aos 63 anos, sem nunca ter deixado o Juquery. Antes que bisturis lhe mutilassem o cérebro, experimentara outros flagelos — choques elétricos e injeções medicamentosas, induzindo ao coma e às crises convulsivas.
Semelhantes métodos engatilhavam dores e angústias, evocadas num quadro em que a prostituta retrata a si mesma com fisionomia aflita.
Seus braços estão rendidos, e agentes de saúde a observam numa maca: “Eis o que as mais velhas sofrem”, anuncia a legenda. “Cocaína, moléstias venéreas, filhos, tuberculose. Temos que pagar, e outros não”.
Além dela, o sistema manicomial faria outras vítimas. “As mulheres livres foram largamente varridas para dentro dos hospícios”, explica Jeha. “A obra de Aurora se baseia numa permanente revolta contra isso, sem nenhuma autocensura. Ela já não tinha mais nada a perder”.
O despudor transparece numa série de quadros sexualmente explícitos, abordando estupros e orgias com protagonismo das autoridades masculinas.
Em determinada pintura, a artista chega a retratar sua própria vulva, rodeada por termos que aludem à geopolítica mediterrânea: “Itália”, “República”, “passagem dos portos”, “aristocracia”, “príncipe”, “presidente”.
Pelos cantos, em letras menores, há uma narrativa obscena, envolvendo certo oficial da Marinha: “Mandaram Eloy Alvim e dois cafajestes me anestesiar e acabar de rasgar meu ânus e b***** e enfiar em minha boca (sic)”.
O relato talvez possibilite a escrita de uma história das subjetividades: “Essas pinturas são como diários muito íntimos, cheios de coisas que não falaríamos a ninguém”, defende Jeha.
“Acredito que Aurora seja herdeira de um inconsciente que remonta ao século 19, quando mulheres supostamente histéricas foram internadas aos milhares, sob uma experiência coletiva de opressão modulada pelo cristianismo”..
Um grito anticlerical, perdido em meio aos desatinos pornográficos da tela, parece confirmar tais impressões: “Fui lá na Itália sem eu saber para matar o papa”, diz a prostituta.
Crédito, Museu de Arte Osório Cesar
Aurora, nascida em São José dos Campos, costumava retratar a cidade em tons ora idílicos, ora fúnebres
Ser mãe
Num misto de denúncia e fervor, Aurora professa o catolicismo, ao mesmo tempo em que ataca os representantes da Igreja. Ela pede graças à Virgem Maria e desenha a coroação de Nossa Senhora das Dores, mas não canoniza dirigentes religiosos — muito pelo contrário. Um de seus quadros mais impactantes nos mostra justamente um clérigo — com um sorriso no rosto, ele introduz a mão por debaixo da saia de uma criança, que vomita sangue.
O abuso sexual infantil reaparece numa outra pintura de tom acusatório — dessa vez, contra a Força Pública do Estado de São Paulo, atual Polícia Militar. Sobre uma menina de quatro ou cinco anos, recai o estigma do meretrício materno — indefesa, ela se encontra rodeada por oito homens, provavelmente soldados, que lhe esfregam o pênis na boca e vagina. “Mariazinha chora geme forçada no reto por ser filha de Aurora Cursino dos Santos”, diz uma inscrição.
Ela também cita um conhecido verso do poeta Coelho Neto: “Ser mãe é desdobrar fibra por fibra o coração”. A melancolia e a desesperança marcam as representações da prole, com a qual se encontra em circunstâncias fantasmagóricas.
“Um filho veio ver sua mãe dormindo”, anuncia o retrato de um homem letárgico, com os olhos fixos sobre um abajur. Outra tela nos mostra um sujeito encostado na proa de um barco, com uma lanterna iluminando o mar, enquanto veleja na penumbra ao som dos noturnos de Chopin: “Um filho veio me ver especial por eu Aurora Cursino dos Santos ser sua mãe (sic)”, enfatiza a artista.
Crédito, Museu de Arte Osório Cesar
Filhos e loucura: um par de sondas liga os seios maternos à boca de um bebê que se abriga no útero
Maternidade e calvário parecem indissociáveis — Aurora retrata a si mesma parindo, abortando, sendo agredida em plena gestação. Os rebentos, entretanto, sempre lhe escapam — são raptados por juízes, delegados e tribunais.
Paulo Fraletti, psiquiatra do Juquery, comentaria em 1954: “Diante de nós, certa feita, retratou-se nua, de ventre aberto e útero grávido e exposto, referindo-se aos nove filhos que teve, um em cada ano”. Na imagem, um menino se abriga no interior de uma bolsa amniótica, enquanto suga dois canos ligados aos seios maternos, descritos como “glândulas mamárias de vaca e baronesa egípcia”.
O quadro produziu em Jeha um efeito de identificação: “Lembrei do meu filho”, diz. “É uma pintura que fala de carinho, alimento, moradia, tudo ao mesmo tempo. Nada melhor do que isso para traduzir a obsessão materna”.
A insanidade, lembra a historiadora, é um traço atribuído à maioria das mulheres: “Quando xingam a gente, quais os termos mais comuns? P*** e louca. Então, vou ressignificar isso para mim. É uma assunção do drama, do sentimento, da emoção, de algo que nos é colado com uma carga extremamente pejorativa. Aurora é uma mulher ancestral. Ela diz respeito a todas nós”.
 Hoje Pernambuco Notícias a toda hora!
Hoje Pernambuco Notícias a toda hora!
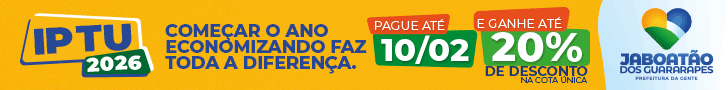




Você precisa fazer login para comentar.