- André Biernath – @andre_biernath
- Da BBC News Brasil em Londres
Crédito, Getty Images
Testes genéticos em ascendentes de europeus ‘dominam’ os estudos da área
Até junho de 2021, 86% dos estudos genômicos foram conduzidos em indivíduos de ascendência europeia. Para piorar, esse abismo só aumenta: em 2016, essa taxa estava em 81%.
Esses são alguns dados revelados em um artigo que foi publicado no periódico especializado Nature Medicine em fevereiro de 2022.
Nessa conta, são consideradas as pesquisas sobre genética humana, realizadas principalmente por acadêmicos e cientistas. Um dos objetivos de todas essas investigações é entender o nosso DNA e encontrar mutações ou características de alguns grupos e etnias que ajudem a explicar a origem das doenças — e possam servir de base para o desenvolvimento de novas ferramentas de diagnóstico e tratamentos.
Mas o que acontece se esses estudos ficam concentrados numa única população?
O artigo lista uma série de propostas para ampliar a diversidade nas pesquisas genômicas que tentam desvendar as origens dos seres humanos e os fatores por trás de diversas doenças.
Para isso, defendem os pesquisadores, é preciso ampliar dramaticamente a quantidade de testes genéticos feitos na África, no Sudeste Asiático e na América Latina.
A BBC News Brasil conversou com o geneticista computacional Segun Fatumo, que é o autor principal do trabalho.
Nascido na Nigéria, o cientista é professor associado de epidemiologia genética e bioinformática da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, no Reino Unido, e lidera o Grupo de Pesquisa em Genômica Computacional Africano, localizado em Uganda.
Fatumo alerta que a falta de diversidade no conhecimento sobre a genética não é apenas ruim para os povos que são desprezados nos estudos, mas para toda a humanidade. A ausência de um conhecimento mais amplo sobre o DNA e suas variações impede descobertas sobre a origem de muitas doenças e o desenvolvimento de novos métodos de diagnóstico e tratamento para as enfermidades.
Um cenário que só piora
Fatumo confessa que ele próprio ficou surpreso quando descobriu o tamanho do abismo nos testes genéticos.
“Em 2016, cerca de 3% dos estudos genômicos foram conduzidos em indivíduos de ascendência africana”, calcula.
“Esse número caiu para 2% e, mais recentemente, baixou para 1%”, estima.
Essa diferença foi traduzida em uma série de gráficos publicados no artigo da Nature.
O levantamento mostra que cerca de 12 milhões de pessoas participaram de estudos genéticos na América do Norte. Na Europa, são 10 milhões de indivíduos.
Esses números caem para 342 mil no Sudeste Asiático, 130 mil na África e apenas 24 mil na América do Sul.
Crédito, Arquivo pessoal
Fatumo lidera um dos principais grupos de pesquisa sobre genética na África
Para piorar, da pouca informação genética africana disponível, segundo a análise de Fatumo, boa parte dela vêm da diáspora que vive nos Estados Unidos ou no Reino Unido.
O artigo aponta que, de 1% dos participantes de ancestralidade africana que integram as bases de dados genômicas atualmente, a maioria se constitui de afro-americanos.
A proporção de informações do DNA de indivíduos que moram na África é considerada “insignificante”.
“Enquanto existem cinco grandes divisões etnolinguísticas africanas, a diáspora para o Reino Unido e os Estados Unidos consiste predominantemente em apenas um desses grupos, os falantes de Níger-Congo”, escrevem os autores.
A pesquisa aponta que, apesar de a África ser o berço de uma das maiores diversidades genéticas e linguísticas do planeta, mais de “90% desses grupos não possuem qualquer dado genético representativo até o momento”.
Os efeitos práticos dessa desigualdade
Fatumo reforça que a falta de representatividade nos testes genéticos faz mal à própria ciência.
Para dar suporte a esse argumento, ele usa como exemplo o desenvolvimento dos inibidores de PCSK9, um remédio desenvolvido para baixar o colesterol que chegou ao mercado farmacêutico recentemente.
“E isso só foi possível porque alguns estudos descobriram variantes genéticas relacionadas ao PCSK9 que apareciam em africanos e não eram tão comuns em outras populações”, diz.
Com esse conhecimento, foi possível descobrir um novo mecanismo de ação que leva ao colesterol alto — e, a partir daí, desenvolver um tratamento novo capaz de baixar a quantidade dessa molécula no organismo, que tem o potencial de beneficiar pacientes do mundo todo.
E esse não é apenas um caso isolado de sucesso: os raros estudos com a população africana também encontraram genes relacionados à doença renal crônica e ao diabetes.
Será que eles também não podem ser alvos de futuras terapias que beneficiem todas as pessoas?
“Precisamos entender que todos precisam ser incluídos para que os benefícios da genômica sejam realmente universais”, afirma o geneticista computacional.
Testes nem tão confiáveis assim
Ainda dentro desse debate, chama a atenção o fenômeno dos testes genéticos recreacionais, que são oferecidos por várias empresas e podem ser colhidos em casa pelos próprios clientes.
Nesse mercado, entre as ofertas mais populares estão as dos exames de ancestralidade, que mostram de onde vieram seus antepassados.
Crédito, Getty Images
Muitas empresas enviam o kit de coleta dos testes genéticos para a casa do cliente e, depois, remetem os resultados por e-mail. Especialistas indicam que os resultados sejam interpretados com o auxílio de um profissional da saúde
Não raro, os resultados desses testes trazem detalhes muito precisos quando a origem da pessoa tem a ver com a Europa — muitas vezes, é possível saber não apenas o país, mas o local bem específico onde moravam os tataravós.
Na contramão, quando o indivíduo tem ascendência africana, é comum que as informações sejam mais genéricas e só mostrem o país ou a região mais ampla do continente onde aquela sequência de DNA é mais frequentemente encontrada.
Isso, mais uma vez, tem a ver com a falta de diversidade na genética, como explica Fatumo.
“A confiabilidade de um teste de ancestralidade depende do banco de dados que é usado para fazer a comparação com o seu genoma”, ensina o pesquisador.
“Então, sabendo que a quantidade de informação genética sobre as populações africanas é escassa, o risco de um resultado impreciso é alto.”
“A confiança num exame desses vai depender muito de sua origem. Se você tiver algum antepassado que veio da África, é capaz de sua ancestralidade não estar devidamente representada nos bancos de dados genômicos”, completa.
O que há por trás do abismo — e como resolvê-lo
Entre os motivos que ajudam a explicar a desigualdade na genética, Fatumo destaca uma espécie de “suspeita mútua” que existe entre os cientistas e as comunidades marginalizadas.
“Durante muitos anos, os pesquisadores visitavam esses locais, colhiam amostras de sangue das pessoas e voltavam para seus países de origem”, conta.
“Ninguém conversava direito e os participantes dos estudos não recebiam sequer uma resposta sobre os testes aos quais eram submetidos.”
Crédito, Getty Images
Aumentar a diversidade na ciência é fundamental para diminuir a desigualdade na genética, defende Fatumo; acima, foto de cientista mulher
O geneticista computacional entende que, mais recentemente, com a popularização da tecnologia de sequenciamento genético e a formação de cientistas de várias partes do mundo, que muitas vezes vêm dessas próprias comunidades (como ele próprio), é possível repensar essa relação.
“Agora, nós temos a possibilidade de determinar a agenda. Podemos sentar e conversar diretamente com as pessoas para explicar por que aquela pesquisa será importante para elas”, avalia.
Para Fatumo, a única maneira de equilibrar de novo a balança da genética — e incluir cada vez mais africanos, latino-americanos e asiáticos — passa necessariamente por duas mudanças.
“A primeira delas é reconhecer que esse é um problema global, que precisa ser resolvido por todos”, diz.
“Segundo, nós precisamos de investimento em infraestrutura e na capacitação de cientistas que venham desses locais menos representados.”
“Assim, eles próprios podem operar os equipamentos e fazer as pesquisas.”
Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!
 Hoje Pernambuco Notícias a toda hora!
Hoje Pernambuco Notícias a toda hora!




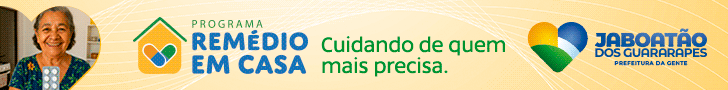

Você precisa fazer login para comentar.