- Daniel Salomão Roque
- De São Paulo para a BBC News Brasil
Crédito, British Film Institute
Orson Welles e Rita Hayworth (1918-1987) contracenam em A Dama de Shanghai. O filme contém diversas referências à passagem de Welles pelo Brasil
“Certa vez, na costa brasileira, eu vi o mar tingido de sangue”. A frase é dita por Michael O’Hara, marujo interpretado por Orson Welles (1915-1985) em A Dama de Shanghai, um clássico do gênero noir.
Aos trinta minutos de filme, a vida do personagem já havia se convertido em pesadelo. Num primeiro momento, O’Hara só queria aproximar-se da senhora Bannister (Rita Hayworth), a misteriosa mulher que conhecera nas imediações do Central Park. Para tanto, aceitara até mesmo um emprego no iate do marido dela.
Em alto mar, longe de Nova Iorque, a loura foi se mostrando tão disponível quanto perigosa. Agora, O’Hara está imerso até o pescoço numa trama de sexualidade reprimida, acusações mútuas e assassinatos por encomenda. Recostado nas praias de Acapulco, no México, tudo o que lhe resta é lembrar, diante da tripulação bêbada, uma longínqua passagem pela capital cearense:
“Enquanto o sol desaparecia no horizonte, paramos em Fortaleza. Estávamos pescando, e consegui a primeira fisgada. Era um tubarão. Então veio outro, e mais outro. Todo o mar estava coberto de tubarões, e eles continuavam surgindo. Eu mal conseguia ver a água. Então, aquelas feras começaram a se devorar, umas às outras. Eu podia sentir o cheiro de morte exalado pelo oceano. Nunca tinha visto nada pior… até esse piquenique.”
O caráter metafórico do diálogo, segundo estudiosos, transcende o enredo no qual se encontra inserido. Para Catherine Benamou, professora da University of California (EUA) e autora do livro It’s All True – Orson Welles’s Pan-American Odyssey (inédito em português), a menção ao Ceará deve ser encarada sob uma perspectiva autobiográfica. “Vejo essas referências como alegorias”, afirma ela à BBC News Brasil. “É uma cena sobre homens de dinheiro. Gente interessada apenas em lucro, nunca em arte. Foram esses os tubarões que destruíram a carreira de Orson Welles em Hollywood.”
A Dama de Shanghai foi, oficialmente, o quarto longa-metragem do cineasta. Desde 1947, o filme tem sido lembrado sobretudo pelo clímax delirante — quando o marinheiro, a femme fatale e o marido traído caminham até um parque de diversões e resolvem suas diferenças na bala, em meio a um labirinto de espelhos mágicos.
No tiroteio, como em todas as cenas do filme, a Columbia Pictures inseriu uma trilha sonora que desagradou a Welles. À sua revelia, sequências inteiras foram excluídas da montagem final, perdendo-se para sempre. Numa conversa com o amigo e colega Peter Bogdanovich (1939-2022), ele classificaria o resultado como uma “mixórdia apressada”.
Não foi a primeira rusga do diretor com os grandes estúdios, e tampouco seria a última. Welles já havia passado por aborrecimentos similares enquanto rodava Soberba (1942), e tornaria a enfrentá-los em A Marca da Maldade (1958). Alguns de seus filmes, como os shakespearianos Macbeth (1948) e Othello (1951), tiveram produções assoladas pela escassez financeira. Outros, viriam à luz apenas depois de sua morte — é o caso de The Other Side of the Wind, lançado em 2018 pela Netflix.
Bogdanovich, cineasta de trajetória igualmente turbulenta, disse a ele: “Tenho a impressão de que a causa direta de todos os seus problemas foi aquele fiasco sul-americano, It’s All True“.
“Não há a menor dúvida”, respondeu Welles. “Tudo começou ali, quando eu estava na América do Sul. Esse episódio é o desastre-chave de minha história. Você, naturalmente, vai querer pôr tudo em pratos limpos”.
Bons vizinhos
Crédito, Biblioteca Nacional
Um cinema carioca exibe Cidadão Kane, em sessão apresentada pelo próprio diretor
Na década de 1930, Welles já era uma celebridade do teatro norte-americano. Voodoo Macbeth, sua montagem de Shakespeare ambientada no Haiti, apoiava-se num elenco inteiramente negro e suscitaria longos debates raciais em 1936. Dois anos depois, o artista protagonizou um dos maiores incidentes do século 20 — a releitura radiofônica de A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, cuja transmissão levaria os apavorados ouvintes da rede CBS a acreditar que uma invasão marciana estava em curso na Terra.
O Brasil, contudo, só foi descobri-lo em setembro de 1941. Cidadão Kane, seu longa-metragem inicial, produzido sob total liberdade criativa nos estúdios da RKO Radio Pictures, acabava de chegar às telas cariocas. Vinicius de Moraes (1913-1980), então um jovem crítico do jornal A Manhã, esteve entre os primeiros admiradores da obra: “É uma renovação, uma ressurreição, uma revolução completa na moderna cinematografia”, escreveu.
Welles, por sua vez, já vinha se dedicando a uma nova empreitada. Tratava-se de It’s All True, filme episódico e semidocumental, composto por quatro histórias que esmiuçavam a cultura e a diversidade étnica do continente americano.
A primeira delas, com trilha sonora do pianista Duke Ellington (1899-1974), sintetizaria toda a história do jazz a partir da vida de Louis Armstrong (1901-1971). Em seguida, as plateias vislumbrariam a rotina dos toureiros nos rincões do México. Havia, também, planos de reconstituir o massacre dos incas pelos espanhóis no século 16. E, em oposição ao preto e branco dos episódios anteriores, o filme culminaria nas esquinas do Rio de Janeiro, registrando o Carnaval brasileiro em technicolor — uma tecnologia ainda cara, naquele momento associada a superproduções épicas, como E o Vento Levou (1939), a desenhos animados, como Branca de Neve e os Sete Anões (1937), ou a musicais, como O Mágico de Oz (1939).
Em torno do projeto, aglutinaram-se os executivos da RKO, o governo de Getúlio Vargas (1882-1954) e os escritórios do Office of the Coordinator of Inter-American Affairs (OCIAA), agência federal com sede nos EUA e voltada à promoção da solidariedade interamericana — um conceito que se alinhava à figura do presidente Franklin D. Roosevelt (1882-1945) e sua Política da Boa Vizinhança.
“Roosevelt não se aproximou gratuitamente, movido por bons sentimentos”, explica Antonio Pedro Tota, professor da PUC-SP e autor do livro O Imperialismo Sedutor – a Americanização do Brasil na Época da Segunda Guerra (Companhia das Letras). “Ele apenas sabia o que estava acontecendo na Europa, com a ascensão de Hitler e sua crescente influência pelo mundo. O objetivo do presidente norte-americano era angariar maiores simpatias para os EUA e diminuir sua pecha de nação imperialista. Agora, eles se mostrariam como parceiros, oferendo apoio e ajuda econômica aos países vizinhos”.
Dali em diante, a exploração da América Latina demandaria cada vez mais recompensas: “O Brasil constatou que aquela era uma oportunidade atraente”, diz o historiador. “O país deixava de ser um simples fornecedor de matérias-primas e enfrentaria mudanças radicais a caminho da industrialização.”
A conjuntura tinha suas ironias: Nelson Rockefeller (1908-1979), acionista da RKO e chefe do OCIAA, nunca havia assistido a Cidadão Kane. “Como empresário e membro de uma das famílias mais ricas do mundo, ele não dava muita bola para esse tipo de filme”, afirma Tota. “Ao ser nomeado por Roosevelt, ele deixou bem claro seu principal objetivo — conquistar os corações e as mentes dos brasileiros.”
Era um anseio que ecoava por toda Hollywood. Durante a Segunda Guerra, personagens e cenários latinos tornariam-se elementos recorrentes nas produções dos grandes estúdios. Em 1940, Carmen Miranda (1909-1955) estrelou Serenata Tropical – a primeira de suas quatorze fitas americanas, nas quais interpretava mulheres invariavelmente exóticas e histriônicas. Em agosto do ano seguinte, Walt Disney (1901-1966) compareceu à estreia brasileira de seu longa-metragem Fantasia — a passagem pelo país o inspiraria na criação do papagaio Zé Carioca, que toma cachaça com o Pato Donald em Alô, Amigos (1942) e reaparece no filme Você Já Foi à Bahia? (1944).
Crédito, RKO Radio Pictures Inc
Cartaz de Alô, Amigos, um dos filmes produzidos por Walt Disney sob a Política de Boa Vizinhança do Presidente Roosevelt
Welles, entretanto, renegava a posição de embaixador cultural. Ainda nos EUA, declarou: “Minha vinda ao Brasil nada tem em comum com esse slogan que hoje serve para designar o bom entendimento político e econômico entre as Américas. A missão nada tem de oficial. Estou fazendo uma Política da Boa Vizinhança à minha moda”.
Ele tinha apenas 26 anos e abrira mão do próprio salário. A imprensa brasileira, junto ao OCIAA, transformaria sua viagem num dos principais eventos midiáticos da década.
“A opinião pública construiu uma série de imagens em torno de sua figura”, diz Berenice Abreu, professora da Universidade Estadual do Ceará e autora do livro Jangadeiros – uma Corajosa Jornada em Busca de Direitos no Estado Novo (Civilização Brasileira). “Orson Welles era o homem famoso, o gênio excêntrico, o artista elogiado pela crítica, o americano que veio de Hollywood e descobriu o Brasil. Havia uma mentalidade colonialista, um deslumbre com esse estrangeiro que olhava para nós”.
No dia 8 de fevereiro de 1942, às 16h15, o cineasta chegou à capital fluminense. Um pequeno grupo o aguardava na pista do Aeroporto Santos Dumont — entre repórteres e admiradores, lá estava Assis Figueiredo, funcionário do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), órgão criado pelo governo Vargas em 1939.
Welles, de paletó e gravata, erguia o chapéu ao descer as escadas da aeronave. Sorrindo, entrou num automóvel que partiu em direção ao hotel Copacabana Palace. Às 17h45 daquele mesmo domingo, concedeu uma entrevista coletiva no saguão do hotel.
Crédito, Arquivo Nacional
Welles sorri ao desembarcar no Aeroporto Santos Dumont
“Vim ao Brasil para aprender”, disse. “Para sentir sua realidade, estudar seu povo, arriscar uma interpretação tão exata quanto possível deste país. Nos EUA, ainda há muita gente pensando que vocês falam espanhol.”
Sentia-se um autêntico carioca: “Meus pais viveram nesta cidade”, relatou. “Minha mãe viajou daqui para os EUA em gravidez avançada. Por questão de semanas, deixei de nascer no Rio.”
Um jornalista criticava seu interesse pelo Carnaval: “A festa nunca representou grande coisa para o Brasil, nem para os brasileiros. São apenas quatro dias de felicidade para o povo, que logo retorna à vida ordinária”.
“Nesse caso”, respondeu Welles, “os brasileiros são o povo mais privilegiado do mundo. Quatro dias de felicidade no ano é algo que poucos conseguem.”
My friend Orson Welles
Vinicius de Moraes esteve na coletiva e maravilhou-se com a presença do cineasta. Ao sair do hotel, escreveu: “Vontade de pegá-lo, levá-lo para comer um tutu com linguiça na casa da gente, apresentá-lo à família, ficar amigo dele”.
O poeta foi bem-sucedido em seus intentos — logo estaria se encontrando semanalmente com Welles. Em bares e boates, conversavam sobre o Brasil, os EUA, a literatura, as mulheres e o cinema — eram ambos apaixonados pela obra de Charlie Chaplin (1889-1977). “É bom saber que você não lê os jornais de Hearst”, confidenciou a ele o americano, referindo-se a William Randolph Hearst (1863-1951), o magnata da imprensa satirizado em Cidadão Kane. “Vamos almoçar em breve”.
Welles datilografara os dizeres numa folha de papel timbrado, atualmente sob a guarda da Fundação Casa de Rui Barbosa — a entidade detém em seu patrimônio todo o acervo pessoal de Vinicius. Além do bilhete, a reportagem encontrou na documentação um texto sem data, escrito à máquina, com pequenas observações em letra cursiva. O título é My Friend Orson Welles, e nele o poeta relata, em inglês, seus momentos mais marcantes ao lado do cineasta.
Crédito, Acervo Vinicius de Moraes-Fundação Casa de Rui Bar
Bilhete de Welles a Vinicius de Moraes. O cineasta e o poeta tornaram-se amigos em 1942
“Dei a ele sua primeira festa no Brasil, cinco dias após sua chegada”, escreveu. “Havia oito ou dez amigos, três ou quatro garotas, um número quase infinito de pratos saborosos e indigestos, uma excelente caipirinha. Ele bebia bem, e comia melhor ainda”.
Apesar das farras, Welles já se preparava para as filmagens do Carnaval fluminense — em suas palavras, “a única instituição em todo o mundo completamente despida de espírito comercial”.
A caminho do coquetel de Vinicius, visitara as dependências do Theatro Municipal do Rio de Janeiro — junto ao artista plástico Candido Portinari (1903-1962) e ao escritor José Lins do Rego (1901-1957), ele integraria o júri do concurso de fantasias a ser promovido por ali. Na véspera, havia apontado suas câmeras para um baile infantil em Niterói — cerca de 600 crianças se divertiam na Praia de Icaraí com figurinos de pirata, índio e Tarzan. Além disso, o cineasta vinha participando ativamente dos protestos contra a extinção da Praça Onze, no centro do Rio — o logradouro, profundamente marcado pela herança cultural africana e tido como o berço do samba, seria demolido para dar espaço à Avenida Getúlio Vargas.
Crédito, University of Michigan Library
Welles acompanha foliões na Praia de Copacabana
“O Carnaval não era um simples evento”, enfatiza Catherine Benamou. “Era um ritual popular, um terreno de disputa. Welles sentiu a necessidade de mostrar esse processo do início ao fim, desde os primeiros blocos nas ruas dos subúrbios até os palcos dos grandes cassinos frequentados pela elite. Ele queria que o público aqui dos EUA entendesse que o samba tinha raízes na cultura afro-brasileira, e que em torno da festa havia uma indústria cultural muito moderna, com suas próprias especificidades.”
O povo em technicolor
Os preparativos causavam euforia no país: “Façamos o nosso Carnaval sem medo e sem exagero de curiosidade”, aconselharia Vinícius aos leitores do jornal A Manhã. “Precisamos resistir à tentação de olhar para a câmera, de macaquear diante dela, de satisfazer a nossa vaidade em sermos filmados. Welles precisa de carnavalescos naturais”.
Entre os dias 15 e 17 de fevereiro, suas câmeras registraram, em technicolor, o cortejo do Rei Momo na Avenida Rio Branco, um show de frevo no Tijuca Tênis Clube, a movimentação nas gafieiras da Lapa, as folias nos bairros proletários da zona norte e os batuques nas favelas da zona sul. Posteriormente, Welles dirigiria cenas adicionais nos estúdios da Cinédia — então, a maior companhia cinematográfica brasileira, famosa por seus melodramas, comédias e cinejornais.
Crédito, Biblioteca Naciona
Welles, entre o Rei Momo e uma sósia de Carmen Miranda
Grande Otelo (1915-1993), representando um malandro arquetípico, encabeçava o elenco. As cantoras Emilinha Borba (1923-2005) e Linda Batista (1919-1988) também participaram das filmagens. Vinicius acompanhou o processo de perto: “Nunca esquecerei uma breve cena de macumba”, escreveu. “Welles filmou aquela cena umas quarenta vezes, nunca satisfeito com o resultado”.
A escassez de figurantes era uma das principais dificuldades enfrentadas pelo cineasta: “Em Hollywood, a coisa é sopa”, queixou-se Richard Wilson (1915-1991), seu assistente. “Mas aqui no Brasil ainda não há organização para encomendas de extras.”
Aparentemente, a situação se resolveria com a ajuda da imprensa: “Querem tomar parte num filme americano?”, sugeriu o anúncio veiculado pela RKO em diversos jornais no dia 28 de março. “É uma grande oportunidade que Orson Welles oferece a moças, senhoras e cavalheiros de boa aparência, entre 18 e 45 anos de idade”.
Crédito, Arquivo Nacional
A cantora Linda Batista, o compositor Herivelto Martins (1912-1992) e o ator Grande Otelo, no Cassino da Urca. Os três participaram de It’s All True
As 400 vagas foram disputadas por cerca de 3 mil pessoas. Os candidatos, porém, eram quase todos brancos. Welles decepcionou-se com a ausência de negros no processo seletivo: “Se eu quisesse fazer fantasias, permaneceria em Hollywood”, disse a um jornalista.
Seus problemas com os grandes estúdios já começavam a se delinear.
“A RKO via aquilo como um simples musical para divertir as massas nos EUA”, afirma Benamou. “Eles não imaginavam que Welles utilizaria o technicolor para mostrar o povo, o movimento das ruas. As cores desse filme eram verdadeiramente brasileiras. Não eram cores de um set hollywoodiano com Carmen Miranda”.
Tota concorda: “Aquele era um Brasil que não aparecia nos desenhos da Disney”, diz. “O Pato Donald e o Zé Carioca andam pelas ruas de Salvador, uma das cidades mais negras do mundo, mas só encontram personagens brancos”.
A abordagem de It’s All True, explica Benamou, era diametralmente oposta: “Alô, Amigos e Você Já Foi à Bahia? foram produzidos de forma rápida e superficial. Walt Disney nunca se interessou pela autenticidade dos dados que tinha à mão”, afirma. “Welles, por outro lado, tinha um olhar etnográfico sobre o Brasil. Ele contratou diversos especialistas para auxiliá-lo, gente como [o repórter] Edmar Morel e [o compositor] Herivelto Martins. As descobertas dessas investigações seriam utilizadas diretamente na narrativa do filme.”
Crédito, Biblioteca Nacional
Anúncio veiculado pela RKO nos jornais do Rio de Janeiro. Welles decepcionou-se com a falta de candidatos negros no processo seletivo
Caubóis dos mares
Vinicius mostrava-se entusiasmado com a produção: “Orson Welles começa a conhecer o Brasil, ou pelo menos um lado importante da alma do Brasil, melhor que muito sociólogo, que muito romancista, que muito crítico, que muito poeta brasileiro que anda por aí”, sentenciou no dia 30 de abril.
O interesse do cineasta pela “alma” do país já havia dado a tônica de seu encontro com Getúlio Vargas, dois meses antes. “O presidente ofereceu-me café”, disse Welles. “Fiquei envergonhado de confessar que eu não gostava, então bebi”.
Debruçado numa mesa do Palácio Rio Negro, em Petrópolis, o americano anunciara ao mandatário seus novos planos — viajar ao Nordeste e reconstituir o chamado “raid” da jangada São Pedro, sobre o qual havia lido um artigo na revista Time.
Crédito, Arquivo Nacional
Welles se encontra com o presidente Getúlio Vargas em Petrópolis
Segundo a revista nova-iorquina, tratava-se de “uma viagem homérica que forjou um milagre político”. Quatro pescadores, sem bússola, haviam subido numa pequena embarcação e navegado por 2,7 mil quilômetros, guiando-se pelas luzes dos faróis e das estrelas. A viagem tivera início no dia 14 de setembro de 1941, em Fortaleza, e se encerraria dali a dois meses, no Rio de Janeiro, então capital federal. O objetivo dos tripulantes parecia inatingível — encontrar-se com Vargas e exigir do presidente melhores condições de trabalho.
Manoel Olimpio Meira, o Jacaré, liderava os jangadeiros. Seus companheiros eram Raimundo Correia Lima, o Tatá; Manuel Pereira da Silva, o Mané Preto; e Jerônimo André de Souza. Viviam todos no Ceará, lidando diariamente com os perigos da profissão.
“O Jacaré era um poeta, tinha um caderninho onde anotava versos”, conta Berenice Abreu. “Ele se destacava pela desenvoltura na fala, pela capacidade de articulação política. O Jerônimo era um sujeito quieto, habilitado para lidar com os problemas técnicos da jangada. O Tatá era experiente, tinha a calma e a sabedoria do homem mais velho. E o Mané Preto era aquela pessoa que estava sempre ali, topando tudo.”
O raid da jangada São Pedro, assim batizada em homenagem ao santo protetor dos pescadores, tornou-se um grande evento midiático. Populares carregaram a embarcação pelas ruas do Rio de Janeiro, e o presidente Vargas recebeu com pompas os quatro viajantes. Jacaré, Jerônimo, Tatá e Mané Preto voltariam a Fortaleza de avião, ovacionados como autênticos heróis nacionais.
Crédito, Arquivo Nacional
O jornalista Edmar Morel (1912-1989), o jangadeiro Jacaré e Welles, durante uma confraternização no Copacabana Palace
“Essa viagem deu início a um protagonismo atrelado à ideia de aventura”, explica Abreu. “Mas, para os jangadeiros, essa aventura tinha um sentido político. Era uma reafirmação de sua existência, de seus temores, de suas necessidades mais básicas.”
O episódio revelava, simultaneamente, duas visões de país — um Brasil considerado arcaico e outro que se pretendia moderno.
“Todo mundo dizia que os jangadeiros eram lindos e maravilhosos, que eles representavam a nação, que eles desbravavam o oceano e lutavam contra feras marinhas”, afirma a historiadora. “Ao mesmo tempo, acreditava-se que a categoria estava fadada ao desaparecimento.”
Parecia sintomático que Welles, símbolo máximo da modernidade cinematográfica, estivesse fascinado pela aura supostamente rústica desses trabalhadores: “O fato me impressionou”, disse o americano. “Depois, verifiquei que esses homens representavam uma classe profissional de gente destemida, que realiza tais proezas não por exibicionismo, mas por dever de ofício. A coragem dos jangadeiros do Brasil pode ser comparada à ousadia dos caubóis nos EUA.”
Morte em cena
Às 21h do dia 5 de março, uma quinta-feira, Welles e Jacaré se encontraram pela primeira vez. O cearense, que participava de um treinamento oferecido pela Federação dos Pescadores do Rio de Janeiro, aceitara o convite do cineasta para confraternizar no hall do Copacabana Palace. Mas, declarando-se abstêmio, recusou o charuto e os drinques colocados à sua disposição naquela noite. Welles pediu-lhe um autógrafo.
“Eu poderia chamá-lo de Menino Chorão”, disse Jacaré — ele não conseguia pronunciar o nome do fã estrangeiro. “Mas, como o moço é sacudido, acho que fica melhor dar-lhe um apelido de peixe. Que seja Arabaiana.”
Quatro dias depois, Welles desembarcou em Fortaleza. Como um antropólogo, estudou os costumes e a rotina dos pescadores locais. Nas entrevistas, vinha demonstrando crescente interesse por temas nordestinos.
“Diversos fatos da história brasileira poderiam fornecer elementos preciosos para grandes produções cinematográficas”, declarou. “Os Sertões de Euclides da Cunha, por exemplo, que ganhei de presente e já li quase todo, daria um grande enredo, se fosse aproveitado como pano de fundo para um longa-metragem sobre a vida no interior do país.”
Crédito, Arquivo Nacional
A chegada dos jangadeiros ao Rio, na reconstituição cinematográfica de Welles
Noutras ocasiões, manifestou curiosidade pela trajetória dos cangaceiros, os romances de José de Alencar (1829-1877) e a obra de Dorival Caymmi (1914-2008), a quem viria a conhecer pessoalmente, apresentado pelo compositor Ary Barroso (1903-1964). Em compensação, decepcionava-se com os restaurantes de luxo aonde era levado — os menus se baseavam na culinária europeia, e o cineasta tinha vontade de comer moqueca, mocotó, rabada, vatapá e feijoada. Welles voltou ao Rio em 12 de março, na companhia de Jerônimo, Tatá e Mané Preto. Josefina, esposa de Jacaré, se opunha à empreitada cinematográfica — num sonho, o marido lhe aparecera morto, com o rosto mutilado em meio aos destroços da São Pedro.
As filmagens do novo episódio tiveram início às 8h do domingo seguinte, dia 15. Na Barra da Tijuca, Welles dirigia as cenas em alto mar, trazendo seu maquinário apoiado sobre uma enorme prancha flutuante. Os jangadeiros interpretavam a si mesmos, com Jacaré auxiliando o cineasta na mise-en-scène dos companheiros. Cada gesto era fixado pelas câmeras e repetido exaustivamente.
Para o dia 19 de maio, estavam previstas as gravações dos últimos takes. Às 9h, Welles foi à praia de carro, tendo sugerido aos pescadores que o seguissem numa lancha. Eles decidiram ir a bordo da própria jangada.
Naquela manhã, o horizonte estava coberto por uma neblina espessa. O mar encontrava-se revolto. Os quatro homens não viam coisa alguma. E, de repente, a embarcação tombou.
“Veio uma onda muito grande e fomos atirados sobre os pedaços da jangada”, relataria Jerônimo. “Olhei para o fundo da enseada e vi Jacaré se debatendo contra as ondas”.
A correnteza trouxe a São Pedro, inteiramente destruída, de volta à praia. Todos os jangadeiros se salvaram — menos Jacaré. Seu corpo nunca foi encontrado.
Segundo boatos da época, o jangadeiro servira de alimento para tubarões famintos, como aqueles que Welles citaria em A Dama de Shanghai. O Conselho Nacional de Pesca negou um voto de pesar pela tragédia, alegando que Jacaré não morrera no exercício da profissão. Para muitos cronistas, o cearense havia traído seus princípios em busca de fama e poder.
“A morte do jangadeiro trouxe à tona aquela velha imagem que sempre se reproduz quando falamos de homens pobres”, afirma Abreu. “Eles são reconhecidos e auxiliados enquanto permanecem no seu suposto lugar. Quando ousam ascender, são vistos como sujeitos corrompidos. É uma imagem muito vinculada à lógica da caridade.”
Welles, porém, divergia da opinião pública: “Eu sinto profundamente a morte de Jacaré”, declarou o cineasta, horas após o acidente. “Ele era um homem excepcional, um herói, um líder, uma inteligência viva, interessantíssima. Agora, mais do que nunca, há uma razão para continuarmos filmando. Esse filme será um tributo à memória de Jacaré.”
No dia 4 de junho, os três sobreviventes da São Pedro retornaram à Fortaleza. “Aquilo era muito bom”, disse Tatá. “Os americanos só queriam que a gente falasse como se estivéssemos representando num teatro. Às vezes, até faziam a gente comer bolo sem estar com vontade. No hotel, nada faltava, por ordem de seu Orson Welles.”
“Ele está filmando um monte de crioulos”
Às 17h do dia 12, quem passasse em frente ao Copacabana Palace testemunharia a insatisfação do cineasta com os rumos de It’s All True.
Pelas janelas do sexto andar, Welles arremessava louças e cadeiras. Os objetos se espatifavam sobre uma calçada da Avenida Atlântica, causando sustos nos pedestres e raiva na vizinhança. Irritado, o americano equilibrava-se numa disputa de forças para salvar o próprio projeto.
As filmagens na periferia da cidade vinham gerando mais controvérsia do que o afogamento de Jacaré: “Eu me lembro da noite em que tentamos fotografar as favelas de um bairro pobre no Rio”, disse Welles em 1945. “Bandidos nos rodearam. Após um cerco de tijolos, pedras, garrafas e o diabo a quatro, a gente se retirou com nossas câmeras Technicolor.”
Crédito, Reprodução
Favela da zona sul carioca, filmada em technicolor por Welles. O interesse do cineasta pela cultura dos morros gerou atritos com o governo brasileiro e os executivos da RKO
O assédio teria vindo de agentes do governo Vargas. Nos EUA e no Brasil, intensificavam-se os rumores de que Welles se filiara ao Partido Comunista. Para muitos, a ênfase do cineasta nos aspectos menos patrióticos do Carnaval representava um ato subversivo — o Estado Novo, que transformara a festa popular em veículo de propaganda oficial, perseguia abertamente militantes de esquerda.
Dentro da RKO, a situação não era menos complicada. Pouco a pouco, o estúdio restringia as verbas e os suprimentos das filmagens.
“Eles pediram para ver as sequências que eu havia rodado na América do Sul”, lembrou Welles, já no fim da vida. Ante as imagens de protagonismo negro, os executivos teriam dito: “Ele está filmando um monte de crioulos.”
Os padrões da indústria cinematográfica, segundo Benamou, inviabilizavam a continuidade do projeto.
“Nos palcos, os artistas brancos não interagiam com os negros. Havia uma separação, sempre acatada pelos musicais de Hollywood”, explica a pesquisadora. “Mas Welles desrespeitou esse espaço. It’s All True não seria apenas um filme sobre negros isolados em seus guetos. Seria um filme sobre a presença africana na própria constituição das Américas, destacando o intercâmbio entre afro-brasileiros e afro-americanos. Era uma ideia muito ousada, impensável naquele período,.”
Com efeito, os ímpetos criativos do cineasta embaraçavam seus patrões: “Sinto-me incapaz de controlar essa tendência do Sr. Welles em usar nossas câmeras para temas que desagradam o governo brasileiro”, escreveu Lynn Shores (1893-1949), gerente da RKO, em carta endereçada ao DIP.
Em 16 de fevereiro, o executivo já havia se queixado de três problemas no país: “o calor, a comida estranha e a impossibilidade de se levar o trabalho adiante com a eficácia norte-americana”. Noutras correspondências, Shores acusaria Welles de ser imprevisível, indisciplinado e pouco confiável.
No dia 20 de julho, veio o ultimato — uma nota oficial, veiculada em diversos jornais, em que a RKO declarava não assumir “nenhuma responsabilidade por qualquer ato praticado no Brasil pelo senhor Orson Welles”.
Nove dias depois, o cineasta regressou aos EUA. Na véspera, assistira a Limite (1931), de Mário Peixoto (1908-1992), frequentemente citado como o mais importante longa-metragem já produzido no Brasil. Ninguém soube ao certo o que o norte-americano achou do filme — uma excruciante narrativa experimental sobre três pessoas aguardando a morte num barco à deriva.
“Orson não acreditava no cinema brasileiro”, lembraria Vinicius, o organizador daquela sessão na Prefeitura do Rio de Janeiro. “Espero que ele tenha saído de lá com uma fé renovada”.
Welles nunca mais voltou ao país.
Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!
 Hoje Pernambuco Notícias a toda hora!
Hoje Pernambuco Notícias a toda hora!




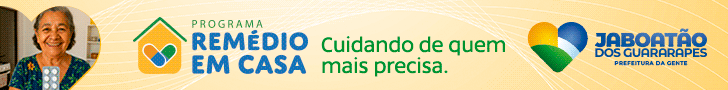

Você precisa fazer login para comentar.