Documentário BBC | 8 de Janeiro: o dia que abalou o Brasil
- Author, Camilla Veras Mota
- Role, Da BBC News Brasil em São Paulo
- Twitter, @cavmota
Seis meses atrás, uma multidão invadiu a praça dos Três Poderes e destruiu símbolos da República.
Nos dias seguintes ao 8 de janeiro, o país se debruçou sobre imagens de redes sociais e câmeras de segurança de Brasília para digerir diferentes ângulos do episódio insólito: a convocação pelas redes sociais, o acampamento em frente ao QG do Exército, as falhas de segurança que permitiram a invasão, o papel das Forças Armadas, a destruição de obras de arte e do patrimônio público.
Separadamente, cada um deles é uma janela para o que aconteceu naquele dia. Juntos, ajudam a entender como o 8 de janeiro se encaixa na história recente do país e dialoga com questões ainda não equacionadas do processo de redemocratização.
Por meio de entrevistas com testemunhas, especialistas em redes sociais, em relações internacionais e antropologia, a BBC News Brasil traz alguns dos fatores que ajudam a explicar os ataques.
O material também faz parte de um documentário publicado nesta semana, que você pode assistir acima ou no canal da BBC News Brasil no Youtube.
Crédito, Ueslei Marcelino/Reuters
Seis meses atrás, uma multidão invadiu a praça dos Três Poderes
1. Redes sociais
A funcionária pública Anna Carolina Rocha mora próximo à Praça dos Cristais, o espaço que foi ocupado pelo acampamento de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em Brasília entre o fim das eleições e o início de janeiro de 2023.
Ela passa por ali pelo menos uma vez por semana, quando está a caminho do hospital universitário em que faz tratamento.
Rocha viu todas as fases do acampamento. Das primeiras barracas à chegada do comércio – de barbearia a lanchonete, segundo ela -, e a expansão da estrutura.
Na madrugada entre 7 e 8 de janeiro, ela dirigia mais uma vez pela avenida do Exército quando uma movimentação atípica chamou-lhe atenção.
“Bem no meio da madrugada, tinha ônibus chegando, com gente descendo. No primeiro momento eu parei, olhei e pensei: ‘Gente, isso são pessoas indo embora ou pessoas chegando?'”
Cerca de 4 mil pessoas desembarcaram em Brasília nos dias anteriores ao 8 de janeiro, respondendo a convocações que circularam nas redes sociais.
Crédito, Antonio Cascio/Reuters
Congresso Nacional foi invadido em 8 de janeiro
“A partir do dia 3 de janeiro a gente percebe que começam a aparecer muitos vídeos de pessoas reunidas no QG fazendo uma convocatória para que outros manifestantes do Brasil inteiro fossem a Brasília para um grande ato”, relata Luis Fakhouri, diretor de estratégia da Palver. A plataforma de escuta social monitorou 15 mil grupos de WhatsApp durante as eleições, dentro da iniciativa montada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para combater a desinformação.
“No dia 5, isso se torna muito forte. Muitos vídeos sendo compartilhados, de ônibus chegando, de caravanas.”
As redes sociais são um elemento importante no mosaico do 8 de janeiro.
Ainda que a operação Lesa Pátria da Polícia Federal indique que há evidências de que houve financiamento da estrutura que possibilitou os ataques e de que grupos específicos os fomentaram, sem as redes sociais não haveria plataforma para que permitisse a organização difusa dos atos.
Crédito, SEBASTIAO MOREIRA/EPA-EFE/REX/Shutterstock
Muita gente foi a Brasília acreditando que poderia reverter o resultado das eleições
2. Desinformação
As mídias sociais também estão ligadas a outro fator que ajuda a explicar aquele dia, o ganho de escala da desinformação.
Muita gente foi para Brasília acreditando que poderia reverter o resultado das eleições.
O policial legislativo Adilson Paz, que esteve por três horas em confronto com os invasores na Câmara dos Deputados, diz ter ouvido no Salão Verde da Câmara naquele dia que era preciso “chamar atenção das Forças Armadas” para que elas pudessem decretar uma intervenção militar.
Essa ideia não nasceu no 8 de janeiro. Por mais de um ano, mensagens que circularam nas redes sociais espalharam a falsa ideia de que as urnas eletrônicas não eram seguras e de que a Constituição, por meio de seu artigo 142, autorizaria uma intervenção militar em casos excepcionais para restabelecer a ordem.
Desde que a fake news do artigo 142 foi mencionada por Bolsonaro em uma reunião com ministros em 2020, constitucionalistas reiteram que em nenhum trecho ele autoriza uma intervenção militar. O STF inclusive já se manifestou, em 2020, por meio de uma liminar declarando que os militares não têm a prerrogativa de exercer a função de poder moderador em um cenário de conflito entre Executivo, Legislativo e Judiciário.
A crença na notícia falsa ganha força, todavia, quando Bolsonaro deixou de reconhecer a derrota no segundo turno. Mais que isso, o silêncio do presidente alimenta outra fake news, a de que ele precisaria ficar calado por 72 horas, enquanto as pessoas fossem espontaneamente para as ruas, para que pudesse pedir uma intervenção militar sem ser acusado de tentativa de golpe.
Mesmo depois que o então presidente se pronuncia, 40 horas depois do resultado, ele dá uma declaração ambígua: “Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As movimentações pacíficas sempre serão bem vindas, mas os nossos métodos não podem ser o da esquerda, que sempre prejudicaram a população”.
Quem fala sobre a transição de governo é o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, apenas depois de Bolsonaro deixar o local da coletiva de imprensa.
Todos esses ingredientes se misturam no caldo de cultura que levou bolsonaristas a fecharem rodovias pelo país, acamparem em frente aos quartéis-generais do Exército e a depredarem patrimônio público em Brasília.
O uso das redes sociais para espalhar desinformação e engajar eleitores é um fenômeno deste século 21. E isso vale para todo o espectro ideológico, ressalta Darren Linvill, professor da Universidade de Clemson, do Estado americano da Carolina do Sul, e pesquisador do Watt Family Innovation Center Media Forensics Hub.
“Acontece na extrema direita e na extrema esquerda, assim como no centro. Está em toda parte.”
Muitos movimentos de direita e extrema direita, contudo, acabaram se beneficiando do fato de terem sido os primeiros a explorar as redes sociais como plataforma para comunicação política, pontua Lisa-Maria Neudert, pesquisadora do Oxford Internet Institute, ligado à Universidade de Oxford.
“Na Europa, os movimentos de extrema direita estão entre os primeiros que olharam para as redes sociais. Quando os partidos políticos começaram a experimentar nesse mundo, também foram os partidos de direita – e acho que isso lhes deu enorme vantagem”, avalia.
No Brasil, os estudos de análise descritiva sinalizam que o compartilhamento é maior entre grupos de direita e extrema direita, pontua o cientista social Tiago Ventura, pós-doutorando no Center for Social Media and Politics da New York University.
Olhando especificamente para o bolsonarismo, o ecossistema de desinformação criado pelo movimento aparece de forma rudimentar nas eleições de 2018 – com fake news como a do “kit gay” e da “mamadeira de piroca” – e vai se sofisticando nos anos seguintes, passando a misturar acontecimentos reais com informações falsas.
Crédito, Adriano Machado/Reuters
Mulher segura bandeira com rosto de Bolsonaro dentro do Planalto invadido
3. O avanço do populismo de direita
Tudo isso dialoga com uma nova ascensão global do conservadorismo e populismo de direita, que nas últimas duas décadas chegou ao poder em países como Hungria, Polônia, Estados Unidos, Israel, Itália e Brasil.
Guardadas as particularidades, seus líderes autoritários têm em comum o fato de terem sido eleitos dentro das regras da democracia – sem, no entanto, trabalharem para fortalecê-las uma vez no poder.
Pelo contrário: muitos deles têm promovido ou promoveram o enfraquecimento das instituições democráticas, corroendo o sistema de dentro para fora. No exemplo prático da Hungria e da Polônia, onde a direita populista está no poder há mais de dois mandatos, a promoção de mudanças pontuais e reiteradas nas leis que regem o Legislativo e o Judiciário fragilizaram o equilíbrio entre os três poderes e têm concentrado forças em torno do Executivo.
E é por isso que, desde o 8 de janeiro, o mundo observa atento o caso brasileiro, diz Oliver Stuenkel, professor associado de Relações Internacionais na Fundação Getulio Vargas (FGV):
“O Brasil é visto como um laboratório de movimentos radicais, sobretudo da extrema direita. O país talvez seja um dos mais afetados pela disseminação de notícias falsas por fake news, já teve o segundo ciclo eleitoral profundamente afetado por notícias falsas.”
“O Brasil faz parte da onda de democratização que aconteceu nos anos 90 com muitos outros países aqui na América Latina, mas também no leste europeu. O fracasso de um caso importante como o do Brasil seria péssima notícia para muitas outras democracias na região. É um sinal de que, depois de 30 anos, em vários sentidos, todas essas democracias ainda enfrentam vários desafios.”
Crédito, ANDRE COELHO/EPA-EFE/REX/Shutterstock
Destruição provocada pelos ataques, com cadeiras fora do prédio do Planalto
4. Polarização
O avanço do populismo – de direita e esquerda – geralmente vem acompanhado de polarização social e política.
“Esses líderes ganham poder e mantêm intenso apoio polarizando a sociedade”, escreve a pesquisadora Rachel Kleinfeld, do Carnegie Endowment for International Peace, em um artigo publicado no último mês de junho sobre os impactos do populismo de direita na economia.
À medida que transforma oponentes em inimigos e discordâncias em valores inconciliáveis, o discurso populista divide a sociedade. No caso do populismo de direita do século 21, a retórica é a de que o mundo é dominado por uma agenda de esquerda – que preza direitos humanos, direitos de pessoas LGBT e diretos reprodutivos das mulheres, por exemplo – contra a qual é preciso lutar para defender os valores da família tradicional e da religião.
Nas convocações para o 8 de janeiro, era frequente a mensagem de que os atos seriam um sacrifício necessário para evitar que o país fosse “dominado pelo comunismo”.
“Algumas das mensagens colocavam essa questão da urgência: ‘Essa é uma luta que tem que ser feita agora. Se a gente atrasar, a gente vai perder essa guerra e nossos filhos vão pagar essa conta’. Então tinha esse tom do imediatismo, esse medo do comunismo, medo do Brasil se tornar uma Venezuela”, diz Fakhouri, da Palver.
A ideia da ameaça do comunismo desconsidera o fato de que os partidos de esquerda com maior expressividade na política brasileira não pregam essa ideologia política e de, como fenômeno político, o comunismo perdeu boa parte de sua relevância desde a dissolução da União Soviética em 1991.
Ainda assim, o fantasma do comunismo segue vivo entre muitos brasileiros. Uma pesquisa Datafolha divulgada no último dia 1º de julho mostrou que 52% acham que o Brasil corre o risco de se tornar comunista.
O discurso de Bolsonaro durante os quatro anos de governo – seja repetindo sem provas alegações de fraudes nas urnas ou durante a pandemia, atacando as recomendações de cientistas e promovendo tratamentos sem eficácia comprovada – contribuiu para dividir o país, mas a polarização é anterior à sua eleição.
Parte dela vem do antipetismo, um sentimento que, na definição do cientista político Glauco Peres, existia de forma difusa no eleitorado quando o Partido dos Trabalhadores (PT) era oposição e que vai se consolidando depois que a sigla ganha as eleições presidenciais em 2002.
Um processo que atinge uma espécie de ápice entre 2014, quando é deflagrada a Operação Lava Jato, e 2018, no movimento que culmina na vitória de Bolsonaro.
O antipetismo é uma das forças que ajudaram a elegê-lo naquele ano. Entre os 57,7 milhões de brasileiros que digitaram seu número na urna, uma parte queria evitar um retorno do PT ao poder, ainda que não se entusiasmasse com suas propostas.
É o que indica a pesquisa Datafolha às vésperas daquele segundo turno, que apontava que 54% dos eleitores não votariam de jeito nenhum em Fernando Haddad (PT), enquanto Bolsonaro era rejeitado por 41% dos entrevistados.
Crédito, Reprodução/Relatório do Gabinete do Interventor
Acampamento em Brasília se tornou o maior do país
5. O acampamento
O país segue rachado na eleição de 2022. Lula vence com a margem mais estreita da história recente do país, 50,9%, enquanto Bolsonaro atinge 49,1%.
Entre os 58 milhões que votaram no capitão reformado em 2022, uma parte, assim como em 2018, é antipetista. Há também aqueles que queriam reelegê-lo pelo discurso liberal de seu ministro da Economia, alguns se identificavam com a pauta de costumes conservadora e outros, com a própria figura do capitão reformado.
“Essa minoria, algo que oscila entre 15% e 20% do momento em que ele foi eleito ao que ele sai, são aqueles que chamei em um artigo de ‘bolsonaristas de coração'”, diz Angela Alonso, livre-docente do departamento de sociologia da Universidade de São Paulo (USP).
“É um tipo de adesão emotiva a esse líder. E não acho que tem a ver com o fato de que ele está produzindo algum tipo de lavagem cerebral ou qualquer coisa assim – é porque tem uma grande coincidência de crenças”, avalia.
São essas, em sua maioria, as pessoas que vão às portas de quartéis por todo o país quando Bolsonaro perde as eleições em 30 de outubro de 2022, na crença de que convenceriam as Forças Armadas a decretar uma intervenção militar e mudar o resultado das urnas.
Fruto, de certa forma, dessa mistura entre redes sociais, desinformação, polarização política e fortalecimento do conservadorismo, o acampamento em frente ao QG do Exército vai se tornar um dos maiores do país.
A BBC News Brasil conversou com dois jornalistas que frequentaram o espaço disfarçados desde os primeiros dias.
“Era uma época em que chovia muito em Brasília, então as pessoas traziam lona pra conseguir dar suporte às barracas. Depois começaram a chegar as estruturas de alimentação, banheiros químicos, tenda, palco, gerador de energia”, diz Ana, que pediu para ter o sobrenome suprimido devido a ataques que vem sofrendo na internet.
“Tinha uma estrutura muito grande. Foi quando a gente percebeu que ninguém tinha ido pra passar um dia ou dois. Era de fato pra ficar. A gente só não sabia até quando e pra quê.”
A certa altura a estrutura passou a contar inclusive com uma “tenda de Youtubers”, com computadores de edição grandes, câmeras e roteador de internet.
“Eles tinham uma rotina muito bem definidinha, com os horários certos das refeições. De manhã tinha um horário do hino nacional, depois eles formavam pelotões e marchavam como se fossem militares, cumprimentando os soldados que passavam. À tarde tinha o horário em que todo mundo ia para onde os caminhões estavam estacionados. À noite cantavam o hino da independência, da bandeira…”, descreve Ana.
O acampamento foi o local onde desembarcaram as caravanas de ônibus que chegaram a Brasília nos dias anteriores ao 8 de janeiro e de onde partiu a marcha de quase 8 km até a Praça dos Três Poderes no dia dos ataques.
No relatório produzido pela equipe que assumiu a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal logo após os ataques e que investigou as causas da insurreição, o acampamento é apontado como elemento-chave da trama.
“Havia estruturas montadas para apoio de refeições e carro de som para disseminação de informações e coordenação dos manifestantes, evidenciando que o acampamento, desde sua instalação, foi elemento crucial para o desenvolvimento das ações de perturbação da ordem pública que culminaram nos atos do dia 08 de janeiro de 2023”, diz o texto.
O documento, feito a partir de informações colhidas de órgãos como o Gabinete da Secretaria de Segurança Pública do DF, a Polícia Militar do DF, a Subsecretaria de Operações Integradas da SSP/DF e a Subsecretaria de Inteligência da SSP/DF, lista diversas ocasiões em que os acampados hostilizaram profissionais que estava no espaço a trabalho, entre eles jornalistas, agentes da PF, um agente de vigilância ambiental e agentes do DF Legal.
E aponta o envolvimento do grupo com uma série de atos violentos em Brasília, entre eles a tentativa de invasão do prédio da Polícia Federal em 12 de dezembro de 2022, com a promoção de uma série de atos de vandalismo, com queima de ônibus e veículos no Setor Hoteleiro Norte de Brasília.
Crédito, Reprodução/Relatório do gabinete do Interventor
Acampamento em Brasília tinha infraestrutura com internet e geradores de energia
6. Presença de grupos antidemocráticos nas Forças Armadas e nas polícias
O relatório também destaca as tentativas de desmontar a estrutura erguida na Praça dos Cristais pela PM do DF – e impedidas pelas Forças Armadas: “Desde o fim de 2022, ocorreram ações planejadas com o intuito de desmobilização do acampamento, porém foram canceladas por fatores alheios às forças de segurança do Distrito Federal, sendo algumas operações interrompidas já em andamento e com tropas da segurança pública no terreno, por orientação do Exército Brasileiro”.
Após os ataques, dois oficiais da PM do DF, o coronel Jorge Eduardo Naime Barreto e o ex-comandante Fábio Augusto Vieira, disseram em depoimentos que o Exército impediu pelo menos três iniciativas nesse sentido.
Procuradas, as Forças Armadas não responderam aos pedidos de entrevista feitos pela reportagem. Em nota divulgada logo após uma tentativa de remoção dos acampados em 28 de dezembro, afirmaram que a ordem para interromper a ação fora dada “no intuito de manter a ordem e a segurança de todos os envolvidos”.
Assim como muitas das questões em torno do 8 de janeiro, o papel dos militares nos eventos ainda não está claro.
Não se sabe, por exemplo, porque o Gabinete de Segurança Institucional (GSI), órgão formado por militares e responsável pela segurança do Planalto, dispensou o reforço de 36 homens do Batalhão da Guarda Presidencial horas antes dos ataques – quando as áreas de inteligência do governo já sabiam da chegada de caravanas bolsonaristas a Brasília. As informações foram reveladas pelo jornal O Estado de São Paulo.
Meses após os ataques, em abril, imagens vazadas das câmeras de segurança do Palácio mostraram o general Gonçalves Dias, nomeado por Lula como ministro-chefe do GSI, ao lado de invasores no andar do gabinete presidencial no Planalto. Dias, que se tornaria o primeiro ministro do governo Lula a cair, e membros do GSI foram acusados de ajudar os invasores. Ele nega e afirma que estava evitando estragos e encaminhando os invasores para serem presos.
Também ainda precisa ser esclarecido porque o ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres – também ex-ministro da Justiça de Bolsonaro -, e o tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens de Bolsonaro, tinham posse de minutas de decretos para intervir no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e reverter o resultado das eleições.
Em depoimento, Torres afirmou que o documento seria descartável e sem viabilidade jurídica e que não teria sido ele a colocá-lo em uma pasta na estante de sua casa.
No caso de Mauro Cid, que está preso e deve depor na próxima semana na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro, a perícia feita pela Polícia Federal em seu aparelho telefônico revelou, além da minuta, conversas com teor golpista com outros oficiais do Exército.
Nesse sentido, uma das reflexões centrais sobre aquele dia gira em torno das Forças Armadas. Elas estão diretamente ligadas à imagem de Bolsonaro como candidato, fizeram parte de seu governo e são mais influentes na vida civil e política do Brasil do que na maioria dos países com democracias estáveis.
“O 8 de janeiro reflete, claramente, a presença de correntes antidemocráticas nas Forças Armadas, na Polícia Militar”, avalia Stuenkel.
“Aquilo mostra uma realidade que acho que alguns não queriam acreditar ou aceitar ao longo das últimas décadas – que uma parte das Forças Armadas e da polícia no Brasil não aceita o controle civil, que é um ingrediente fundamental de qualquer democracia”, completa.
O Brasil viveu sob uma ditadura militar por 21 anos após o golpe de Estado de 1964. Desde 1985, o país vem costurando a redemocratização – um processo que, tanto para Stuenkel quanto para Alonso, ainda é um trabalho em construção.
Stuenkel lembra que, desde a Constituinte, os movimentos para consolidar o controle civil sobre as Forças Armadas enfrentaram “muita resistência dos generais”.
Um desses momentos, ele exemplifica, foi a criação do Ministério da Defesa em 1999, à qual os militares se opuseram. O mesmo aconteceu com a Comissão da Verdade, formada em 2011 para apurar as graves violações aos direitos humanos cometidas durante a ditadura.
“Sempre há resistência por parte das Forças Armadas, se opondo a um processo natural que acontece em todas as democracias consolidadas. Quem manda na Força Armadas é um civil – o presidente, o ministro da Defesa”, acrescenta.
Para a pesquisadora Angela Alonso, ainda hoje o país convive com um “passivo que vem da ditadura”. Uma geração de militares, ela argumenta, que é remanescente daquele período e que carrega a ideia de que o melhor Estado é autoritário.
O próprio Bolsonaro, que começou a carreira militar em 1977, depois de se formar na Academia Militar das Agulhas Negras, faz parte desse grupo.
A questão das visões antidemocráticas, contudo, vai além dos oficiais mais antigos, argumenta a estudiosa.
“Há também uma nova geração formada nessa perspectiva. E acho isso existe no Exército, na polícia. E isso não é algo de solução nem rápida, nem simples”, completa.
Crédito, ANDRE BORGES/EPA-EFE/REX/Shutterstock
Militares em frente à Praça dos Cristais em 9 de janeiro de 2023
7. Apagão na segurança
No caso da polícia, as imagens de agentes supostamente tirando selfies, socializando com os invasores e permitindo-lhes a entrada nos prédios do governo inundaram as redes sociais no domingo de 8 de janeiro.
Logo após os ataques, a Corregedoria da Polícia Militar do DF instaurou pelo menos 6 inquéritos para apurar a conduta desses profissionais e a omissão de comandantes. No início de fevereiro, quatro PMs foram presos. A reportagem procurou a PMDF, que não respondeu ao pedido de entrevista.
A possível complacência de alguns agentes naquele dia é uma das falhas de segurança que permitiram que a Praça dos Três Poderes fosse invadida e que o patrimônio público fosse depredado.
Há também o fato de que o efetivo policial de plantão naquele dia – menos de 400 policiais militares e 30 policiais legislativos – era muito menor do que o mobilizado para a posse uma semana antes e insuficiente para fazer frente à quantidade de pessoas que desembarcou em Brasília para o ato marcado para 8 de janeiro.
Hoje sabe-se que as autoridades estavam cientes sobre a possibilidade de manifestações. Às 10h da manhã do dia 6 de janeiro, representantes de pelo menos 10 órgãos haviam se encontrado para planejar o esquema de segurança do domingo, como aponta o relatório produzido pela equipe de intervenção no DF.
A ata da reunião mostra que os comandantes da segurança tinham percepções diferentes sobre o risco de manifestações. Enquanto um diz que não havia consenso sobre o alcance das convocações, que havia inconsistência sobre o deslocamento de caravanas para Brasília, outros se mostram mais preocupados, inclusive com o risco de ações violentas isoladas.
Como Brasília é uma cidade com status especial, o Distrito Federal, o planejamento de segurança para manifestações é particular: envolve tanto órgãos ligados ao Ministério da Justiça quanto a Secretaria de Segurança Pública do DF, com competência estadual.
Naquele momento, o governador era Ibaneis Rocha e seu secretário de segurança, Anderson Torres, que assumiu o cargo em 2 de janeiro e logo depois viajou de férias aos Estados Unidos.
Antes de deixar o Brasil, o ex-ministro de Bolsonaro exonerou dois funcionários que ocupavam cargos centrais na estrutura de planejamento e coordenação da pasta: o Secretário Executivo de Segurança Pública e o Subsecretário de Inteligência. Eles foram substituídos, respectivamente, por Fernando de Sousa Oliveira e Marília Ferreira Alencar, as únicas pessoas que Torres, em depoimento, disse ter trazido de sua antiga equipe do Ministério da Justiça para ocupar funções de relevância na secretaria.
Ele foi preso em janeiro, por suposta omissão nos atos golpistas, solto em maio e segue sendo investigado no inquérito que investiga o 8 de janeiro. Na ocasião da soltura, seu advogado afirmou que ele iria “cooperar para que se esclareça o mais breve possível os fatos que levaram àqueles odiosos atos de 8 de janeiro”.
Da reunião do dia 6 de janeiro saiu um protocolo de ações integradas, documento que divide tarefas e atribuições a cada um dos órgãos responsáveis pela segurança no planejamento para manifestações.
“O protocolo não é só um papel onde você coloca as decisões que foram consensuadas, assina e pronto. Não é só criar um foguete, é preciso monitorá-lo, caso contrário ele não sai do chão”, destaca Tânia Pinc, pesquisadora associada do Laboratório de Análise da Violência da Uerj e major da reserva da PM de São Paulo, na qual trabalhou por 25 anos.
“É muito provável que grande parte do que estava previsto no protocolo não tenha sido colocado em prática. E isso é um problema no fluxo de comunicação”, acrescenta.
Ela explica que o planejamento das operações para manifestações geralmente acontece no médio escalão dos órgãos de segurança. E aqui há dois pontos-chave: a predição do risco, ou seja, entender o grau de ameaça que o evento representa, e o diálogo com o alto escalão para que se possa estabelecer uma comunicação entre diferentes agências envolvidas e coordenar as operações.
“É importante levar em consideração que tudo isso está acontecendo dentro de um contexto de transição de governo. Então, o que pode ter acontecido que acabou interrompendo ou descontinuando esse fluxo de comunicação?”
A reportagem levou essa pergunta ao ministro da Justiça, Flávio Dino, que estava trabalhando em Brasília no 8 de janeiro e chegou a seu gabinete, de frente para a Praça dos Três Poderes, por volta de três da tarde.
Ele diz que vinha dialogando sobre a possibilidade de manifestações com o governador Ibaneis Rocha e que, pela comunicação, acreditava que a preparação seria similar à que havia sido feita para a posse.
“Houve relatos do então secretário de Segurança em exercício no Distrito Federal ao governador, e o governador me passava no sentido de que tudo estava planejado, organizado, que não havia risco”, afirma.
Parte desse diálogo foi registrado pelo ministro em suas redes sociais, inclusive um ofício alertando o governador Ibaneis Rocha sobre “intensa movimentação de pessoas que, inconformadas com o resultado das Eleições 2022, estão organizando caravanas de ônibus para se deslocarem até Brasília”, postado em suas redes sociais na véspera da invasão.
O governador também se manifestou publicamente no sábado, e, em entrevista, disse apenas que a manifestação no domingo estaria liberada desde que fosse “pacífica”.
Depois de ficar 64 dias afastado, Ibaneis Rocha foi reconduzido ao cargo em março e é investigado no inquérito que apura as responsabilidades pelo que aconteceu naquele domingo.
A BBC News Brasil o procurou para uma entrevista, e um de seus advogados respondeu dizendo que ele não se manifestaria.
Crédito, Ueslei Marcelino/Reuters
Forças de segurança chegam à Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro
Saldos e ecos
O Brasil ainda vai falar sobre o 8 de janeiro e refletir sobre seu significado por muito tempo. As centenas de pessoas presas por suposto envolvimento com a invasão ainda aguardam julgamento, e a Polícia Federal segue investigando as eventuais negligências, falhas, omissões, erros e crimes que permitiram os ataques.
Instalada em maio, a CPMI do 8 de janeiro se estenderá pelo menos por seis meses e o PL das Fake News, colocado em pauta como uma resposta ao papel das redes sociais e da desinformação naquele dia, continua tramitando.
A questão do tensionamento entre o governo e os militares, por sua vez, parece longe de ser equacionada. Um sinal recente veio do desfecho de uma longa disputa entre o GSI e a Secretaria Extraordinária de Segurança Presidencial, formada majoritariamente por policiais federais. Frustrando a cúpula da PF – e aqueles que defendiam um comando civil da segurança presidencial -, Lula devolveu a coordenação ao GSI no fim do mês de junho.
Fonte: BBC
 Hoje Pernambuco Notícias a toda hora!
Hoje Pernambuco Notícias a toda hora!
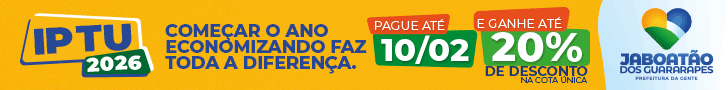




Você precisa fazer login para comentar.